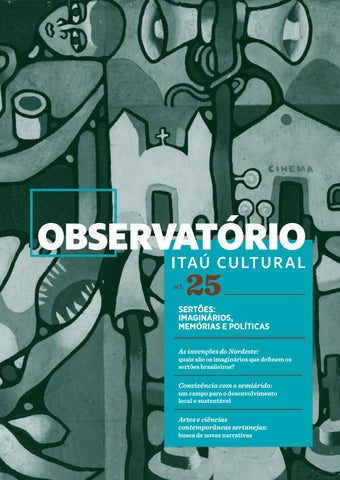ed.
25
SERTÕES: IMAGINÁRIOS, MEMÓRIAS E POLÍTICAS As invenções do Nordeste:
quais são os imaginários que definem os sertões brasileiros?
Convivência com o semiárido:
um campo para o desenvolvimento local e sustentável
Artes e ciências contemporâneas sertanejas: busca de novas narrativas
A Revista Observatório 25 trata dos sertões brasileiros. O tema figura como um manancial de mundos, de imaginários, de significados e da diversidade simbólicocultural e territorial que o definem. A edição traz um repertório contemporâneo desse sertão, tentando abordar como se entendem as representações e as identidades, que se manifestam nas artes do sertão, e como se dão as memórias e as resistências, trazendo reflexões sobre a política cultural e os modelos sustentáveis nela inseridos.
4
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
AOS LEITORES
5
Memória e Pesquisa / Itaú Cultural Revista Observatório Itaú Cultural - N. 25 (maio/novembro 2019). – São Paulo : Itaú Cultural, 2007-. Semestral
ISSN 1981-125X (versão impressa) ISSN 2447-7036 (versão on-line)
1. Política cultural. 2. Cultura sertaneja. 3. Arte sertaneja. 4. Sertão – memória. 5. Nordeste. 6. Cultura de resistência. 7. Música sertaneja. 8. Sertão - mulher. I. Itaú Cultural
expediente REVISTA OBSERVATÓRIO
Design Girafa Não Fala
Conselho editorial Alemberg Quindins Andreia Schinasi Carlos Costa Carlos Gomes Claudiney Ferreira Edson Natale Elder Patrick Galiana Brasil Glaucy Tudda Juliano Ferreira Kety Nassar Luciana Modé Marcel Fracassi Pedro Diniz Coelho de Souza Sofia Fan Tânia Rodrigues
Produção gráfica Lilia Góes
Edição Elder Patrick Preparação de textos Tatiana Diniz Projeto gráfico Marina Chevrand/ Serifaria
Ensaio artístico J. Cunha Ilustração André Toma Supervisão de revisão Polyana Lima Revisão Karina Hambra e Rachel Reis (terceirizadas)
NÚCLEO DE INOVAÇÃO/ OBSERVATÓRIO Gerência Marcos Cuzziol Coordenação Luciana Modé Produção Marcel Fracassi NÚCLEO DE COMUNICAÇÃO E RELACIONAMENTO Gerência Ana de Fátima Souza
EQUIPE ITAÚ CULTURAL
Coordenação editorial Carlos Costa
Presidente Milú Villela
Curadoria de imagens André Seiti
Diretor Eduardo Saron
Produção editorial Luciana Araripe
Superintendente administrativo Sérgio Miyazaki
aos leitores
E
sta edição da Revista Observatório Itaú Cultural tem como objeto um tema/mundo. Esse tema/mundo não sugere imprecisão na escolha do tema, mas, antes, que o tema evocado figura como um manancial de mundos, de imaginários, de repertórios de significados e da diversidade simbólico-cultural e territorial que define os sertões brasileiros. Significa assinalar que, em uma sociedade predominantemente rural até por volta dos anos 1960, as experiências simbólicas, afetivas e orais dos mundos rurais brasileiros constituem uma parte vibrante e recôndita do mosaico da nossa identidade nacional. São memórias lúdicas, gustativas e comunitárias que repousam nas sensibilidades de grupos, classes e coletividades mais amplas e que compõem os fluxos de fantasias de milhões de brasileiros – nordestinos, caipiras paulistas, gaúchos, goianos, mineiros e pantaneiros, entre outros. A densidade urbana e a consolidação de uma sociedade industrial, impessoal e
competitiva a partir da década de 1970 não diluíram esse repertório telúrico, sentimental e mágico que define o mosaico dos mundos rurais brasileiros. Antes, o contrário. Esses mundos se multiplicaram ainda mais, principalmente por meio da música popular, da televisão e do cinema. Há uma senha que os acessa, e, tal qual sugere o sociólogo Norbert Elias, essa senha diz respeito a um símbolo conceitual portador de um formidável acervo de significação. Esse símbolo conceitual diz respeito à palavra sertão. Poucas palavras na língua portuguesa falada e escrita no Brasil são tão prenhes de significados quanto “sertão”. Seu conteúdo é constitutivo do nosso complexo e sinuoso processo de nacionalização dos sentimentos e afetos (ELIAS, 1991). Há um naco vibrante de sertão em cada brasileiro e em cada brasileira. Não há oportunidade mais alvissareira e fecunda para se tratar do sertão do que no final da segunda década do século XXI. Por três razões fundamentais. A primeira
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
10
porque as políticas públicas que tencionam promover a cidadania cultural e o exercício dos direitos culturais têm nos sertões e nos mundos rurais brasileiros um grande desafio. Por um lado, essas políticas, levadas a termo por instituições nacionais, locais e organismos transnacionais (como a Unesco), contribuíram para a valorização dos saberes, dos fazeres e das crenças das comunidades rurais (indígenas, quilombolas etc.), assim como de determinadas coletividades, como artesãs, lavadeiras, cordelistas, cozinheiras, rezadeiras, vaqueiros, pescadores e agricultores, entre outras. Logo, os mundos rurais brasileiros, já ricos em seus repertórios expressivos, ganharam um novo reconhecimento, atestando, de modo institucional e jurídico, a sua diversidade e pluralidade de mundos – um patrimônio imaterial digno de promoção e valorização. Por outro lado, diante da escassez de recursos econômicos e da dificuldade de gestão política, promoção e valorização desses mundos, os governos locais e estaduais têm declinado da proteção e da promoção dos mundos e dos sertões que nos constituem, cedendo a pressões momentâneas e, logo, aos fechamentos dos mundos, reduzindo, assim, os horizontes de fruição da diversidade cultural brasileira. A segunda razão para se tratar dos sertões decorre da possibilidade do desenvolvimento local sustentável, seja por meio da valorização de saberes e fazeres rurais encarnados em produtos (artesanatos, culinária, gêneros agrícolas, aguardente e criações artísticas, entre muitos outros), seja por meio da difusão de tecnologias de valorização
desses artefatos que compõem esses mesmos mundos, como as Indicações Geográficas (IGs), que contribuem para a promoção do turismo rural e ambiental sustentável, para a busca de novas experiências e para a valorização da diversidade socioambiental e histórico-cultural. São essas tecnologias, combinadas a novos engajamentos empresariais e a ativismos culturais e ambientais, que permitem a emergência de modelos de negócios sustentáveis, capazes de gerar trabalho, emprego, renda e dignidade. Por fim, a terceira razão que torna essa escolha temática tanto mais relevante concerne à necessidade de recuperação e pesquisa acerca da gênese das memórias e das narrativas envolvendo as identidades regionais. É aqui que repousam as maiores tensões, resultado da construção de estigmas seculares, formas de silenciamento e dominação. Em um momento global de disputas pelas afirmações das memórias, as políticas de memórias – ancoradas na recuperação de traços do passado, na gênese dos significados e na desnaturalização de verdades aparentemente incontestes – tornam-se também uma nova arena de busca pelo reconhecimento e pela afirmação da diversidade regional, étnica, geracional, racial e de gênero. As políticas da memória se expressam, por exemplo, nas ações de valorização das memórias africanas e indígenas no Brasil e na América Latina, por meio da criação de museus específicos, espaços culturais, bibliotecas, rotas e destinos turísticos, centros de documentação, pesquisas, eventos acadêmicos.
11
AOS LEITORES
Essas três razões fazem da pesquisa, análise e reflexão acerca dos sertões brasileiros um tema tão candente e necessário. Para abarcar e explorar essa pluralidade de mundos, são necessários também recursos multifacetados. Precisamente por esse aspecto, os trabalhos aqui reunidos, artigos e entrevistas, são necessariamente multifacetados. São depoimentos e relatos que cobrem a diversidade dos nossos sertões, das suas distintas geografias sentimentais, das suas tensões e disputas, dos seus fluxos e refluxos, das atualizações e ressignificações contemporâneas, da mutação dos sentidos e das cristalizações no tempo, no espaço e nas memórias. Abrindo esta edição, logo em sua primeira parte, temos o artigo de Durval Muniz de Albuquerque Jr. Sobejamente conhecido, o historiador revela, com maestria e contundência, o processo de “rapto” do Nordeste e do sertão nordestino. Já o artigo da pesquisadora Maria Geralda explora outro sertão, aquele do Centro-Oeste, onde duas diversidades se combinam para revelar mundos simbólico-culturais e ambientais. Na imensidão dos biomas do Pantanal e do Cerrado também se encontram crenças, danças, rituais e formas de transmissão de memórias que fazem dos sertões brasileiros verdadeiros enigmas. Na sequência, o premiado trabalho de Cláudia Pereira Vasconcelos traz uma contribuição notável. Intitulado Ser-tão Baiano, nele a autora problematiza o processo de silenciamento e invisibilidade de uma identidade rural, interiorana e pastoril nos limites de um estado identificado com apenas uma porção
do seu território, a cidade de Salvador e a região do Recôncavo. A autora desnuda como um estado que tem 75% do seu território localizado no semiárido, com uma grande multiplicidade simbólico-cultural, tem sua identidade hegemonizada por apenas uma representação específica. Ainda na primeira parte, tem-se a contribuição de Henrique Fontes. Trata-se de um relato muito valioso. É formidável como o sucesso de um texto acadêmico (o livro A Invenção do Nordeste e Outras Artes, de autoria do historiador Durval Muniz de Albuquerque Jr.) tenha circulado e motivado a feitura de uma obra teatral que percorre o país. Fontes descreve como o livro resultou no espetáculo A Invenção do Nordeste, do Grupo Carmin. Explorando as veredas do sertão-Nordeste, logo em seguida figura o artigo de Adones Valença. Prodigioso artista popular sergipano, Adones foi descoberto pela exitosa política do projeto Rumos, criado e consolidado pelo Itaú Cultural. O seu relato confere ainda mais força simbólica ao sertão nordestino e tudo que o constitui – o cangaço, o isolamento territorial, as lendas, os coronéis, os vaqueiros e o messianismo religioso. Como desdobramento, João Júnior elege como objeto um dos fenômenos socioculturais mais densos e dramáticos da história do Brasil, o grande ciclo migratório vivido pelo numeroso contingente de sertanejos-nordestinos para São Paulo desde os anos 1950. O autor mobiliza o relato de migrantes cuja existência esteve marcada pela necessidade do deslocamento e da sobrevivência, pela saudade, pelas
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
12
memórias fraturadas e reconstruídas, pelos dilemas do pertencimento e pela paulatina adaptação ao desconhecido. Abrindo a segunda parte está o trabalho deste organizador. Devotado ao tema e à gênese de significado do sertão nordestino, indaga-me sobre como ocorreu o processo de justaposição de significado entre sertão e Nordeste e como foi possível que o sertão nordestino tenha monopolizado para si a ideia e o significado de sertão por excelência. Já Brian Henrique de Assis Fuentes Requena apresenta a pujança econômica e tecnológica da música sertaneja pop contemporânea, o gênero mais ouvido, cantado e consumido no Brasil nos últimos dez anos. Estamos diante de uma música sertaneja que tematiza pouco o mundo rural – tanto o paulista como o nordestino ou o gaúcho –, mas que construiu um novo repertório lírico poderoso que arregimenta multidões e confere novo tratamento ao clássico trio amor/paixão/sexo. Por sua vez, Maria Hirszman fornece insumos para se compreender os impactos imagéticos e iconográficos das artes visuais sobre a representação do sertão nordestino. Em seguida, Isabelly Moreira nos desvela uma criação/ resistência que tem feito um novo e encantador dueto na região do Pajeú. A autora demonstra a existência de uma poética do canto das mulheres sertanejas e se pergunta acerca das razões pelas quais repentistas e cantadores homens são tão conhecidos, enquanto a poesia das mulheres é quase desconhecida. A entrevista de Cacá Malaquias, realizada por Marcel Fracassi, é dotada de riqueza pela
trajetória que se apresenta, permitindo analisar a regularidade dos processos migratórios de muitos artistas dos sertões brasileiros. Abrindo a terceira parte, o relato realizado por Fernanda Castello Branco, intitulado Véio, um Ser(tão): Relato sobre uma Viagem Sertaneja, traz a riqueza da multiplicidade de mundos a que aludimos no início desta apresentação. Por meio de personagens-mundos como Véio, percebemos a multiplicidade dos mundos interiores cristalizados nos objetos e nas coisas materiais da existência. Já o artigo de Juliana Funari, intitulado No Encontro das Águas: Mulheres Camponesas do Sertão do Pajeú Transformando o Semiárido, demonstra como o desenvolvimento também pode ser organizacional e político. Por meio de sua pesquisa, a autora revela como a luta pelo direito à água na região do Sertão do Pajeú, em Pernambuco, também se combinou à luta pela igualdade de gênero, permitindo novas formas de organização e militância política em uma região tão secularmente marcada por assimetrias entre homens e mulheres. Por sua vez, Moacir Carvalho explora novos fenômenos que ocorrem nos sertões ou que evocam os sertões. Em O Sertão Não É Longe Daqui: Tradição e Migração das Almas entre Católicos e Evangélicos no Novo Semiárido, evidencia as mudanças religiosas nos sertões brasileiros, concentrando a análise na penetração do protestantismo brasileiro e nas tensões e disputas político-religiosas com o catolicismo popular rural brasileiro. O relato de Carlos Costa, intitulado Arco-Íris
13
AOS LEITORES
Sertanejo: a Luz da Obra de Elomar Decomposta em um Espectro de Cores, em torno da poética musical do cantor e trovador Elomar, é uma poderosa vereda mítica, pois mobiliza a criação de um artista contemporâneo criador e recriador do medievalismo do sertão do Nordeste brasileiro. Já a entrevista com a arqueóloga Niède Guidon revela uma face ainda mais longínqua, de uma longa duração histórica, geológica e arqueológica que remonta aos primeiros habitantes do território brasileiro das Américas. Niède traz, em suas vivências de pesquisadora e experiências de gestora, décadas de conhecimentos e propostas de desenvolvimento do Parque Nacional da Serra da Capivara. É uma personagem digna de reverência e muita inspiração. Abrindo a quarta e última parte está o trabalho de Juracy Marques, intitulado Ecologia e Política do Projeto de Transposição do Rio São Francisco. O autor destaca os interesses econômicos em torno de um bem cada vez mais escasso, a água, e as possibilidades de organização institucional para regular o capital e os seus interesses no processo de privatização desse recurso tão valioso. Em consonância com Juracy, Fernanda Cruz mobiliza com muita propriedade as relações complexas entre o processo de convivência com o semiárido e a luta feminista pela organização social em torno da agroecologia e da agricultura familiar, revelando o êxito formidável de instituições e movimentos sociais. Na sequência, o criativo e rigoroso trabalho de Janaina Cardoso de Mello, intitulado Turismo Cultural & Indicação Geográfica:
Piauí, Paraíba e Sergipe como Roteiros, revela as potencialidades do turismo cultural e os usos dos direitos autorais coletivos permitidos pelas Indicações Geográficas, cruzando aspectos como economia criativa, Indicações Geográficas e desenvolvimento regional/ local. Trata-se de uma agenda que pode ser convertida em políticas sistemáticas, dotadas de maior capilaridade e abrangência, capaz, portanto, de revelar novos mundos. No mesmo diapasão, Wanderson José Francisco Gomes descortina os impactos econômicos locais no município de Piranhas, em Alagoas, decorrentes da construção e consolidação de um destino turístico até recentemente muito pouco conhecido. Em seguida, temos o trabalho de Alexandre Barbalho. Um dos pesquisadores mais competentes no que tange à investigação das políticas culturais no Brasil, Barbalho realiza um elucidativo balanço histórico e regional sobre a temática. Já o relato de Alemberg Quindins, músico de formação popular, historiador autodidata e criador da Fundação Casa Grande – Memorial do Homem Kariri, é um exemplo categórico de um artista, produtor e gestor cultural que traz o sertão nordestino nos punhos e nas fábulas das quais é resultado. Trata-se de um fabulador e tradutor de mundos, que, de modo muito vibrante e criativo, organiza formas de criação e produção cultural sobre a mitologia nordestina, contribuindo diretamente para inseri-la nos fluxos digitais e nos mecanismos de globalização das imagens. Elder Patrick
7. Aos leitores Elder Patrick
1.
SERTÕES, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES
19. O rapto do sertão: a captura do conceito de sertão pelo discurso regionalista nordestino Durval Muniz de Albuquerque Júnior 34. Sertão, identidades e
representações no Centro-Oeste Maria Geralda de Almeida
44. Ser-tão baiano
Cláudia Pereira Vasconcelos
52. A invenção do Nordeste, descaminhos sísmicos de uma peça documental do Grupo Carmin Henrique Fontes 56. Aqui era o spa de Lampião
2.
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
67. O sertão nordestino como um monopólio de sentido Elder Patrick
88. O passado, o presente e o pretérito
imperfeito da música sertaneja Brian Henrique de Assis Fuentes Requena
96. O sertão que as artes ajudaram a criar Maria Hirszman 103. A mulher na poesia do Pajeú
Isabelly Moreira
109. Entrevista – O sertão instrumental de Cacá Malaquias Marcel Fracassi
Adones Valença
62. Portar(ia) silêncio: o ser-tão
migrante das portarias de edifícios da cidade de São Paulo João Júnior
Os textos/entrevistas desta revista não necessariamente refletem a opinião do Itaú Cultural.
sumário 3.
MEMÓRIAS E RESISTÊNCIAS DOS SERTÕES
119. Véio, um ser(tão): relato sobre uma viagem sertaneja Fernanda Castello Branco
125. No encontro das águas: mulheres camponesas do Sertão do Pajeú transformando o semiárido Juliana Funari 134. O sertão não é longe daqui: tradição e migração das almas entre católicos e evangélicos no novo semiárido Moacir Carvalho
4.
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS: EM BUSCA DA CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO
155. Ecologia e política do projeto de transposição do Rio São Francisco Juracy Marques
170. Agroecologia e convivência com o semiárido: quebrando paradigmas, transformando vidas Fernanda Cruz
184. Turismo cultural & indicação
geográfica: Piauí, Paraíba e Sergipe como roteiros Janaina Cardoso de Mello
140. Arco-íris sertanejo: a luz da
190. Do Velho Chico ao cangaço: a construção do destino turístico Piranhas no sertão alagoano Wanderson José Francisco Gomes
144. Entrevista – Ciência e
196. Estado e cultura no Nordeste: uma leitura das políticas culturais nordestinas Alexandre Barbalho
obra de Elomar decomposta em um espectro de cores Carlos Costa ancestralidade na Serra da Capivara Niède Guidon
210. Um dedo acima do chão: encanto e produção cultural como atalho para a sustentabilidade sertaneja Alemberg Quindins
José Antonio Cunha é artista plástico, designer gráfico, cenógrafo e figurinista. Dezoito anos no curso livre da Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia, participou de importantes bienais e exposições individuais e coletivas, entre elas The Refugee Project, no Museu de Arte Africana de Nova York, em 1997; e Exposição de Arte Contemporânea: as Portas do Mundo, na Europa e na África, em 2006.
Também é autor de inúmeras marcas e logotipos, ilustrações para livro e capas de discos, estamparias, ambientações de show e eventos. Seu trabalho se caracteriza pelo mergulho imaginário nas culturas afro-indígenas e popular nordestina, através da pesquisa, da assimilação e da transformação num universo próprio mítico e mágico, simbólico e intuitivo.
1.
SERTÕES, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES
19.
O RAPTO DO SERTÃO: A CAPTURA DO CONCEITO DE SERTÃO PELO DISCURSO REGIONALISTA NORDESTINO Durval Muniz de Albuquerque Júnior
34. SERTÃO, IDENTIDADES E
REPRESENTAÇÕES NO CENTRO-OESTE Maria Geralda de Almeida
44. SER-TÃO BAIANO
Cláudia Pereira Vasconcelos
52.
A INVENÇÃO DO NORDESTE, DESCAMINHOS SÍSMICOS DE UMA PEÇA DOCUMENTAL DO GRUPO CARMIN Henrique Fontes
56. AQUI ERA O SPA DE LAMPIÃO Adones Valença
62.
PORTAR(IA) SILÊNCIO: O SER-TÃO MIGRANTE DAS PORTARIAS DE EDIFÍCIOS DA CIDADE DE SÃO PAULO João Júnior
SERTÕES, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES
Durval Muniz de Albuquerque Júnior
O RAPTO DO SERTÃO:
A CAPTURA DO CONCEITO DE SERTÃO PELO DISCURSO REGIONALISTA NORDESTINO Durval Muniz de Albuquerque Júnior
Este texto trata das motivações históricas que fizeram com que a categoria sertão, que até o século XIX descrevia qualquer área do país que ficava para além do litoral e das cidades, fosse capturada paulatinamente pelo discurso regionalista nordestino, a ponto de o sertão ser oficialmente incorporado como uma sub-região do espaço nordestino. Aborda-se como, ao longo do final do século XIX e do século XX, o sertão foi sendo associado, pelos discursos literários, parlamentares, técnicos, jornalísticos e artísticos, a temas como a seca, a semiaridez, a caatinga, o cangaço, o messianismo e o coronelismo, raptando o sertão para o espaço nordestino.
A
té o início do século XX, o sertão era todas as terras que ficavam afastadas da costa, que ficavam distantes das aglomerações urbanas que se distribuíam por todo o litoral brasileiro. O sertão estava em todas as províncias, em todos os estados, terras que eram de todos, terras que eram de ninguém. O sertão era visto e dito na literatura, nos discursos parlamentares e no discurso jornalístico como o outro da civilização, do progresso, do adiantamento, da ilustração. Em O Sertanejo (1875) e Iracema (1865), de José de Alencar (ALENCAR, 1987, 1997), a terra habitada pelo sertanejo e/ou pelos indígenas era marcada por uma natureza luxuriante, ao mesmo tempo idílica e inóspita. Em Memórias de um Sargento de Milícias (1853), de Manuel Antônio de Almeida, era a terra da vida simples, rude, primitiva, sem artifícios, movida pelos sen-
timentos mais primários de um ser humano. O sertão seria marcado pela ausência do Estado, pelo poder discricionário dos mandões, dos valentes, dos destemidos, impérios das armas e do crime, da luta em defesa da honra, terra a exigir destemor e coragem. Na primeira metade do século XIX, o conceito de sertão ainda guarda os sentidos ligados a sua origem etimológica, pois sertão viria do latim sertãnu ou sertu, significando “bosque, do bosque”, ou da palavra latina desertãnu, significando “região deserta”. Há ainda quem a derive de uma palavra de origem angolana, mulcetão, que significava “terra entre terras”, “local distante do mar”, “lugar interior”. A palavra surge grafada na documentação do século XV de várias maneiras: sartão, sertaão, ssertaão, sertão (CUNHA, 2010). Ela já aparece na Crônica do Descobrimento e Conquista de Guiné, de Gomes Eanes
21
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
22
de Zurara, (ZURARA, 1841), provavelmente composta entre 1452 e 1453, designando as terras que ficavam para o interior do continente africano, inacessíveis aos navegadores portugueses. Desde o primeiro dicionário da língua portuguesa, composto pelo padre Rafael Bluteau e publicado em 1728, em que a palavra tem como definição “o interior, o coração das terras, opõe-se ao marítimo e à costa”, o sertão “toma-se por mato longe da costa”, “região agreste, distante das povoações ou das terras cultivadas” (BLUTEAU, 1728). Mas, para entendermos o processo de captura do conceito de sertão pelo discurso regionalista nordestino, os primeiros acontecimentos relevantes ocorrem na segunda metade do século XIX, mais especificamente a partir do final da década de 1870. Entre 1877 e 1879, ocorreu mais uma das secas periódicas que acontecem na região hoje conhecida como semiárido nordestino, e que já se manifestavam desde o início da colonização. Embora do ponto de vista natural ela nada tivesse de excepcional em relação a episódios anteriores do mesmo fenômeno, o contexto econômico, político e cultural em que acontece a elevou à condição de “a grande seca de setenta”. Ainda denominada “seca do Ceará”, província que era tida como o espaço privilegiado de ocorrência das secas, dá-se em um momento de debilidade econômica das chamadas províncias do Norte. A produção açucareira, prejudicada por sua obsolescência tecnológica, não conseguia fazer frente à concorrência do açúcar antilhano e àquele produzido a partir da beterraba, perdendo parcela do mercado internacional e tendo que concorrer com a crescente produção açucareira das províncias do Sul.
A produção algodoeira, que havia se expandido durante a década anterior em razão da guerra civil norte-americana, que retirou do mercado a produção do sul daquele país, vê-se às voltas com o retorno do concorrente e com os efeitos da estiagem. A expansão da economia algodoeira havia levado a migração para o interior de uma parcela considerável da população, que se vê obrigada a migrar, em precárias condições, para o litoral por causa da seca, dando origem à figura do retirante, que se tornará um personagem constante na produção cultural nortista e, posteriormente, na nordestina. Embora em termos relativos essa seca tenha levado à morte de proporcionalmente uma porcentagem menor da população (cerca de 18%, enquanto secas anteriores haviam matado até 25% da população), em termos absolutos, ela matou um número estarrecedor de pessoas. Apanhadas em um momento de fragilidade econômica e de declínio de poder político, as elites nortistas não têm como evitar, como ocorrera em secas anteriores, que a estiagem as atinja diretamente. É por esse motivo que a seca de 1877-1879 entrará para a memória como a “grande seca” e dará origem ao discurso da seca, tornando essa temática central no emergente discurso regionalista do Norte e base para a montagem do que passou a se chamar de indústria da seca, ou seja, o uso desse fenômeno como argumento e justificativa para a reivindicação de recursos, obras públicas, cargos públicos e criação de instituições que vêm em benefício dos interesses das elites do espaço da seca, que tende a se ampliar já com a ocorrência do fenômeno, uma vez que a seca deixa de ser do Ceará e passa a ser do Norte (ALBUQUERQUE JR., 1988).
SERTÕES, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES
Durval Muniz de Albuquerque Júnior
É durante a ocorrência desse fenômeno para que o Governo Central se voltasse com que se dá uma das primeiras demonstrações maior atenção para esse espaço do país. Emexplícitas da existência de um discurso re- bora sendo elites da Zona da Mata, elas não gionalista que começava a emergir nas cha- deixam de olhar para o sertão e dar visibilimadas províncias do Norte. Alijadas pelo dade ao que seria o seu problema. Império do convite feito aos grupos agrários A seca de 1877-1879 é a primeira a ter para um congresso agrícola a se realizar no repercussão nacional, o que dá a ela também Rio de Janeiro, visando debater os angus- a sua especificidade. Tendo ocorrido após tiosos problemas da lavoura cafeeira – o fim um período de cerca de 25 anos da última do tráfico de escravos e a consequente imi- ocorrência do fenômeno, a seca de setenta nência do fim da escravidão, acarretando a encontra uma imprensa já bastante presente chamada falta de braços para em todo o território nacional. a lavoura, a falta de crédito, a A seca de 1877-1879 Ela é a primeira a levar para questão cambial etc. –, as eli- entrará para a memória as páginas dos jornais as narcomo a “grande seca” e tes açucareiras do Norte do rativas chocantes de pessoas Império realizam, em 1878, dará origem ao discurso vítimas da fome extrema, da da seca, tornando essa o Congresso Agrícola do Remiséria absoluta, morrendo temática central no cife, no qual a denúncia da pelas estradas e pelas ruas emergente discurso política discriminatória do regionalista do Norte e de inanição, desidratação e Império em relação à agri- base para a montagem do vítimas das inúmeras doencultura nortista ganhou foros que passou a se chamar ças que se espalhavam nos de separatismo em algumas de indústria da seca. ajuntamentos dos retirantes. falas. Tendo sido palco, desde Ela também conta com o suro início do século XIX, de movimentos que gimento e desenvolvimento da tecnologia iam da defesa do federalismo até a defesa fotográfica, que permitirá que as elites letrada secessão em relação ao restante do país, das de outras partes do país vejam, pela priPernambuco era mais uma vez palco de um meira vez, as imagens chocantes dos corpos movimento de contestação à centralização cadavéricos de crianças filhas dos retirantes. monárquica (MELLO, 1999). Esboça-se aí O jornalista negro José do Patrocínio deuma solidariedade entre as elites dirigentes sempenhou um importante papel na transdas províncias do Norte que será fundamen- formação da seca do Ceará em uma temática tal para o surgimento, no início do século nacional, pela comoção que suas reportagens XX, do recorte regional Nordeste (ALBU- para o jornal Gazeta de Notícias do Rio de JaQUERQUE JR., 2011). Até o momento em neiro provocaram na capital do país. Enviado que ocorre, o Congresso Agrícola do Recife, ao Ceará como correspondente para cobrir os embora dominado pelos interesses das elites acontecimentos que lá se passavam, acomaçucareiras, de uma área não sujeita às secas panhado de um fotógrafo, Patrocínio escreperiódicas, não deixa de tratar do chamado ve crônicas marcadas por sua solidariedade problema da seca e tomá-lo como argumento com os retirantes e pela denúncia contra os
23
24
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
poderes públicos, que, além de não socorre- ocorrências de 1877-1879. Além de Patrocírem a população, passaram a se aproveitar nio, vários escritores vão dedicar ao fenômedos socorros públicos e privados que come- no da seca do Norte alguns de seus escritos. çaram a chegar, vindos do governo imperial e Seguindo o chamamento feito ainda em 1876 da caridade de particulares em todo o país. As pelo escritor cearense Franklin Távora para reportagens que enviou, acompanhadas das que fosse constituída uma literatura do Norte fotos extremamente chocantes de corpos ca- (TÁVORA, 1981), autores como Rodolfo Theódavéricos, fizeram a seca do Norte surgir como filo e Domingos Olímpio, e livros como A Fome um problema a ser enfrentado nacionalmente, (1890) e Luzia-Homem (1903) foram dando e não apenas pelas províncias figurabilidade às secas, a seus que eram por ela afetadas. Ao As teorias raciológicas se personagens e ao seu espaço: transformar o que presenciou imbricavam com as teorias as terras sertanejas, o sertão em um romance, que nomeou geodeterministas para (TEÓFILO, 2011; OLÍMPIO, Os Retirantes (PATROCÍNIO, explicar o grande evento 1998; ALBUQUERQUE JR., ocorrido nos sertões 1973) e publicou em 1879, ano 2017). Mas, sem dúvida, o em que teve fim o fenômeno, baianos, numa narrativa grande monumento literário forjada em poderosas dando visibilidade a esse perque definitivamente introduz imagens que se torna sonagem e definindo seu perfil a temática do sertão, inclusium arquivo inesgotável em grande medida, Patrocínio de tropos, temas e ve na discussão da questão da vai colaborar para a emer- enunciados acerca da nacionalidade, da brasilidade, gência da associação entre o paisagem e do da identidade nacional, foi esconceito de sertão e o espaço homem sertanejo. crito e publicado nos primeide ocorrência das secas. Pauros anos do século XX pelo latinamente, estabelece-se a sinonímia entre jornalista, escritor e militar paulista Euclisertão, semiárido e ocorrência das secas, terra des da Cunha. Fruto de sua experiência como dos retirantes. correspondente do jornal O Estado de S. Paulo Mas não é apenas José do Patrocínio que na cobertura da Guerra de Canudos, Euclides contribui para iniciar esse processo de asso- fez de sua vivência do sertão baiano e de seu ciação entre o espaço de ocorrência das secas contato com os sertanejos – que resistiram, e o conceito de sertão. A chamada grande seca quase até o último homem, na defesa do seu de 1877-1879 foi objeto de atenção também arraial contra as forças do governo republicados discursos parlamentares, governamen- no – uma narrativa que se pretendia analítica tais, técnicos e até religiosos, em que quase e interpretativa do fenômeno do fanatismo sempre figurava essa remissão ao espaço religioso, utilizando para isso as mais modersertanejo como aquele em que estavam se nas teorias de interpretação do social de base dando os acontecimentos ligados à estiagem. positivista, naturalista e social-darwinista. Entre esses discursos, destacam-se o da cha- As teorias raciológicas se imbricavam com as mada literatura das secas, resultado justa- teorias geodeterministas para explicar o granmente da emergência dessa temática com as de evento ocorrido nos sertões baianos, numa
SERTÕES, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES
narrativa forjada em poderosas imagens que se torna um arquivo inesgotável de tropos, temas e enunciados acerca da paisagem e do homem sertanejo. O livro Os Sertões (1902) torna-se uma fonte permanente de imagens e textos, sempre consultada quando se quiser dizer e fazer ver o sertão. Os livros de estreia de grandes nomes do que será a literatura nordestina e o chamado romance de 30 tiveram no livro vingador de Euclides da Cunha a sua inspiração (CUNHA, 1902). É possível encontrar as imagens euclidianas tanto em A Bagaceira (1928), de José Américo de Almeida, quanto em O Quinze (1930), de Rachel de Queiroz, obras que serão muito importantes nesse processo de captura do sertão pelo regionalismo nordestino (ALMEIDA, 1978; QUEIROZ, 2010). No entanto, no início do século XX, o sertão ainda é tema de escrita e preocupação por parte de autores de outras áreas do país. Em São Paulo, notadamente, onde a conquista dos sertões pelo bandeirantismo serviu de narrativa mestra na construção da identidade regional, com a destacada participação de autores ligados ao Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, fundado em 1894, ainda é muito presente a temática sertaneja, ao lado da temática do caipira, quase sempre um personagem destacado nas narrativas satíricas ou humorísticas. Outro estado do país em que a temática dos sertões continua tendo uma presença marcante é Minas Gerais. Sua condição de território sem acesso ao mar e o fato de seu desenvolvimento histórico ter se dado com a procura e exploração das minas por parte de expedições de bandeirantes e entradistas tornam a temática sertaneja muito presente em sua cultura artística e literária.
Durval Muniz de Albuquerque Júnior
Não é mera coincidência que os sertões das Gerais e seus moradores tenham inspirado a segunda obra-prima sobre o espaço dos sertões, o romance do médico, diplomata e escritor mineiro João Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas (1956) (ROSA, 1967). Mas, antes do monumento literário escrito por Rosa, outros escritores cariocas, mineiros e paulistas já haviam escrito sobre a temática sertaneja. Ainda em 1872, o carioca Visconde de Taunay publicou Inocência, um romance de temática sertaneja, que reforçava a imagem de rusticidade e, ao mesmo tempo, de ambiente regido por estritos códigos de moralidade e honra masculinas e femininas. É dele também uma obra publicada postumamente, em 1923, intitulada Visões do Sertão (TAUNAY, 1981 e 1923). Em 1898, o jornalista, jurista e escritor mineiro Afonso Arinos de Melo Franco publicou o conjunto de contos intitulado Pelo Sertão (ARINOS, 1981), fazendo desse espaço o lugar da naturalidade, da autenticidade, mas também do inusitado, do sobrenatural e do místico. Assim como acontecerá com o sertão figurado pelas narrativas nordestinas, marcado pela violência do cangaço, pelo poder discricionário, pela defesa de um estrito código de honra e virilidade pelos coronéis, pelo misticismo dos beatos, essa produção em torno do sertão, que vem de autores de outros espaços do país, traz sempre consorciadas a fé e a violência, o poder sem peias e a coragem pessoal. O rapto da categoria sertão pelo discurso regionalista nordestino foi antecedido e possibilitado por discursos e práticas institucionais que antecederam a própria invenção do Nordeste. Ainda se utilizando da categoria
25
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
26
Norte para descrever a parte setentrional do país, esses discursos prepararam o terreno para a associação entre sertão e semiárido nordestino, na medida em que o descreveram e o definiram a partir de temas, eventos e personagens típicos daquele espaço. Além da temática da seca, que seria responsável por dar ao sertão certa paisagem – marcada pela terra gretada, pela caatinga seca e esgalhada, por um sol abrasador, uma luz branca e intensa, pela presença das cactáceas –, esses discursos associarão o sertão a três outras temáticas: o coronelismo, com
seu complementar jaguncismo, o cangaço e o messianismo. As obras de autores como João do Norte (codinome de Gustavo Barroso), Leonardo Mota, Catulo da Paixão Cearense e Ildefonso Albano foram fundamentais para ir se criando uma dada forma de ver e dizer o sertão que é incorporada pelo discurso regionalista nordestino, que, curiosamente, teve a cidade do Recife, a Zona da Mata e as elites ligadas à atividade açucareira como centro de articulação e difusão (BARROSO, 2006, 1917, 1949, 1979; MOTA, 1961, 1962, 1965; CEARENSE,
SERTÕES, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES
1918, 194-; ALBANO, 1969). Obras como Terra do Sol (1912), Heróis e Bandidos (1917), Ao Som da Viola (1921), Praias e Várzeas: Alma Sertaneja (1923), de João do Norte (Gustavo Barroso), que carregava a identidade nortista até no pseudônimo; Cantadores: Poesia e Linguagem do Sertão Cearense (1921), Violeiros do Norte (1925), Sertão Alegre (1928), de Leonardo Mota; Meu Sertão (1918), Alma do Sertão (194-), de Catulo da Paixão Cearense; e Jeca Tatu e Mané Xiquexique (1919), de Ildefonso Albano, dão ao sertão o que seria a sua alma, plasmada nas produções culturais,
Durval Muniz de Albuquerque Júnior
literárias e poéticas de suas gentes, nas suas formas de ser, em seus comportamentos e gestos, considerados estranhos e distintos em relação às gentes do litoral e das cidades. Essas obras vão contribuir para definir outro elemento que particularizaria e daria perfil distinto ao sertão que será posteriormente chamado de nordestino, ou seja, esse sertão que, além de uma paisagem, de uma natureza distinta, da qual as secas e a caatinga seriam os principais elementos definidores, possuiria uma cultura própria. Os sertões do Norte e, em seguida, os sertões
27
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
28
nordestinos representariam um arquivo, uma reserva de expressões culturais consideradas autenticamente nacionais, manifestações culturais não maculadas e deturpadas pelas influências externas, do estrangeiro ou da cidade. Notadamente as camadas populares e suas matérias e formas de expressão culturais, definidas por esses autores como sendo folclóricas, significariam um repositório de inspiração para a produção de uma cultura, de uma literatura e de uma arte nacionais. Esse sertanismo, que depois é rotulado de pré-modernista, traz a marca de um olhar, ao mesmo tempo, de superioridade e distância, de condescendência, curiosidade e empatia de letrados da cidade em relação às produções culturais, aos modos de vida das gentes simples do sertão. Uma diferença que aparece na própria narrativa, entre a fala erudita e competente do narrador e a fala deficitária do narrado, muitas vezes tornando-se motivo de riso. O sertão é também esse lugar da distância cultural, o espaço do anacronismo, de um passado, de tradições, de costumes que atravessam os tempos, infensos a mudanças. O sertão é uma distância no tempo e no espaço (ALBUQUERQUE JR., 2013). A produção escrita nascida do trabalho de técnicos ligados à Inspetoria Federal de Obras contra as Secas (Ifocs) também em muito contribui para a afirmação inicial da singularidade do sertão nordestino e, posteriormente, para que ele apareça como sendo o sertão, relegando as outras partes do país a terem apenas interior e não mais sertões. É no documento de criação da Ifocs, em 1919, que aparece pela primeira vez em um documento oficial a designação “Nordeste” para dar conta de definir a área de atuação
do órgão federal que estava sendo criado. Embora fosse um recorte meramente territorial, não se constituindo ainda um conceito que designasse uma identidade regional, o termo Nordeste passa a ser associado, nesse discurso técnico, insistentemente às problemáticas das secas e às obras e medidas que deveriam ser levadas a efeito pelo poder público para solucionar esse problema (ALBUQUERQUE JR., 1988). Esse fato é motivo de queixa por parte de Gilberto Freyre quando escreve o livro Nordeste, publicado em 1937, texto que se constitui na certidão definitiva de nascimento e existência dessa região como um todo à parte no país (FREYRE, 1985). Ao iniciar o texto, Freyre constata, com certa contrariedade, que o conceito de Nordeste, que a palavra Nordeste seria uma “palavra desfigurada pela expressão ‘obras do Nordeste’, que quer dizer: ‘obras contra as secas’”. E prossegue dizendo que a palavra Nordeste “quase não sugere senão a seca”. Ou seja, de saída, o autor constata a sinonímia entre Nordeste e secas, estabelecida pela atuação da Ifocs, e a repercussão, inclusive em termos de escândalos de corrupção, das chamadas “obras contra as secas”, expressão popularizada ainda no governo Epitácio Pessoa, primeira gestão de atuação desse órgão. Mas ele prossegue, dizendo que a palavra Nordeste remetia também “aos sertões de areia seca rangendo debaixo dos pés. Os sertões de paisagens duras doendo nos olhos” (FREYRE, 1985, p. 5). Ou seja, além da sinonímia entre Nordeste e seca, havia já se estabelecido, nesse final dos anos 1930, uma sinonímia entre Nordeste e sertão, entre Nordeste e dados sertões, entre Nordeste e dada imagem e paisagem do
SERTÕES, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES
Durval Muniz de Albuquerque Júnior
sertão, aquele marcado pelo seco, pelo duro, verdadeiro arquivo audiovisual vinculanpelo anguloso, pelo pouco, pelo menos, pelo do os conceitos de Nordeste e de sertão. Os espinhoso, como aparecerá na obra-prima do lamentos de Freyre no livro Nordeste são o escritor alagoano Graciliano Ramos, publica- sinal eloquente de que, embora o Nordeste da um ano após o livro de Freyre, Vidas Secas como região tenha seu epicentro de elabo(1938) (RAMOS, 1984). Essa produção de ração em Pernambuco, em Recife e nas elium discurso técnico terá continuidade com tes ligadas à produção açucareira – como órgãos como o Departamento Nacional de ele procurará plasmar no final da década de Obras contra as Secas (DNOCS), surgido da 1970, com a criação do Museu do Homem reformulação da Ifocs em 1945, o Banco do do Nordeste, da Fundação Joaquim NabuNordeste, fundado em 1952, e a Superinten- co, fruto de sua atuação como parlamentar dência do Desenvolvimento na legislatura de 1946-1950 do Nordeste (Sudene), cria- Notadamente as camadas –, foi a produção intelectual da em 1959. O Boletim da populares e suas matérias e artística ligada ao sertão Inspetoria Federal de Obras e formas de expressão e, mais particularmente, ao contra as Secas se consti- culturais, definidas por Ceará que terminou por preesses autores como sendo tuiu no veículo privilegiado valecer na hora de definir o folclóricas, significariam um desse discurso técnico, que que é o Nordeste. repositório de inspiração contou com os trabalhos e a para a produção de uma Ora, sendo desde o colaboração de engenheiros cultura, de uma literatura e século XIX o espaço de agrônomos, veterinários, de uma arte nacionais. ocorrência da seca por exzoólogos, botânicos, geólocelência, sendo o estado gos, como Rodolpho Theodor von Ihering, nordestino em que até o litoral se encontra José Augusto Trindade, José Guimarães Du- praticamente no sertão, a prevalência do que, Alberto Löfgren, Paulo de Brito Guerra, imaginário criado pela produção cultural Teófilo Pacheco Leão, Inácio Ellery Barreira cearense contribuiu decisivamente para e tantos outros. Eles vão definir tecnicamen- estabelecer a sinonímia entre Nordeste te o que politicamente ficaria definido como e sertão, sertão e semiaridez. O próprio sendo o Polígono das Secas, ou seja, a área Freyre colaborou enormemente para isso afetada por esse fenômeno meteorológico, ao patrocinar a publicação – no mesmo ano objeto de disputa e interesse, notadamente que deu a lume o seu próprio livro sobre o após a criação da Sudene, que tomaria essa Nordeste, na coleção Documentos Brasidemarcação como sua área de atuação, em- leiros, da editora José Olympio, da qual era bora fosse um órgão destinado ao planeja- diretor na oportunidade – da obra do jurismento do desenvolvimento do Nordeste. ta e sociólogo cearense Djacir Menezes O Esse rapto do sertão pelo regionalis- Outro Nordeste (1937). Essa obra, única na mo nordestino não teria sido possível sem trajetória de um estudioso do pensamena contribuição de uma poderosa produção to de Hegel, articula todas as temáticas literária, artística, sem a produção de um que configuram o imaginário em torno do
29
30
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
sertão nordestino: as secas, as retiradas, o da música. Em toda a produção musical de coronelismo, as querelas de sangue entre Luiz Gonzaga, cantor que atinge sucesso famílias, a violenta conquista dos sertões nacional nos anos 1940, a sinonímia enque teria dado origem a uma psicologia que tre Nordeste e sertão se faz presente. Sua apareceria representada em personagens música, criada em grande medida para um como o jagunço, o cangaceiro e o beato. As- público composto de migrantes nordestisim como acontecerá mais tarde na filmo- nos desterrados em terras do Sul, remete grafia de Glauber Rocha, Menezes toma a sempre à saudade de um sertão idílico, a um polaridade maniqueísta entre cangaceiros pé de serra onde se deixou ficar o coração, e fanáticos, dicotomia que será posterior- um sertão de mulheres sérias e homens tramente retomada, em 1963, por um conter- balhadores, um sertão distante das terras civilizadas, um sertão em râneo de Djacir, um militante que ainda se anda a pé (SÁ, do Partido Comunista, para Os clássicos glauberianos Deus e o Diabo na Terra do 2012). Gonzaga produz explicar os dilemas da transSol (1964) e O Dragão da com gêneros e ritmos como formação social no sertão o baião, o xote e o xaxado (FACÓ, 1976), para figurar Maldade contra o Santo Guerreiro (1969) fazem uma sonoridade distinta e as polaridades extremadas do sertão nordestino o específica para esse sertão, da psique do sertanejo, que espaço onde se travam as diferente da sonoridade da podia ir da fé mais irrestrita lutas ontológicas da vida tradicional música sertaà violência mais sanguinária. humana e da própria vida O que se desenha é um sertão social entre o bem e o mal, neja ou caipira, que marca a produção sonora que se e um sertanejo incapazes de a reação e a revolução. remete a outros sertões. racionalidade, tomados pelas paixões e pela crença mais primitiva. Não houve, antes ou depois dele, nenhum Faltava ao sertão educação e racionalida- cantor que, assumindo uma dada identidade de. Ainda hoje, os nordestinos, principal- regional para seu trabalho, tivesse tamanha mente os sertanejos, são vistos como pouco repercussão, não só quanto à recepção, mas racionais em suas decisões (notadamente no próprio campo da música popular brasipolíticas), como afeitos ao messianismo e leira. É somente em anos recentes que uma música sertaneja comercial reivindicando ao populismo. Esse sequestro do conceito de ser- um sertanejo sem sertão, um sertanejo tão pela Região Nordeste é inseparável da desterritorializado, sem fronteiras nítidas qualidade e do impacto no imaginário e na e definidas, tem ganhado notoriedade nos cultura brasileiros das obras no campo da meios de comunicação (ALONSO, 2015). literatura e da ensaística que já comenta- Quem dele se aproximou, como Jackson do mos até aqui, bem como do discurso técnico Pandeiro, também tinha a Região Nordeste e político parlamentar, mas sem dúvida ele e o sertão nordestino como referência idenfoi favorecido por obras no campo das artes titária de sua obra. A música de Gonzaga foi plásticas e visuais, do cinema, do teatro e uma das referências da geração tropicalista,
SERTÕES, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES
no final dos anos 1960, bem como da chamada geração Nordeste, um conjunto de grandes nomes de compositores e cantores vindos da região (Zé Ramalho, Fagner, Geraldo Azevedo, Ednardo, Elba Ramalho), em cujas obras a sinonímia entre Nordeste e sertão já aparece estabelecida e trabalhada com grande sofisticação poética e sonora. Nenhum dos outros sertões do país pôde contar com a força plástica e visual de uma série de quadros como Retirantes, de Candido Portinari, as obras de maior repercussão do nosso mais festejado pintor. A força dessa visualidade só é comparável à dos filmes do Cinema Novo, que fizeram do sertão e do Nordeste suas espacialidades preferidas. Mesmo dois grandes clássicos do cinema brasileiro que antecederam o Cinema Novo, como O Cangaceiro (1953), uma produção da Companhia Vera Cruz com direção do cineasta Lima Barreto, e O Pagador de Promessas, filme dirigido por Anselmo Duarte e ganhador da Palma de Ouro no festival de Cannes, em 1962, estavam relacionados a esse imaginário do sertão e sua vinculação com o Nordeste. Os clássicos glauberianos Deus e o Diabo na Terra do Sol (1964) e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro (1969) fazem do sertão nordestino o espaço onde se travam as lutas ontológicas da vida humana e da própria vida social entre o bem e o mal, a reação e a revolução (ROCHA, 1965, 1985). As forças da morte enfrentam as forças da vida numa dialética bastante maniqueísta. A estética da fome tem o sertão nordestino como seu protótipo (ROCHA, 1981). Esses filmes se alimentaram de toda a riqueza imagética de obras literárias como
Durval Muniz de Albuquerque Júnior
Pedra Bonita (1938) e Cangaceiros (1953), de José Lins do Rêgo, cuja obra, como a de Freyre, privilegia a temática do engenho e da cana na hora de pensar o Nordeste, mas termina por se render à temática do sertão, pela força que esta adquire na definição da região (RÊGO, 1979, 1973). O mesmo ocorre com Jorge Amado, que, embora tenha na zona da produção do cacau e no Recôncavo Baiano o centro espacial de sua produção, não deixa de dedicar um livro ao sertão, Seara Vermelha (1946) (AMADO, 1983). O sertão é o espaço privilegiado na definição do Nordeste em autores do quilate de um Luís da Câmara Cascudo, embora este fosse um citadino habitante do litoral, de um João Cabral de Melo Neto e de um Ariano Suassuna e seu movimento armorial, produzindo um sertão medievalizado, um sertão construído por emblemas, mitos, lendas, narrado como romance de cavalaria, como auto de Natal. O poema “Morte e Vida Severina”, de João Cabral de Melo Neto, é um dos mais conhecidos e reproduzidos da poética brasileira, tendo se tornado um premiado programa de televisão, com direção de Walter Avancini e música de Chico Buarque de Hollanda, no ar em rede nacional em 1981. Tanto a produção de Câmara Cascudo como a de Ariano Suassuna também se tornaram filmes e séries televisivas de sucesso, realimentando e reafirmando no imaginário nacional o rapto do espaço sertanejo pelo Nordeste e pelo discurso regionalista dessa região (MELO NETO, 2007; CASCUDO, 1984; SUASSUNA, 1971, 1977) . Ao longo do século XX, principalmente após a invenção do Nordeste, os sertões foram sendo nordestinizados, a ponto de
31
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
32
obras que tratavam desse espaço antes da existência do Nordeste, como Os Sertões, de Euclides da Cunha, ou tratavam de outros sertões, como Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa, serem consideradas algumas vezes, de forma equivocada, como obras sobre o Nordeste. Mas o passo definitivo, que oficializa e materializa essa captura do sertão pelo Nordeste, foi a subdivisão da região em quatro sub-regiões, sendo uma delas o sertão. Essa subdivisão, feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), se deu em 1969. Ao lado da Zona da Mata, do agreste e do meio-norte, o sertão passou a figurar oficialmente como uma parte da Região Nordeste, sendo, aliás, a sua maior parte, correspondendo ao que também se denomina de semiárido, área de ocorrência privilegiada das secas periódicas. Da mesma forma que, em 1945, ao realizar a primeira divisão regional do país, o IBGE reconheceu uma situação de fato já existente, incorporando o Nordeste como uma das cinco regiões do país, sendo as demais o Norte, o Centro-Oeste, o Leste e o Sul, meras convenções político-administrativas que não tinham amparo nas identidades regionais vividas e incorporadas pela população. Dessas cinco regiões, somente o Nordeste era efetivamente incorporado pelas pessoas em suas identidades. Podemos dizer que o mesmo ocorre com o sertão. Ao definir o sertão como uma subárea do Nordeste, o IBGE deu reconhecimento oficial a uma situação de fato, situação essa fruto desse longo processo histórico que tentamos tratar em suas linhas gerais neste artigo. Tendo um lastro econômico de longa
duração, com a diferenciação desde a colônia da área açucareira, da área dedicada à pecuária e depois ao plantio do algodão, tendo um lastro político que se materializou, ao longo do tempo, em disputas e querelas entre as elites do litoral e do interior, essa distinção de sertão e litoral estruturou toda uma produção cultural e intelectual, que terminou por fazer do sertão e do ser sertanejo um atributo exclusivo das gentes nascidas no interior do Nordeste. Quando Ulysses Lins de Albuquerque escreve um livro como Um Sertanejo e o Sertão (1957), está expressando o arraigo subjetivo a uma identidade que já não encontramos em outras áreas do país (ALBUQUERQUE, 2012). Nas demais regiões brasileiras, as gentes nascidas longe da costa tornaram-se interioranas, matutas, caipiras, capioas, bugres, mas não mais sertanejas. Essa designação, marcada pelas sagas dolorosas e repetidas das secas, pelas retiradas, pelos êxodos, pelas migrações, pelos saques de feiras e armazéns públicos, pelos campos de concentração, pelos abarracamentos, pelas frentes de emergência, pelas obras contra as secas, pelos socorros públicos, pela indústria da seca, pela viagem dramática em paus de arara, vai se tornando indesejável para grande parte das pessoas que vivem longe das pancadas do mar, como diria Câmara Cascudo. Ser sertanejo foi se tornando, ao longo do século XX, sinônimo de ser nordestino e de viver o drama das secas periódicas. Mesmo as elites desse espaço, que estão longe de ser afetadas da mesma forma que os mais pobres pelas estiagens, se assumem como sertanejas.
SERTÕES, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES
Durval Muniz de Albuquerque Júnior
Durval Muniz de Albuquerque Júnior Possui licenciatura plena em história pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e mestrado e doutorado em história pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Atualmente é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e professor titular da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). É também coordenador do Comitê da Área de História do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Tem experiência na área de história com ênfase em teoria e filosofia da história, atuando principalmente nos seguintes temas: gênero, Nordeste, masculinidade, identidade, cultura, biografia histórica, produção de subjetividades e história das sensibilidades.
Referências ALBANO, Ildefonso. Jeca Tatu e Mané Xiquexique. Fortaleza: Secretaria de Cultura do Ceará, 1969. ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz. Falas de astúcia e de angústia: a seca no imaginário nordestino – de problema à solução (1877-1922). Dissertação de mestrado em história. Campinas: Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 1988. _______. A feira dos mitos: a fabricação do folclore e da cultura popular (Nordeste, 1920-1950). São Paulo: Intermeios, 2013. _______. A invenção do Nordeste e outras artes. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2011. _______. As imagens retirantes: a constituição da figurabilidade da seca pela literatura do final do século XIX e início do século XX. Varia História, v. 33, n. 61, abr. 2017, p. 225-251. ALBUQUERQUE, Ulysses Lins. Um sertanejo e o sertão. Recife: Cepe, 2012. ALENCAR, José de. Iracema. São Paulo: Ática, 1997. _______. O sertanejo. São Paulo: Ática, 1987. ALMEIDA, José Américo de. A bagaceira. Rio de Janeiro: José Olympio, 1978.
33
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
34
ALMEIDA, Manuel Antônio de. Memórias de um sargento de milícias. São Paulo: Ática, 2001. ALONSO, Gustavo. Cowboys do asfalto: música sertaneja e modernização brasileira. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015. AMADO, Jorge. Seara vermelha. São Paulo: Record, 1983. BARROSO, Gustavo (João do Norte). Ao som da viola. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa e Propaganda, 1949. _______. Heróis e bandidos. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1917. _______. Praias e várzeas: alma sertaneja. Rio de Janeiro: José Olympio, 1949. _______. Terra de sol. São Paulo: Abc, 2006. BLUTEAU, Rafael. Vocabulário portuguez & latino: áulico, anatômico, architectonico... Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1728. CASCUDO, Luís da Câmara. Vaqueiros e cantadores. Belo Horizonte: Itatiaia, 1984. CEARENSE, Catulo da Paixão. Alma do sertão. Rio de Janeiro: A Noite, 194- [s.n.]. _______. Meu sertão. Rio de Janeiro: A. J. Castilho, 1918. CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário etimológico da língua portuguesa. 4. ed. Rio de Janeiro: Lexikon, 2010. CUNHA, Euclides da. Os sertões. São Paulo: Paulo Azevedo Ltda., 1902. FACÓ, Rui. Cangaceiros e fanáticos. São Paulo: Bertrand, 1976. FREYRE, Gilberto. Nordeste. 5. ed. Rio de Janeiro: José Olympio; Recife: Fundarpe, 1985. MELLO, Evaldo Cabral de. O Norte agrário e o Império (1871-1889). Rio de Janeiro: Topbooks, 1999. MELO NETO, João Cabral de. Morte e vida severina. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2007. MENEZES, Djacir. O outro Nordeste. São Paulo: Artenova, 1970. MOTA, Leonardo. Cantadores: poesia e linguagem do sertão cearense. 3. ed. Fortaleza: Imprensa Universitária do Ceará, 1961.
SERTÕES, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES
Durval Muniz de Albuquerque Júnior
_______. Sertão alegre. Fortaleza: Imprensa Universitária do Ceará, 1965. _______. Violeiros do Norte. 3. ed. Fortaleza: Imprensa Universitária do Ceará, 1962. OLÍMPIO, Domingos. Luzia-Homem. São Paulo: Ática, 1998. PATROCÍNIO, José do. Os retirantes. São Paulo: Editora Três, 1973. QUEIROZ, Rachel de. O quinze. Rio de Janeiro: José Olympio, 2010. RAMOS, Graciliano. Vidas secas. 52. ed. Rio de Janeiro, São Paulo: Record, 1984. RÊGO, José Lins do. Cangaceiros. Rio de Janeiro: José Olympio, 1973. _______. Pedra Bonita. Rio de Janeiro: José Olympio, 1979. ROCHA, Glauber. Deus e o diabo na terra do sol. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1985. _______. Revolução do Cinema Novo. Rio de Janeiro: Embrafilme/Alhambra, 1981. _______. Roteiros do Terceyro Mundo. Rio de Janeiro: Embrafilme/Alhambra, 1985. ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas. São Paulo: Victor Civita, 1967. SÁ, Sinval. Luiz Gonzaga: o sanfoneiro do Riacho da Brígida. Recife: Cepe, 2012. SUASSUNA, Ariano. O rei degolado ao sol da onça caetana. Rio de Janeiro: José Olympio, 1977. _______. Romance da pedra do reino e o príncipe do sangue do vai-e-volta. Rio de Janeiro: José Olympio, 1971. TAUNAY, Visconde de. Inocência. São Paulo: Ática, 1981. _______. Visões do sertão. São Paulo: Melhoramentos, 1923. TÁVORA, Franklin. O cabeleira. São Paulo: Ática, 1981. TEÓFILO, Rodolfo. A fome: cenas da seca do Ceará. São Paulo: Tordesilhas, 2011. ZURARA, Gomes Eanes de. Crônica do descobrimento e conquista de Guiné... Pariz: Officina Typographica de Fain e Thunot, 1841.
35
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
34
SERTÃO, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES NO CENTRO-OESTE Maria Geralda de Almeida
Discute-se o imaginário e as representações presentes na construção dos sertões, ilustrando com uma trajetória das diversas representações que foram feitas sobre o Centro-Oeste. As identidades sertanejas emergem com a relação com o outro e com a natureza diversa. Porém, ressalta-se que aquelas esboçadas sobre os sertanejos são dinâmicas e podem se mesclar. São múltiplas.
I A etnoterritorialidade do sertanejo do Centro-Oeste é o cerne para compreender o sertão a partir de suas representações associadas ao bioma Cerrado. Para tanto, serão evidenciadas as concepções de sertão e as dimensões culturais construídas “no mundo rústico, sertão, onde estariam nossas raízes e nossa autenticidade”, conforme nos lembra Martins (2000, p. 28), para entender esse sertanejo e, sob essa perspectiva, compreender a nossa essência brasileira. Claval (1995) clareia essa discussão ao afirmar que é pela cultura que homens e mulheres fazem a sua mediação com o mundo, constroem um modo de vida particular e se “enraízam” no território. Há, assim, uma herança cultural que permeia a relação com
o território. E a identidade territorial do sertanejo aparece como indispensável para a existência e a manutenção da biodiversidade e do horizonte de vida do sertão brasileiro. No século XVIII, surgiu um interesse pelo sertão a fim de descobrir o que a terra incógnita ainda poderia oferecer como recursos. Naquele período, havia um caminho que cruzava o Planalto Central até Mato Grosso – era o mais extenso da época colonial, conhecido como a Estrada Geral do Sertão, e confundia-se com o Caminho de Goiás ou Picada de Goiás. No total, o chamado Caminho de Goiás estendia-se por 266 léguas (cerca de 1.500 km), separando Vila Boa de Goiás do Rio de Janeiro, e consumia cerca de três meses de viagem (ROCHA JR. et al., 2006).
SERTÕES, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES
Por essa estrada, estrangeiros chegaram ao Brasil central e registraram seus olhares em relatos. Penetrando nessas terras longínquas no ano de 1819, o naturalista Auguste de Saint-Hilaire assim as descreveu: [...] aqueles que falam do sertão garantem que ele se parece a um jardim e essa comparação tornou-se uma espécie de provérbio. Eu admito, com efeito, que esta região possa ter o aspecto que lhe atribuem quando os campos possuem todo verdor e que estas árvores e arbustos tão numerosos, tão variados, estão cobertos de flores tão brilhantes (1975, p. 53).
Apresentando o sertão com uma característica próxima àquela predominante na Europa civilizada, Auguste de Saint-Hilaire se empenha para fazer o europeu imaginar o sertão apoiando-se em uma imagem conhecida. No sertão, onde o ritmo de vida era mais lento, a percepção do tempo também o era. E a cultura que surgia absorveu essa característica no estilo de vida próprio do sertanejo. O escritor lusitano Oscar Leal, no século passado, observou espantado: [...] se tendes percorrido os nossos sertões, os lugares onde a vida é fácil por causa da caça e da pesca, deveis saber que essa gente caminha para o entorpecimento, para o túmulo. Esta gente não fala – boceja, não anda –, arrasta-se, não vive – vegeta. Para ela não há ambição, nem luxo, nem dinheiro, nem conforto: não há nada e que corra a vida como o barco à mercê da corrente (apud CHAUL, 1995, p. 19).
Maria Geralda de Almeida
Criava-se, assim, uma ideia da letargia social, de dias iguais a todos os dias, de solidão que tinha no sertão o cenário ideal. No século XXI, embora os caminhos, as redes e o meio técnico-científico-tecnológico tornem os sertões tão familiares, estes permanecem ainda misteriosos. E o que então pode ser chamado de sertão e de sertões? Acredita-se que o termo sertão seria uma corruptela de grande deserto, deserto sertão. No período colonial, “o Brasil litorâneo, o interior era o lugar deserto, a solidão, o vazio que não faz sentido senão como lugar de frequentação, passagem” (STURM, 1995, p. 94). O sertão trazia consigo as marcas do processo colonizador, refletia a linguagem do outro, do civilizado. Leonardi (1996) defende que o conceito de sertão tem algo a ver com a ideia de fronteira do período colonial, quando eram imprecisos os limites entre o mundo português e o mundo espanhol na América. O sertão referido aqui se materializa nos limites dos estados de Goiás, de Mato Grosso do Sul e de parte de Mato Grosso. Contudo, esses estados englobam vários sertões. Ab’Sáber (1999, p. 95), por exemplo, distingue outras tipologias, como “sertão bravo” (áreas mais secas), “altos sertões” (áreas semiáridas rústicas e típicas existentes nas depressões colinosas) ou “agrestes regionais”. Assim, o uso estabeleceu que o sertão são as terras ásperas do interior, o que culminou por histórica e socialmente aproximar-se aos biomas do Cerrado e da Caatinga.
35
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
36
II
As representações são fundadas sobre a aparência dos objetos e não sobre o objeto em si. São criadas para expressão do real no bojo de uma ideologia. As representações sociais também regem nossas relações com o mundo e os outros, orientam e organizam os comportamentos e as comunicações sociais (BAILLY, 1992). Jodelet (1991) é mais enfática ao afirmar que a representação corresponde a um ato do pensamento pelo qual o indivíduo se relaciona com um objeto. Isso pode ser uma pessoa, um objeto, um evento material físico ou social, um fenômeno natural, uma ideia, uma teoria; pode ser real, imaginário ou mítico. Representação, para Chartier (1990, p. 20), é uma forma de discurso que permite “ver uma coisa ausente”, ou também que se manifesta como a “exibição de uma presença [...] de algo ou de alguém”; processo de articulações simbólicas por meio do qual se estabelece uma acepção do real, uma significação da realidade. Pesavento, complementando esse entendimento, afirma: As representações construídas sobre o mundo não só se colocam no lugar deste mundo, como fazem com que os homens percebam a realidade e pautem a sua existência. Indivíduos e grupos dão sentido ao mundo por meio das representações que constroem sobre a realidade (2005, p. 39).
O Centro-Oeste era representado como um lugar distante e de difícil acesso, povoado por uma esparsa população, violenta e pouco civilizada, sendo, por vezes, exibido como
mero coadjuvante do processo de construção da unidade nacional e da formação do sentimento patriótico. Eram representações que faziam parte do imaginário social das populações que habitavam o exterior ou o litoral brasileiro. Este olhar negativo e preconceituoso sobre o oeste brasileiro pelos habitantes mais próximos à costa não é recente, como foi visto. O “sertão”, como por vezes Goiás e Mato Grosso foram denominados, seria o oposto do que existia no litoral – considerado como um espaço de progresso e desenvolvimento. O resultado foi a construção de uma imagem negativa dos sertões e dos costumes e tradições das suas populações. Em resposta, ocorreu também a construção de representações locais, que buscaram se contrapor às primeiras e negá-las, originando, assim, uma verdadeira luta de representações. Embora identificado como sertão, o Centro-Oeste negava a originalidade da cultura sertaneja, a sertanidade que refletiria o Brasil autêntico (LIMA, 1999; SENA, 2003). O olhar dos estrangeiros aqui chegados, de um continente que conhecia já os benefícios da industrialização, ressentiu as marcas materiais do progresso lá visto. Contudo, esses sertões goianos tiveram vários olhares. O conceito de sertão da decadência e do atraso que perpassa a reconstituição feita por Luis Palacín do passado dessa sociedade difere do sertão de abastança e de paraíso caboclo que se encontra em Paulo Bertran (1994). Já sob a visão artística de Hugo de Carvalho Ramos, na obra Tropas e Boiadas (1917), surge um sertão poético, de horror e beleza, sertão ao mesmo tempo dramático e belo.
SERTÕES, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES
Maria Geralda de Almeida
37
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
38
III
Os homens não agem em função do real, mas Entendo que o sertão, território em em função da imagem que fazem dele, já bem questão, também se define e se singulariza nos disse Claval (1992). Contudo, se uma por características simbólicas e culturais e imagem presente não faz pensar em uma destaca-se por ser uma construção social. imagem ausente, se uma imagem casual não Por isso, considero que tais aspectos devem determina uma explosão de imagens, não há ser levados em conta na compreensão de imaginação. Bailly (1990) e Carlos (1994) nos processos históricos mais amplos, os quais chamam a atenção para os lugares vividos trazem em seu bojo as marcas do vínculo que são também espaços imaginários. En- com o lugar em que se originaram. tre os espaços da vida próximos ao distante IV e apenas imaginado, todos os territórios vividos e/ou pensados o são por meio de cate- O sertão resulta como produto da cultura gorias que refletem situações da experiência ecológica e os sertanejos ilustram essa culrelacional de vida. tura. A sociedade localizada em um ambienUma definição inspirada em Casto- te de sertões, apesar de constituir-se uma riadis, e também expressiva, unidade totalizada, é múlticonsidera o imaginário como Essa paisagem resulta em pla. Uma sociedade – convém “um sistema de ideias e ima- alterações substanciais destacar – resultante de imno próprio entendimento gens de representações colebricações de diversos povos do rural, fazendo emergir, tivas que os homens, em todas associados aos cerradeiros além do agronegócio, as épocas, construíram para novas ruralidades no geraizeiros, aos chapadeiros, si, dando sentido ao mundo” cenário do Centro-Oeste, aos negros aquilombados, (PESAVENTO, 2005, p. 43). aos indígenas, aos barrancomo turismo rural, Uma crítica às interpreta- pesque-pague e spas. queiros/ribeirinhos dos rios ções de sertão é feita por MoAraguaia, Paranaíba, Pararaes (2002-2003). Para ele, o sertão não é um guai, Paraná, Teles e Cuiabá, entre tantos lugar, mas uma condição atribuída a variados outros, e aos vazanteiros e pantaneiros ou e diferenciados lugares – ideia com a qual con- de outros alagados e, ocasionalmente, áreas cordo e busco abordar nesta discussão. inundadas dos sertões. Espindola (2004, p. 3) destaca que Esses signos identitários que inforo “sertão foi um discurso sobre espaços e mam as especificidades das populações pessoas, uma construção simbólica com locais vinculam-se a algumas das diversas fins determinados”. Esse argumento enfa- ecologias que compõem os sertões. Os certizei anteriormente, quando afirmei que: “a radeiros e chapadeiros encontram-se nas construção discursiva sobre o sertão espelha faixas de cerrado e chapadas. Os vazanteiros a maneira como ele é pensado e uma manei- e pantaneiros estão situados nas áreas de ra específica de ‘ver’ o mundo” (ALMEIDA, vazantes dos rios e lagoas existentes no ter2003a, p. 71). ritório regional; os habitantes das margens
Maria Geralda de Almeida
SERTÕES, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES
dos rios são associados ao gênero de vida que ali estabelecem. Desde os anos 1950, o vasto território do Centro-Oeste passou a se constituir em uma extensa fronteira agrícola propiciada pela sua capacidade de receber população e seu potencial econômico a ser explorado. Atentos a essas características, os investidores governamentais e multinacionais procuraram transformar aquele território em um grande produtor, principalmente de gado e de grãos, para o abastecimento do mercado mundial. Eles historicamente fizeram a ocupação dos sertões, bem como a mineração e a silvicultura foram selecionadas como os principais produtos de destaque regional. Para o ideário desenvolvimentista que caracterizou as principais políticas governamentais desde a década de 1950, as vastas terras do cerrado significavam, e ainda significam, um espaço com viabilidade econômica, dessa forma obscurecendo seu potencial enquanto biodiversidade. A expansão da monocultura da soja, embora venha favorecendo a balança comercial brasileira, também está afetando sensivelmente o ecossistema e as populações sertanejas. No caso da biodiversidade, posta como território culturalizado (ALMEIDA, 2003b), há a perda de habitat de inúmeras espécies animais e vegetais, o que reflete sobre aquelas populações gradualmente privadas de sua base de recursos, comprometendo, assim, sua identidade cultural enquanto ser sertanejo. Também deve-se considerar que a devastação da vegetação natural significa a perda do conhecimento acumulado ao longo dos tempos sobre o uso medicinal e o uso
do alimento tradicional das plantas pelas populações a elas associadas. Somente 1,5% do território do Centro-Oeste encontra-se protegido na forma de Unidades de Conservação. Com a destruição sistemática a que o bioma é submetido, o país perde um potencial biológico e uma importante alternativa socioeconômica baseada na utilização sustentável da diversidade biológica do Cerrado. Os sertões transmudam-se na paisagem e no imaginário.
V Se a identidade é “a fonte de significado e experiência de um povo”, como nos afirma Castells (2006, p. 22), um primeiro elemento que materializa a identidade dos sertanejos, sua sertanidade, é a existência de uma natureza sertaneja, rural, e se sentir pertencente ao sertão. É o caso da sociedade goiana, que está impregnada de valores e traços rurais, afirma Nogueira (2009). Ela está, assim, prenhe de sertanidade. Sertanidade implica ser parte da natureza do sertão, estar nas redes de sociabilidade e solidariedade que permitem ampliar os vínculos de amizade e parentesco, que se tornam cada vez mais sólidos e presentes no imaginário construído em torno do lugar. Le Bossé (2004) nos auxilia a compreender a identidade apresentando referenciais que são estabelecidos a partir de subjetividades individuais e coletivas. O autor destaca o aspecto dinâmico e variável que a entidade adota e assume. Na visão de Castells (2006), a identidade é uma forma de distinção entre o eu e o outro. Segundo ele, os atores sociais dão significado às suas ações a partir de um ou
39
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
40
mais atributos culturais que prevalecem no processo de construção das identidades. Ele também adota a premissa de que toda identidade é uma construção social que se serve de conhecimentos provindos de instituições, pela memória coletiva e por fantasias pessoais, pelos aparatos de poder e de religião. Porém, homens, grupos sociais e sociedade reorganizam seu significado em função de projetos culturais enraizados e sua estrutura social, bem como em sua visão de tempo/espaço. Tais argumentos reforçam ser o sertão e os sertões um espaço vivo e dinâmico, que comunica e traz consigo uma forte carga simbólica transmitida por valores e práticas por todos que partilham o espaço. Não importa qual signo identitário ele comunga dessa natureza sertaneja. A paisagem que compõe esse território está vinculada àquela formação denominada os gerais, ou seja, os planaltos, as encostas e os vales das regiões de cerrados, com suas vastidões que dominam as paisagens dos sertões. A denominação geraizeiro é usada mais em Minas Gerais, e cerradeiros é o termo defendido por Bertran (1994), referindo-se às populações do cerrado de modo geral. Os sertões, com seus tabuleiros, espigões e chapadas, fazem parte da estratégia produtiva e garantem suas reproduções com diversos produtos do extrativismo. Este desempenha, cada vez mais, um papel importante na geração de renda pela comercialização de frutos, óleos, plantas medicinais e artesanatos. Conforme já mencionado, os cerradeiros reconhecem inúmeras zonas ecológicas
com qualidades específicas, pela combinação de fatores que se interagem diferenciando a qualidade de solos, a vegetação, as influências sutis deixadas pela rede de drenagem do presente e do passado. Os cerradeiros constroem um mosaico de atributos ecológicos e culturais que se realiza pela sua interação, conformando uma unidade da paisagem, fato já relatado nos estudos de Rigonato (2005). Conforme Costa (2005), na década de 1970, o Governo Federal, principal interventor com seus financiamentos subsidiados e seus incentivos fiscais, deu início à modernização dos sertões. Sertanejos foram desprezados, privilegiando-se as oligarquias tradicionais, o agronegócio e as agroindústrias da sociedade dominante. Desde então, ocorre a constituição de uma nova paisagem, que afetou as bases de sustentação da agricultura familiar tradicional, com impactos nos recursos naturais cerradeiros, acelerando seu processo de deterioração. Essa paisagem resulta em alterações substanciais no próprio entendimento do rural, fazendo emergir, além do agronegócio, novas ruralidades no cenário do Centro-Oeste, como turismo rural, pesque-pague e spas. A partir dessas significações do rural tradicional, Pereira (2002) traça o novo imaginário em construção em Goiás, no processo de superação de uma cultura rural, apontando para o quadro dos novos tempos de Goiás. Processo semelhante existe na zona rural de todo o Centro-Oeste. Atualmente, os horizontes dos sertões do Centro-Oeste têm outros protagonistas. Em Goiás, as usinas canavieiras, com
Maria Geralda de Almeida
SERTÕES, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES
produção de açúcar, etanol e energia, têm sua produção ampliada sobremaneira nos últimos anos. Em 2017, eram 38 usinas em funcionamento no estado de Goiás, o que nos coloca na segunda posição nacional, liderada pelo estado de São Paulo. Em Mato Grosso, soja, milho, algodão e cana-de-açúcar respondem a incríveis 94,7% de todo o valor da produção da agricultura do estado. Em Mato Grosso do Sul, Rio Brilhante é o município do país com maior quantidade produzida de cana-de-açúcar; e o estado lidera o crescimento da produção de soja no país. Na contramão, os diversos movimentos sociais dos sertões demonstram experiências de luta para a conservação dos cerrados e pelo seu uso não destrutivo. Esses sertanejos veem a necessidade de incorporar técnicas que causem menos impactos nos cultivos – agora mais intensivos, com restrição das terras, restrição da oferta de água e perda da biodiversidade. Também a percepção de que sertanejos têm uma convivência estreita com a natureza nessas áreas, e eles dispõem de saberes e interesses da manutenção da biodiversidade, da qual depende a sua sobrevivência, tem fortalecido a compreensão de que eles são sujeitos sociais importantes nas discussões e políticas que envolvem os cerrados. Uma tipologia identitária do sertanejo, embora grosseira, foi esboçada. Porém, reconheço a natureza dinâmica presente na identidade. Há, além disso, a possibilidade de mesclar tipos identitários. Portanto, as identidades sertanejas são traços gerais, e somente singularizam a diversidade dos sertanejos, conforme já referi. Reconhecê-los em sua diversidade evita o risco de
empobrecer os sertões vendo-os como uma sociedade e um território únicos. Pode-se, pois, afirmar que a identidade cultural dá sentido ao território e delineia as territorialidades que se apoiam sobre as paisagens sertanejas.
Maria Geralda de Almeida É sertaneja de Brasília de Minas, no Vale do São Francisco. Já morou em Rio Branco (AC), Aracaju (SE), Fortaleza (CE) e atualmente vive em Goiânia (GO), sempre trabalhando em universidades federais. É professora titular no curso de geografia no Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás (Iesa/UFG). Tem diversos artigos publicados e organizou os seguintes livros: Geografia: Leituras Culturais (2003), com A. Ratts; Tantos Cerrados (2005); Geografia e Cultura: Lugares de Vida e a Vida nos Lugares (2008), com E. Chaveiro e H. Braga; Território e Cultura (2009), com B. A. Nates; Territorialidades na América Latina (2009); É Geografia, É Paul Claval (2013), com Arrais; Território e Comunidade Kalunga (2015); Paisagem e Desenvolvimento Chibuto (Moçambique) (2015); Atlas de Festas Populares de Goiás (2015); Atlas de Celebrações (2016), com M. A. Vargas; e Territórios de Tradições e Festas (2018).
41
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
42
Referências AB’SÁBER, Aziz N. Sertões e sertanejos: uma geografia humana sofrida. Estudos Avançados, São Paulo, v. 13, n. 36, 1999, p. 7-59. ALMEIDA, M. G. Em busca da poética do sertão: um estudo de representações. In: ALMEIDA, M. G.; RATTS, A. J. P. (Org.). Geografia: leituras culturais. Goiânia: Alternativa, 2003b. p. 71-88. ALMEIDA, M. G. Cultura ecológica e biodiversidade. Mercator, ano 2, n. 3, 2003a, p. 71-82. BACZKO, B. A imaginação social. In: ROMANO, Ruggiero (Dir.). Enciclopédia Einaudi. Lisboa: Imprensa Nacional; Casa da Moeda, 1985. BAILLY, A. Les représentations en geógraphie. In: BAILLY, A.; FERRAS, R.; PUMAIN, D. Encyclopédie de Geógraphie. Paris: Economica, 1992. BERTRAN, P. História da Terra e do Homem no Planalto Central: eco-história do Distrito Federal: do indígena ao colonizador. Brasília: Solo, 1994. CARELLI, M. Cultures croisées: histoires des échanges culturelles entre la France et le Brésil de la découverte aux temps modernes. Paris: Nathan, 1993. CARLOS, A. F. A. O lugar no/do mundo. São Paulo: Hucitec, 1994. CASTELLS, M. O poder da identidade. Tradução de Klauss Brandini Gerhardt. São Paulo: Paz e Terra, 2002. CHARTIER, R. A história cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990. CHAUL, N. F. Caminhos de Goiás: da construção da decadência aos limites da modernidade. Ciências Humanas em Revista: História, Goiânia: UFG, v. 2, jul.-dez. 1995, p. 11-26. CLAVAL, P. Champs et perspectives de la géographie culturelle. Geographie et Cultures, v. 1, n. 1, 1992, p. 7-38. COSTA, J. B. A. Cerrados do norte mineiro: populações tradicionais e suas identidades territoriais. In: ALMEIDA, M. G. Tantos cerrados: múltiplas abordagens sobre a biogeodiversidade e singularidade cultural. Goiânia: Ed. Vieira, 2005. ESPÍNDOLA, H. S. Um olhar sobre a paisagem mineira do século XIX: os sertões são vários. Disponível em: <http://www.ufop.br/ichs/conifes/anais/CMS/ccms17.html>.
SERTÕES, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES
Maria Geralda de Almeida
GALETTI, L. S. G. Mato Grosso: o estigma da barbárie e a identidade regional. Textos de História, Brasília, v. 3, n. 2, 1995, p. 48-81. JODELET, D. Les représentations sociales. Paris: PUF, 1991. LE BOSSÉ, M. As questões de identidade em geografia cultural. In: CORRÊA, R. L.; ROSENDAHL, Z. (Org.). Lugar, identidade e imaginário: paisagens, textos e identidade. Rio de Janeiro: Ed. Uerj, 2004, p. 157-179. LEONARDI, V. Entre árvores e esquecimentos: história social dos sertões do Brasil. Brasília: Paralelo 15, 1996. LIMA, N. T. Um sertão chamado Brasil: intelectuais e representação geográfica da identidade nacional. Rio de Janeiro: Revan/Iuperj-Ucam, 1999. MARTINS, José de Souza. A sociabilidade do homem simples: cotidiano e história na modernidade anômala. São Paulo: Hucitec, 2000. MENDONÇA, M. Os novos movimentos sociais cerradeiros: a territorialização do MAB em Goiás. In: ALMEIDA, M. G. (Org.). Tantos cerrados. Goiânia: Ed. Vieira, 2005. MORAES, A. C. R. Sertão: um outro geográfico. Terra Brasilis, Rio de Janeiro, n. 4-5, 2002-2003. PEREIRA, E. M. C. M. Goiânia, filha mais moça e bonita do Brasil. In: BOTELHO, T. R. (Org.). Goiânia: cidade pensada. Goiânia: Ed. UFG, 2002, p. 13-69. PESAVENTO, S. J. Em busca de uma outra história: imaginando o imaginário. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 15, n. 29, 2005, p. 9-27. RAMOS, H. C. Tropas e boiadas. Rio de Janeiro: Revista dos Tribunais, 1917. RIGONATO, V. D. A dimensão sociocultural das paisagens do Cerrado goiano: o distrito de Vila Borba. In: ALMEIDA, M. G. (Org.). Tantos cerrados. Goiânia: Ed. Vieira, 2005, p. 49-71. ROCHA JR., D.; VIEIRA JR., W.; CARDOSO, R. C. Viagem pela Estrada Real dos Goyazes. Brasília: Paralelo 15, 2006. SAINT-HlLAlRE, A de. Viagem à Província de Goiás. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1975. SENA, C. S. Interpretações dualistas do Brasil. Goiânia: Ed. UFG, 2003. STURM, S. Por uma prática visual do sertão. Ciências Humanas em Revista. Goiânia: UFG, v. 2, jul.-dez. 1995, p. 93-103.
43
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
44
SER-TÃO BAIANO Cláudia Pereira Vasconcelos
Este trabalho visa discutir como o propagado texto identitário da baianidade se construiu de modo a suprimir a visibilidade de uma presença rural/sertaneja em um estado culturalmente muito plural e do qual 70% do território é classificado como semiárido. Apresenta resultados de uma pesquisa sobre o assunto realizada em 2007 e, de forma breve, se propõe a pensar na atualização do tema a partir da questão: estariam hoje a baianidade e a sertanidade no mesmo lugar? Para compreender tais reflexões, dialoga com autores e experiências que atravessam a temática.
1. O Sertão, esse ser eterno Sertão – se diz –, o senhor querendo procurar, nunca não encontra. De repente, por si, quando a gente não espera, o sertão vem. Guimarães Rosa
Quando chove no sertão O sol deita e a água rola O sapo vomita espuma Onde um boi pisa se atola E a fartura esconde o saco Que a fome pedia esmola Trecho de poema de João Paraibano em música do Cordel do Fogo Encantado
As formas de dizer do sertão tanto do marcante personagem de Guimarães Rosa, Riobaldo, quanto da música esbraseante e contemporânea do Cordel do Fogo Encantado revelam que esse conceito-personagem pode ser ao mesmo tempo geográfico e simbólico. Um ente perene entre nós que nada mais é do que um longe perto, pode estar em toda parte, ser o mundo todo e, ao mesmo tempo, estar dentro da gente... A única certeza que se tem é que “nenhuma palavra é mais ligada à história do Brasil e, sobretudo, à do Nordeste do que a palavra sertão” (BARROSO, 1962, p. 35). O presente texto propõe um breve passeio por diferentes tempos, lugares e sentidos para, mais uma vez, pensar a dimensão e o papel do sertão na contemporaneidade. No
SERTÕES, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES
caso específico, trataremos de como a Bahia, esse estado de tão ricas e variadas representações culturais, elegeu como referência apenas uma região, Salvador e o Recôncavo, para compor o seu texto identitário, deixando de fora uma gama de elementos culturais representativos de outros recantos desse vasto estado, especialmente do sertão. Vamos a ele! 2. O (não) lugar do sertão na configuração da identidade baiana Em 2005, iniciava um estudo de mestrado na Universidade Federal da Bahia (UFBA) cuja investigação, concluída em 2007 e publicada em 2011, traria o título Ser-Tão Baiano: o Lugar da Sertanidade na Configuração da Identidade Baiana. A chamada do livro intencionava claramente provocar no leitor uma dupla reflexão: levantar a questão do que, afinal, é ser baiano e por que sua pretensa intensidade foi tão bem construída, e, em segundo lugar, marcar que a Bahia também é feita de sertões. A pesquisa nasceu de uma inquietação pessoal; por ser oriunda de uma pequena cidade do semiárido baiano (Serrolândia) e recém-chegada à capital da Bahia, percebi como em diversas situações o lugar do interiorano/ sertanejo na relação com a Soterópolis era (é) demarcado por um sentido de “outridade”, perpassado por uma sutil e perversa ironia, que numa espécie de subtexto tenta colocar esse “outro” em um lugar de estranho e muitas vezes de subalterno. Em síntese, poderia dizer que, de fato, o que me levou a problematizar o discurso oficial da cultura baiana foi a experiência de viver em Salvador e de ver que a Bahia soteropolitana se apresentava como hegemônica nos discursos de pessoas comuns,
Cláudia Pereira Vasconcelos
na mídia local e nacional e especialmente na concepção e implementação das políticas culturais do estado da época. Em linhas gerais, o estudo aponta que a ideia de Bahia – a baianidade – foi construída por meio de uma estratégia imagético-discursiva que a colocou como algo à parte, sui generis, como bem diz o verso de Caymmi: “A Bahia tem um jeito que nenhuma terra tem”. Aparece no imaginário nacional e internacional como a terra da felicidade, um lugar diferente, místico e sensual, o berço de uma cultura mestiça marcada pela herança africana, um caso à parte do Nordeste e, mais ainda, um caso à parte do Brasil. Imagens que foram se organizando por meio de múltiplas linguagens, na literatura, na música, nas artes cênicas e visuais, tanto de fora para dentro1 como de dentro para fora. Sendo o vigoroso discurso literário de Jorge Amado um dos principais suportes para que a Bahia se tornasse conhecida nos diversos cantos do mundo, dos anos 1930 até os dias de hoje. A sua obra, acompanhada da música de Dorival Caymmi, da pintura de Carybé e da fotografia de Pierre Verger, encontrou eco em diversos tipos de descendentes que foram atualizando essa narrativa. Poderíamos citar a irreverência dos tropicalistas, a explosão da axé music, o teatro negro do Bando de Teatro Olodum, além de tantos outros aparatos estéticos nascidos do olhar amadiano ou que dele partilham de alguma forma. Desse modo, construiu-se uma estreita relação entre o real e o imaginário desta terra. A ideia de “cultura baiana” ganhou maior força e definiu melhor os seus contornos pela forma como fora apropriada pelos discursos oficiais do poder público local em
45
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
46
suas políticas estaduais de cultura e turismo,2 constituindo-se, por sua vez, numa poderosa estratégia para alavancar a economia local a partir da representação da singularidade como motivação para o consumo do entretenimento. Neste período, que vai aproximadamente dos anos 1970 até o ano de 2006, a permanência no poder de um mesmo grupo político, liderado por Antônio Carlos Magalhães, foi determinante para a legitimação da baianidade, bem como o azeitamento realizado pela mídia local, especialmente pela Rede Bahia, de propriedade da família Magalhães, retransmissora da Rede Globo na Bahia. Essa lógica política e midiática conseguiu construir um texto unificador em torno da ideia de Bahia, por meio de uma eficaz estratégia da positividade pela qual se recorta e evidencia aquilo que interessa e se esconde ou esquece o que não convém (MOURA, 2005). Diversos estudiosos da baianidade, entre eles Antonio Risério (1993), apontam que o olhar centrado na cultura de Salvador, “Cidade da Bahia”, deve-se ao fato de que as elites tradicionais locais, após o lento processo de declínio econômico e político que se inicia no final do século XVIII, sentem a necessidade de ostentar o seu passado glorioso, buscando a antiga referência da capital colonial do Brasil. Desse modo, no período em que o texto da baianidade começa a ser elaborado – início do século XX –, a Bahia ainda se encontra em crise econômica e política, perdendo o compasso do desenvolvimento que se verificava no centro-sul do país. Como o objetivo central desse projeto será o de gerar recursos financeiros, a Bahia não se deixará mostrar como mais um estado pobre que perdeu o passo do
desenvolvimento; por isso mesmo, não integraria ao seu discurso identitário questões que pudessem associá-la à região da qual faz parte geograficamente: o Nordeste, um território concebido historicamente como sinônimo de sertão, que por diversas razões também foi construído no imaginário nacional como representação de pobreza, analfabetismo, seca e violência, entre outros signos associados ao passado e ao atraso (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2003). Para melhor compreender essa construção histórica do conceito de sertão e as formas de utilização dos seus múltiplos sentidos na construção da brasilidade, o estudo adentrou um contexto mais amplo, entre o final do século XIX e o início do século XX, quando o projeto de constituição da identidade nacional apresentou-se como uma das principais discussões entre os pensadores brasileiros. Em suma, podemos afirmar que o sertão foi ocupando lugar nos discursos sobre a nacionalidade de forma ambivalente e, por vezes, contraditória, sendo visto tanto como o cerne da brasilidade mais pura quanto como uma mancha que dificulta o projeto de modernização e desenvolvimento urbano gestado e implementado a partir do século XX. É interessante notar que, mesmo divergentes, essas linhas de pensamento se fundamentaram em teorias científicas da época, de cunho evolucionista, racista e naturalista. Das diversas narrativas em disputa, dois blocos regionais destacam-se ao travar uma batalha discursiva na afirmação de uma brasilidade mais legítima. De um lado estavam os representantes das elites do Norte/Nordeste, região que, mergulhados numa longa crise política e econômica, buscavam reafirmar sua legitimidade
SERTÕES, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES
como os verdadeiros representantes da nação, de modo que se apropriam de imagens relacionadas ao sertão, elegendo como seu representante símbolo o sertanejo, que, por ser visto como um homem forte e resistente, seria capaz de recolocar aquele pedaço de Brasil no centro do poder. Do lado oposto estavam as elites do Sul/Sudeste, região que, a partir do apogeu do café, desponta como novo polo econômico e político do Brasil, e, por isso mesmo, surge a necessidade de criar sentidos de brasilidade, assegurando-lhe, para além do poder econômico, validar-se pelo viés histórico e cultural. Para se afirmarem, essas elites constroem um discurso referenciado nas noções de futuro e progresso, apontando, portanto, o sertão/Nordeste como uma espécie de entrave ao projeto de modernização e urbanização da nação. Seja para valorizar, seja para macular, tanto os discursos regionalistas citados quanto a literatura da primeira metade do século XX apontam o sertão como um conceito-personagem associado ao passado, a uma ruralidade rudimentar. Mesmo quando enaltecem as qualidades do seu habitante ou denunciam o descaso com que os governos tratam essas populações, acabam por impingir uma série de estereótipos que fixam a imagem do sertanejo como um eterno resistente à modernidade, representante do atraso e da barbárie. Acentuam-se, assim, estigmas que o reduzem a imagens cristalizadas, essencializadas e limitantes. As consequências dessa insistente estigmatização são inúmeras. No caso específico da Bahia, podemos dizer que a opção por uma imagem oficial e hegemônica na qual todo o potencial cultural, as belezas e a capacidade de desenvolvimento se concentram em um só espaço, Salvador e Recôncavo, gera o
Cláudia Pereira Vasconcelos
apagamento dos baianos do interior, especialmente do sertão, que não combinam com esse modelo “produto Bahia”. Além de ocasionar o desconhecimento do território não litorâneo, fomentando o preconceito contra o interiorano, essa prática centralizadora impossibilitou, durante décadas seguidas, o acesso às políticas estaduais de cultura e, mais ainda, a visibilidade de suas ricas e diversificadas manifestações culturais. Por fim, todas as questões levantadas têm como propósito pensar como o poder simbólico (BOURDIEU, 2005) presente nos discursos identitários colonialistas se reproduz nos diversos âmbitos sociais ou territoriais e, a partir daí, interrogarmo-nos por que esses antigos estereótipos ainda povoam o imaginário de tantos brasileiros em pleno século XXI. Especialmente daqueles que pouco viajam e pouco conhecem a diversidade deste Brasil profundo, composto de múltiplos sertões: verdes, secos, conectados, explorados, futuristas e descolados, sertões contemporâneos e multifacetados. No que refere à Bahia, seguimos perguntando: 3. Estariam a sertanidade e a baianidade no mesmo lugar? Baseando-me em observações e experiências como ativista das políticas culturais, bem como na análise de dados de estudos específicos mais recentes,3 após 13 anos de conclusão da citada pesquisa, arrisco-me a afirmar que houve mudanças. No que se refere à hegemonia do texto da baianidade e sua relação com a sertanidade, não estamos mais no mesmo lugar. Para argumentar, destaco três fatores importantes. O primeiro e mais significativo deles é que, a partir de 2007, com a mudança de
47
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
48
grupo político no governo estadual, que passou a ser liderado pelo Partido dos Trabalhadores4, a política estadual de cultura sofreu mudanças profundas, a começar pela separação das pastas de turismo e cultura. Seguindo a lógica de descentralização e democratização da cultura das gestões Gilberto Gil e Juca Ferreira no Ministério da Cultura (Programa Cultura Viva), a Secretaria de Cultura da Bahia vem implementando, desde 2007 (com mais ênfase nas gestões Márcio Meirelles e Albino Rubim), uma política de promoção da diversidade cultural do estado e de descentralização de recursos, por meio da realização de conferências, da execução de editais de apoio em diversas áreas, da disponibilização de formações sistemáticas para qualificação de projetos e grupos e da realização de eventos de valorização das culturas dos sertões, entre outros exemplos. Tais ações são executadas tendo como base a política de planejamento territorial que o governo da Bahia adotou ao reconhecer a existência de 27 territórios de identidade para implementação de suas políticas estruturantes. Não será possível aprofundar nem trazer mais detalhes sobre essas políticas nem sobre seus resultados, em razão do formato deste texto, porém é possível afirmar que a “cara da Bahia” tem mudado. As produções artísticas, a circulação e os espaços de troca, os eventos, as festas, a cobertura midiática, a multiplicação dos pontos de cultura, entre outros fatores, têm feito emergir novas e diversificadas gramáticas sobre a Bahia, não se limitando à capital nem ao centro da cidade de Salvador. Como conclui Lima em seu estudo que compara as políticas culturais dos governos Paulo Souto e Jaques Wagner:
O reconhecimento de que a Bahia não se limita apenas ao recôncavo e às cidades turísticas representa uma mudança não só em termos administrativos e estruturais, mas principalmente em termos simbólicos. Outro ganho importante foi a valorização das culturas populares e da diversidade cultural do estado. O processo de territorialização da cultura é sem dúvidas o mais emblemático no sentido de sintetizar as diferenças entre os dois projetos, não só por tentar acolher um repertório que vai além do texto da baianidade, por estimular as culturas populares, a integração com o interior, mas também por buscar dentro da própria capital do estado espaços alternativos fora do circuito onde se concentram os principais equipamentos culturais (2015, p. 182).
Além dessa mudança de perspectiva na política cultural/territorial, considero que a ampliação da presença das instituições de ensino superior no interior do estado, como a Universidade Estadual da Bahia, dos institutos e universidades federais tem fortalecido pesquisas sobre espaços e temáticas antes invisibilizados. Pautadas por concepções contemporâneas do fazer científico que consideram possível e importante o estudo de pessoas e lugares antes tidos como sem história, acabam por expandir o leque de objetos e de saberes e construir novas narrativas, que contribuem para o alargamento da ideia de Bahia e de Brasil. Aliada a essa dinâmica de relativizar as noções de “centro” e “periferia”, aponto, por fim, a presença de inúmeros movimentos sociais que trazem uma nova dicção sobre o sertão por meio do conceito de convivência com
SERTÕES, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES
o semiárido, alertam-nos para sua diversidade, para a historicidade da sua construção e sugerem possibilidades de sustentabilidade, autonomia e emancipação social, rompendo com a ideia de combate à seca. A atuação resistente desses movimentos também tem provocado o rompimento com as narrativas coloniais, politizando a discussão sobre os sujeitos e os sentidos dos sertões.
Cláudia Pereira Vasconcelos É doutoranda em estudos de cultura (Universidade de Lisboa), com pesquisa no campo da música e identidade brasileira, mestra em cultura e sociedade (UFBA), especialista em arte e educação (PUC/MG) e licenciada em história [Universidade Estadual da Bahia (Uneb)]. Coordenou projetos de arte-educação e educomunicação em ONGs de Salvador, como o Centro de Referência Integral de Adolescentes (Cria), o Liceu de Artes e Ofícios e a Cipó Comunicação Interativa. Foi diretora de Cidadania Cultural na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (SecultBA). Atualmente é professora da Uneb, Campus IV (Jacobina/BA). Seus interesses de pesquisa remetem às discussões sobre cultura, música e identidades, bem como suas relações com os recortes regionais correspondentes a sertão, Bahia, Nordeste e Brasil, com livros e artigos publicados. É mãe de Pepeu e atua também como atriz e cantora.
Cláudia Pereira Vasconcelos
49
50
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
SERTÕES, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES
Cláudia Pereira Vasconcelos
Referências ALBUQUERQUE JR., Durval M. Nordestino: uma invenção do falo – uma história do gênero masculino (Nordeste – 1920/1940). Maceió: Editora Catavento, 2003. BARROSO, Gustavo. À margem da história do Ceará. Fortaleza: Imprensa Universitária do Ceará, 1962. BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 2005. LIMA, Hanayana Fontes. Políticas culturais na Bahia: gestões de Paulo Souto (2003-2007) e Jaques Wagner (2007-2009). Dissertação de mestrado. Programa de pós-graduação em cultura e sociedade da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Salvador, 2015. MOURA, Milton. Identidades. In: RUBIM, Antonio Albino C. (Org.). Cultura e atualidade. Salvador: Edufba, 2005. RISÉRIO, Antônio. Caymmi: uma utopia de lugar. São Paulo: Perspectiva. 1993. RUBIM, Antonio Albino C. Políticas culturais na Bahia contemporânea. Coleção Cult. Salvador: Edufba, 2014. VASCONCELOS, Cláudia Pereira. Ser-tão baiano: o lugar da sertanidade na configuração da identidade baiana. Salvador: Edufba, 2011.
Notas 1
Como Gilberto Freyre no poema “Baía de Todos os Santos e de Quase Todos os Pecados”; Aluísio Azevedo em seu romance O Cortiço, quando destaca o jeito e o comportamento da mulher tipicamente baiana – mulata, sensual e maliciosa –; e Denis Brean com a música Bahia com H, entre muitos outros exemplos.
2
Não será possível aprofundar aqui o tópico referente às políticas culturais do estado da Bahia. Para uma leitura mais aprofundada, ver o site do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura Cult/UFBA: <http://www.cult.ufba.br/ wordpress/?page_id=108>.
3
Para mais informações a respeito das políticas culturais contemporâneas na Bahia, ver LIMA, 2015 e RUBIM, 2014.
4
Refiro-me aos governos Jaques Wagner, de 2007 a 2014, e ao governo Rui Costa, de 2015 até os dias atuais.
51
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
52
A INVENÇÃO DO NORDESTE, DESCAMINHOS SÍSMICOS DE UMA PEÇA DOCUMENTAL DO GRUPO CARMIN Henrique Fontes
O Nordeste, invenção com menos de um século de existência, tem seus estereótipos e narrativas reducionistas questionados de forma ácida pelo Grupo Carmin em sua montagem A Invenção do Nordeste. A peça, que vem circulando pelo Brasil em festivais e em unidades do Sesc, é inspirada no livro homônimo do historiador Durval Muniz de Albuquerque Jr. e tem gerado reações diversas por onde passa.
Inventando na história
As palavras escritas por Euclides da Cunha no livro Os Sertões, de 1902, e repetidas em inúmeros contextos para retratar o brasileiro pobre que mora no interior do Brasil, sobretudo na Região Nordeste, como um bravo lutador que enfrenta na seca um dos piores inimigos naturais, raramente são citadas em sua completude. Pois o que vem a seguir não é lá muito enaltecedor.
corretíssima das organizações atléticas. É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem firmeza, sem aprumo, quase gingante e sinuoso, aparenta a translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra. [...] É o homem permanentemente fatigado” (CUNHA, 1956, p. 101).
“[...] Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempeno, a estrutura
A descrição desse ser meio homem, meio bicho talvez possa, para fins literários, ter contribuído para o propósito de Euclides da Cunha de confundir a figura humana com a paisagem árida do sertão nordestino, ou
“O sertanejo é, antes de tudo, um forte.”
SERTÕES, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES
melhor, baiano, pois a Bahia foi tudo que ele conseguiu conhecer na sua jornada rumo a Canudos. No entanto, a criação euclidiana alimenta um imaginário que foi repetido à exaustão pela literatura, pelas artes plásticas, música, teatro, cinema e, mais recentemente, pelas novelas e séries televisivas. Se é o Nordeste que precisa ser retratado, há sempre uma cara, uma paisagem, uma cor que aparece pintada ou descrita. Você certamente já imaginou algo semelhante. Consegue visualizar um tom ocre? Uns galhos secos? Um chão de terra rachada? Um homem em trajes de vaqueiro? E, se essa imagem tivesse som, você ouviria uma musicalidade particular na fala? Um jeito engraçado ou rude de se expressar? Se foram essas as imagens que lhe vieram à mente, elas não surgiram por acaso. Sendo eu nortista, radicado no Nordeste litorâneo urbano, a pelo menos 200 km do sertão, em Natal (RN), posso dizer que para mim também é difícil escapar desse imaginário. Essa representação simplificada vem sendo ao longo dos anos reiterada e já está fortemente incorporada à narrativa até dos próprios nordestinos. No entanto, como toda simplificação, ela esconde algo. Segundo o historiador Durval Muniz de Albuquerque Jr., autor do livro A Invenção do Nordeste e Outras Artes, o Nordeste enquanto região nasce após a criação de sua suposta identidade regionalista. Ela é criada, ou melhor, inventada, como um lugar anacrônico e sem muitos recursos. A região Nordeste, que surge na paisagem imaginária do país [...], foi fundada na saudade e na tradição. [...] Antes que a
Henrique Fontes
unidade significativa chamada Nordeste se constituísse perante nossos olhos, foi necessário que inúmeras práticas e discursos “nordestinizadores” aflorassem de forma dispersa e fossem agrupados posteriormente (ALBUQUERQUE JR., 2009, p. 78-79).
E por quê? Para que finalidade uma região formada por nove estados e quase 1.800 municípios precisaria ter uma única identidade e tão ligada à seca, à pobreza e ao atraso? Essa figuração de uma origem linear e pacífica para o Nordeste se faz preciso para negar que ele é algo que se inventa no presente. Visa negá-lo como objeto político cultural, colocando-o como objeto “natural”, “neutro” ou “histórico” desde sempre (ALBUQUERQUE JR., 2009, p. 80).
Essa identidade inventada nasce de uma necessidade de dominação política e constitui uma estratégia da elite aliada à classe política para reduzir o impacto que as secas e a perda da mão de obra escrava exerciam sobre seus lucros. O Nordeste nasce da construção de uma totalidade político-cultural, como reação à sensação de perda de espaços econômicos e políticos por parte dos produtores tradicionais de açúcar e algodão, dos comerciantes e dos intelectuais a eles ligados. [...] Unem-se forças em torno de um novo recorte nacional, surgido com as grandes obras contra a seca (ALBUQUERQUE JR., 2009, p. 80).
53
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
54
Inventando no teatro Investigando mais a fundo essa história tão bem relatada por Albuquerque Jr. em sua obra, e motivado pelas reações xenófobas e de ódio ao povo nordestino manifestadas por internautas do Sudeste e do Sul quando da reeleição de Dilma Rousseff, em 2014, o Grupo Carmin, conduzido pela diretora Quitéria Kelly, decidiu reinterpretar a obra acadêmica e criar uma peça de teatro que, ao invés de reiterar os estereótipos nordestinos, pudesse colocá-los em xeque. Após dois anos e meio de pesquisa, a escrita dramatúrgica e a montagem ganharam forma e a peça estreou em agosto de 2017. A Invenção do Nordeste, criada num formato que fricciona o teatro documental e a autoficção, conta a história de dois atores nordestinos que são pré-selecionados para um teste, promovido por uma grande produtora de audiovisual, para representar um personagem nordestino. Eles são preparados por um diretor, também nordestino, contratado pela produtora, que tem sete semanas para deixá-los prontos para a seleção final. Durante esse período, atores e diretor investigam a “nordestinidade” e vão percebendo que essa invenção de identidade tem muitos aspectos curiosos, cômicos e, muitas vezes, doloridos. Nesse primeiro ano de existência, além da temporada em Natal, a peça circulou por festivais e realizou temporadas no Sesc Belenzinho, em São Paulo, e no Sesc Copacabana, no Rio de Janeiro. Circulou também pelas cidades pernambucanas de Petrolina e Recife, além de Juazeiro do Norte, no Ceará. As reações ao texto e à encenação variam sempre, talvez porque a defesa do “orgulho
de ser nordestino” – aliás, outro falso enaltecedor – esteja amalgamada de forma tão sólida que mover essas placas tectônicas do regionalismo provoca um pavor de que o chão se abra e nos engula a todos. Em Petrolina, primeira cidade em que apresentamos o espetáculo fora de Natal, fomos recebidos por um público acolhedor, que se divertiu com a crítica ácida aos coronéis, mas que também se espantou quando Gilberto Freyre é criticado e quando Pernambuco é retirado do mapa do Nordeste na peça. Em Juazeiro do Norte, a cena do coronel padre Cícero Romão Batista aquietou as risadas que a antecederam, mas não causou constrangimento ou reação adversa. Talvez a verdade sobre o coronel de chapéu e batina seja mais popular do que imaginamos. Em São Paulo, fizemos 16 apresentações na unidade do Sesc Belenzinho e tivemos um público crescente, que se envolvia com todas as questões levantadas em cena, mas quase sempre, ao final de cada apresentação, um silêncio de constrangimento se instaurava no teatro. Talvez fosse uma mensagem inconsciente enviada ao público pelos pais, avós ou amigos nordestinos que, há décadas, vão para São Paulo trabalhar nos empregos que ninguém mais quer, na busca de oferecer condições de vida mais dignas aos filhos e netos. Talvez também tenha pairado sobre um ou outro espectador uma nuvem de vergonha, ao reconhecer que alguma vez se sentiu superior por ter sido criado mais ao sul do país, e que aqueles “lá de cima”, por um acaso geográfico e climático, eram fortes, mas inferiores – Hércules-Quasímodos, na imagem de Euclides da Cunha.
Henrique Fontes
SERTÕES, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES
No Rio de Janeiro, nossa temporada mais recente, tivemos a impressão de estar em casa. Um público caloroso nos recebeu em 12 apresentações com casa lotada, com direito a fila de espera. Foram muitas risadas em momentos que até não pensávamos que seriam engraçados, mas, mesmo sendo os cariocas mais abertos para o riso, ao final de cada apresentação sempre nos procuravam para comentar aspectos xenófobos sobre os quais nunca haviam pensado. Muitos afirmaram que, a partir daquele momento, iriam observar o quanto estavam reforçando estereótipos ou repetindo uma defesa inútil de identidade. Acredito que haja marcas culturais que nos identificam às nossas origens familiares, ou vícios de linguagem e hábitos que traduzem parcialmente quem somos. Mas reduzir a cultura de nove estados brasileiros a um conjunto de signos e desígnios, sotaques e trejeitos, valores e religiosidades torna-se inútil se a ideia é identificar e reconhecer origens. E mesmo que haja um “DNA coletivo”, como afirma Jessé Souza ao se referir à construção da identidade brasileira, é fundamental saber que Podemos também, porventura, “mudar o nosso DNA simbólico e cultural”, na medida em que nos apropriamos dele sem ilusões e sem fantasias compensatórias (SOUZA, 2018, p. 38).
Então, que esse Nordeste inventado sirva de lembrete e alerta para outras tantas invenções produzidas pela elite brasileira, que constrói narrativas simplificadoras com o intuito bem-sucedido de continuar no topo de sua complexa pirâmide, sem olhar para baixo e sem sofrer ameaças sísmicas.
Henrique Fontes É ator, dramaturgo, diretor e gestor cultural com mais de 20 anos de atuação profissional. Formado em comunicação e mestre em ciências sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), é sócio-fundador e atual presidente do espaço cultural Casa da Ribeira, além de fundador e colaborador do Grupo Carmin, ambos em Natal (RN).
Referências ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. 4. ed. São Paulo: Globo, 2009. CUNHA, Euclides da. Os sertões. 24. ed. São Paulo: Editora Paulo de Azevedo Ltda., 1956. SOUZA, Jessé. A ralé brasileira: quem é e como vive. 3. ed. São Paulo: Contracorrente, 2018.
55
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
56
AQUI ERA O SPA DE LAMPIÃO Adones Valença
Este é um conjunto de passagens escritas por um artista durante a execução de um projeto itinerante. São anotações do caderno de viagem, dados e resultados de pesquisa que refletem sobre arte, lugar, desenho e geografia. Tomando por referência as proposições de Hélio Oiticica e utilizando o desenho como estratégia, o autor investiga o sertão atual, revendo narrativas e identificando discursos acerca dessa região do país.
I Para Hélio Oiticica (1937-1980), a arte é um campo de possibilidade capaz de modificar a realidade. Assim como Oiticica, Cildo Meireles, em sua obra Inserções em Circuitos Ideológicos (1975), busca efetivar uma ação que, neste caso, não recria uma realidade ou sensação, mas se insere na realidade para subverter. Uma obra que se infiltra para comunicar no silêncio de um sistema. Oiticica trabalha com as categorias de tempo e espaço para propor ao seu público um mundo de coisas livres de sentidos a priori. Ele quer um descondicionamento; já Meireles, uma revolução política. Seria curioso pensar que a libertação da caverna
platônica viria pelas sombras, primitivas imagens projetadas, primeiros indícios da arte, conhecimento que Platão criticava por estar a três pontos da verdade. Para Platão, o que liberta é a verdade. Para Oiticica, a arte é uma verdade criadora de mundos possíveis que libertam os sujeitos; seu projeto é também um projeto político. Assim como Oiticica e Meireles, uma série de artistas tentou, ao longo do século XX, tirar a arte de museus e galerias, tornando-a presente na vida cotidiana. Essa tentativa culminou no registro de tais ações como produtos, dentro dos espaços dos quais deveriam ter saído.
Adones Valença
SERTÕES, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES
II
“Aqui nós somos muito esquecidos”, denunciou seu Manoel em Sozinho (PB). Ele trabalha para finalizar um tanque de pedras e criar peixes.
III Quando delimitei a área em que ocorreria o projeto Viagens Não Têm Títulos,1 elaborei um conjunto de rotas que passava pelo interior dos estados da Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia e Pernambuco. Como artista viajante, não iria apenas produzir, mas também mostrar uma obra a um público previamente escolhido. Este foi o objeto do projeto. Deslocar um item da prateleira da arte subverte a lógica de uma estrutura social. É como colocar um quadro debaixo do braço e fazer uma viagem, mostrando-o às pessoas. O projeto ocorre então como um jogo em que é preciso o outro para que a obra aconteça. É a troca que efetiva a poética. Este é um trabalho que só é possível a partir do encontro com o outro, com o público, que muitas vezes não é passivo. Existe uma ética nesse sistema de trocas. Esta é uma obra tecida com outros que vivem e produzem naqueles lugares, onde cada um, a seu modo, continuamente reinventa sua existência.
IV “Aqui era o spa de Lampião! Era aqui que Lampião vinha descansar!”, disse-nos um memorialista, no alpendre de sua casa, na estrada para Sozinho. Um pouco mais à frente, avistamos um casarão abandonado; o motorista que nos levava apontou e disse que iria parar ali. As ruínas estavam cheias de marcas de bala.
“Foi aqui que teve aquelas guerras. Está vendo?”, disse ele. Quando me voltei para Renata, a parte branca dos seus olhos se fazia vermelha como sangue. Perguntei se ela estava sentindo alguma irritação, disse que não. Saímos e, na calçada, encontro o desenho de um revólver gravado no piso. Faço um frottage no caderno que levava. De lá, viajamos até Sozinho.
V As capitais regionais do interior do Nordeste recriaram seu capital cultural atualizando seus modos de fazer arte. Cito como exemplo os Centros Culturais do Banco do Nordeste em Sousa (PB), Juazeiro do Norte (CE) e Cariri (CE); as ações de formação e fruição do Centro de Arte e Cultura Ana das Carrancas e do Sesc em Petrolina (PE); os cursos de artes visuais dos campi da Universidade Federal do Vale do São Francisco e de design na Universidade Federal do Cariri. Esses espaços constituem um lugar de fluxo criativo com ação de realizadores locais e circulação de artistas e projetos. Desenvolvem importantes ações de formação e estímulo no âmbito cultural, por meio de editais públicos anuais e programação sistemática.
VI Conheci várias Sousas porque me perdi na cidade em vários momentos. Sousa é cheia de dinossauros. Tem esculturas deles espalhadas por todos os lugares. Há um ar de Michelangelo na postura das estátuas brancas ao lado da matriz. Marquei com Rayra de nos encontrarmos. Às 7h30, ela apareceu na pousada de D. Geralda. De lá fomos comprar
57
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
58
pão e café. Ela é uma artista que mora em Sousa e trabalha com fotografia. O que propus foi que ela fosse uma médium entre mim e as pessoas que encontraríamos nas rotas. Além disso, faria registros fotográficos desse trecho da viagem. Ela concordou. Sendo artista que vive e trabalha em Sousa, o começo da carreira de Rayra está estreitamente atrelado às atividades do Centro Cultural Banco do Nordeste como possibilidade de mundo. Mantivemos contato e frequentemente conversamos sobre nossos trabalhos e sobre a vida. Desde que estive por lá, ela fez duas exposições individuais e, recentemente, a fotografia de um filme. Rayra reflete sobre seu lugar de mulher, o corpo feminino e o peso das tradições que vêm sendo questionadas por rompimentos como os que ela provoca.
IX
Sete da manhã, sento numa praça em Sousa à espera de uma lotação que me levaria até Marcelino Vieira (RN), onde teria início a rota 2. Começo a desenhar, por observação, a carroça de Maria, que vende café e tapioca e serve de rodoviária. Quatro ou cinco pessoas percebem o que estou fazendo e ficam em volta, dizendo: “Como é interessante aquilo, olha só, é a barraca de Maria!”. Depois chega um homem curioso olhando com minúcia, um tanto desconfiado daquilo que eu fazia. “Este é um bom desenho, eu reconheço um bom desenho! Você faz quadros?” Respondi que sim. “Eu sei que você desenha bem, eu já fui um pintor letrista. Mas vocês conseguem dar volume às coisas, conseguem efeitos que nós não conseguimos”, VII disse ele. O desenho tem o mesmo poder mágico das Mostrou-me, no caderno, que sabia palavras. Ele é uma ação do espírito que atin- fazer letreiros e disse que nos anos 1990 ge determinadas ondas de sensibilidade. Sua ganhou muito dinheiro como pintor de frequência atrai. As primeiras sociedades já letreiros em São Paulo e no Rio Grande sabiam disso. do Norte. Mostrou a propaganda de Elias, o “deputado da água”, tipo de político caVIII racterístico da indústria da seca, que vem Cada lugar em que andei possui um ritmo de acabando por causa da transposição do tempo próprio. Há lugares como Pintadas Rio São Francisco. Ficou empolgado com (BA), em que ao meio-dia todas as ativida- o encontro, mostrei-lhe meus pincéis e des do comércio se encerram, pois cessa o os materiais que trazia. Disse-me que transporte para outras cidades. Há lugares depois, em São Paulo, vendia limão. Em como Gangorra (RN) e Simpatia (PE), onde seguida, foi cantor de banda de forró e faas pessoas se recusaram a participar da mi- zia sucesso, mas, por causa das andanças, nha proposta. Lugar de encontro é todo lugar preferiu ficar mais próximo da família. onde pode ocorrer a experiência entre artista, Mostrei-lhe o projeto, as rotas que faria público e objeto. Se o cientista experimenta no e o que levava: uma mala que virava uma laboratório, o artista experimenta no mundo. galeria de arte.
SERTÕES, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES
Adones Valença
59
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
60
X
Ao projeto, então, é necessário corrigir os processos de produção de sentido estabelecendo uma relação significativa com a aprendizagem. Se arte implica modificação da realidade, os produtos do artista devem subverter as sensações de tempo e espaço, para descondicionamento dos sujeitos. Isso é possível na área da educação e da arte. Em seu Les Beaux-Arts Réduits à un Même Principe (1746), o abade Charles Batteux dedica parte do texto à formação do gosto, apontando a importância de se trabalhar a sensibilidade ainda na infância. O que ele chama de formação do gosto é aqui entendido como formação da sensibilidade.
XI Foram percorridos mais de 3.484 quilômetros, entre os dias 10 de janeiro e 18 de fevereiro de 2017. Foram realizados 203 atendimentos, entre escolas, alpendres e terreiros, sendo 89 professores e 17 artistas e artistas-professores.
XII As figuras parecem estar mascaradas. Nas roupas que vestem faltam peças e as que existem estão em farrapos. Nos corpos faltam gorduras. Ao que parece, a fome devorou a derme, restando os músculos. A paisagem que serve de fundo a esse conjunto é um deserto com restos de ossos, pedras no chão e montinhos de terra que se assemelham a covas. O grupo, intitulado “retirantes”, desloca-se para algum lugar. Parecem fugir da morte, que não está apenas na terra, mas
avança pelo céu com uma revoada de urubus à espera de que algum daqueles desvaneça. Não são faces alegres, são máscaras encaveiradas. Todo tom do quadro é sombrio. A luz que dissolve o horizonte ao fundo serve para destacar as figuras tristes. Algumas nos fitam. São uma família, o conjunto ao centro deixa isso claro. Carregam consigo tudo que restou: duas trouxas, uma na cabeça e outra nos ombros. A imagem, criada em 1944 pelo pintor Candido Portinari, foi amplamente reproduzida em cartazes, livros didáticos e revistas. A pintura de Portinari foi acompanhada de um discurso que reforça uma determinada ideia de sertão e de sertanejo. Se quisermos entender o sertão atual, é preciso atravessar essa imagem, ir para além das sombras que por tanto tempo foram expostas ao nosso olhar.
XIII Na garupa, apoiando a maleta portátil na perna, segui por estradas de terra. Para percorrer os caminhos de Sozinho até Passagem (BA) é preciso subir em algumas motos sem capacete, com algum motorista desconhecido, até os lugares traçados nas rotas. Atendia pela manhã e, à tarde ou à noite, no quarto do hotel ou da pousada em que estava, me sentava, abria o computador e ia escrever sobre aqueles lugares e personagens. Era escrevendo que eu fazia a obra existir.
SERTÕES, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES
Adones Valença
Adones Valença Nasceu em 1989 em Belo Jardim (PE). O artista vive e trabalha em São Cristóvão (SE), onde é estudante de artes visuais na Universidade Federal de Sergipe. A partir de 2008, sistematiza sua produção em artes visuais, tendo participado de exposições individuais e coletivas e da execução de projetos. Publicou Viagens Não Têm Títulos, trabalho que reúne relatos da pesquisa homônima realizada em 2017 com apoio do Rumos Itaú Cultural 2015-2016.
Nota 1
O projeto Viagens Não Têm Títulos (publicação disponível em: https://issuu.com/ jamelo.aurora/docs/vntt_2018), realizado em 2017, foi apoiado pelo Rumos Itaú Cultural 2015-2016. Consistiu na viagem de um artista, com uma mala contendo desenhos, escultura, objetos e poemas, pelo interior de cinco estados do Nordeste brasileiro.
61
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
62
PORTAR(IA) SILÊNCIO:
O SER-TÃO MIGRANTE DAS PORTARIAS DE EDIFÍCIOS DA CIDADE DE SÃO PAULO João Júnior
O espetáculo teatral Portar(ia) Silêncio é uma espécie de diário-manifesto migrante que foi criado a partir dos depoimentos de nove porteiros da cidade de São Paulo vindos de áreas rurais do Nordeste. O atrito da experiência rural num contexto urbano gera implicações existenciais para aquele que migra. A migração do ator se adensa às camadas dos depoimentos que encontraram nas portarias a metáfora para olhar a cidade. A memória se torna um exercício de resistência, revelando como a cidade se ergue diante do corpo desse migrante, mas também como tal experiência constrói a cidade.
O
sertão do Seridó potiguar é o lugar mais próximo do céu que a minha vista pode alcançar. Deitar no chão da terra seca trouxe uma sensação de que, ao esticar o braço, uma estrela podia ser tocada. É lá que a imensidão se fez vista diante do meu olhar. Há um casamento entre céu e terra que tem o sertanejo como testemunha. Mas as terras secas do Nordeste fazem com que homens e mulheres migrem para as grandes cidades do país. O fluxo migratório do Nordeste na década de 1950 se deu por conta de uma grande seca. São Paulo se tornou um dos principais lugares de destino do desejo de migrantes que partiram em busca de aplacar o sol que ardia dentro de suas barrigas vazias. Segundo Paulo Fontes (2008), o bairro de São Miguel Paulista, no extremo leste
paulistano, por exemplo, foi se expandindo a partir desse fluxo migratório, que criou ali um Nordeste que se reproduz na oralidade, nas áreas de convívio, no comércio e na vizinhança. Ao migrante é necessário a reconstrução de boa parte daquilo que lhe garante a segurança existencial. Assim, é fundamental recriar o lugar de origem na cidade. Segundo Fontes, São Miguel Paulista foi se expandindo a partir do estabelecimento de redes sociais pautadas nessa experiência migrante. O ato de migrar gera implicações existenciais profundas no indivíduo, que parece viver em um estado de suspensão na busca por pertencimento. No silêncio da experiência urbana e na invisibilidade de sua própria condição, o exercício com a memória se faz
SERTÕES, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES
João Júnior
estratégia de sobrevivência na aventura vida – daquela que ele estava buscando que é a cidade. Ela é um oceano inteiro a até então, o trabalho. ser navegado e o devaneio é um exercício O processo com Severino se deu a parconstante no processo de sustentação da tir de conversas curtas na portaria do ediexperiência urbana no corpo. fício em que morava. Aos poucos, ele abria O recorte aqui apresentado sobre a o seu baú de lembranças e me revelava que migração nordestina para a cidade de São outros porteiros também vinham das áreas Paulo se dá por meio do olhar de homens rurais do Nordeste. Rapidamente, fui coloque encontraram na profissão de porteiro cado em uma rede com diversos porteiros de edifícios e condomínios de São Paulo um da região central da capital paulista. meio de sobreviver na cidade, mas também Os nove depoimentos recolhidos para um dispositivo para se relacionar com ela a construção da dramaturgia do espetánum espaço de trabalho que revela, em seu culo teatral Portar(ia) Silêncio revelaram próprio modelo de operação, as implicações traços em comum: o trabalho infantil nas existenciais de um processo migratório. áreas rurais, a curiosidade em relação à A busca por elaborar a minha própria cidade de São Paulo, a projeção de uma experiência migrante me fez vida melhor e o desejo de reabrir o olhar para esse Nordes- A saudade se torno à terra natal. Porém, agigantava dentro do te que vive em São Paulo e que o depoimento de Severino corpo e a distância estava ali invisível aos meus trazia a poesia que tanto era me fazia mergulhar olhos a cada dia que cruzava nos vazios que foram necessário reencontrar para a portaria do meu prédio. A criados por meio dar conta da minha expesaudade se agigantava dentro da migração. riência de cidade. do corpo e a distância me fazia O processo com as enmergulhar nos vazios que foram criados por trevistas foi fazendo com que Severino meio da migração. desbravasse sua memória com alegria. Ele A palavra foi se tornando um exercí- estava ali esperando um momento para pocio de comunhão com a memória. Assim, der falar de si e revelar, por meio de suas o cumprimento diário na portaria do meu lembranças, que a saudade que eu sentia condomínio revelou um sotaque que me era partilhada. Cada um, em seu barco, trazia a estrela que havia deixado para trás navegava pela cidade mirando as estrelas. no sertão do Seridó potiguar. Agora era Elas agora estavam mais perto e as águas preciso tocar as estrelas para navegar no profundas da cidade viravam sertão sob oceano-cidade. os meus pés. Severino Lima da Silva migrou de LiA cada entrevista realizada, ele fazia moeiro, em Pernambuco, há cerca de 35 questão de tocar alguma música em sua anos, para a cidade de São Paulo. O trabalho gaita e falar da arte. Do desejo de ser artista. como porteiro foi o que lhe garantiu apo- “[...] eu queria ser artista, mas não tenho sentadoria e certo nível de segurança na estudo. mas o artista, assim... ninguém, às
63
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
64
vezes, nem entende do artista, mas gosta assim mesmo. Eu queria entrar na escola para o professor dá todas as notas. Eu tenho um amigo, Marcone. Ele sabe tirar todas as notas no teclado. Ele gravou até um DVD. Mas é difícil esse negócio de artista, porque ele vendeu só dez. Um para a mãe, namorada e o outro para mim. Os outros sete ele vendeu fiado e inté hoje não recebeu [...]”1 O depoimento de Severino ecoa até hoje dentro de mim. Migrar é um desejo atendido de expandir-se para o desconhecido. Eu escolhi e atendi o desejo da arte dentro de mim e foi ele que fez eu me lançar na experiência de cidade como um estrangeiro. Certo dia, encontrei Severino caminhando na rua próxima à minha casa. Ele disse que recebeu suas contas e estava voltando para o sítio. Eu perguntei quando voltaria e ele mudou de assunto. Lançou-me um olhar assustado e desviou a rota da conversa. Parece-me que agora teria que dar conta de tudo isso que viveu, e finalmente se descobrir artista com sua gaita no Sítio Figueira. O trabalho já não era mais aquilo que importava em sua vida, mas seu olhar me fez pensar sobre o tempo da grande cidade. Em São Paulo, corre-se tanto para dar conta do pouco tempo que sobra que trabalhar se torna um estado de ocupar-se e o tempo perde a dimensão da experiência. Severino agora pode voltar e tocar a estrela que ilumina o céu do sertão, mas parece que para isso vai ter que deixar o tempo se perder novamente dentro dele. Enquanto escrevo, resisto em perder o tempo com estas palavras para que as estrelas estejam sempre ao alcance de minha mão neste céu cinza que me olha agora.
João Júnior É ator, dramaturgo e diretor teatral. Fundou o Coletivo Estopô Balaio de criação, memória e narrativa, que mantém uma residência artística no Jardim Romano que se dá a partir da relação com a memória social construída pela migração nordestina e pelas enchentes. Dirigiu os espetáculos da trilogia das águas numa relação entre atores, moradores e deslocamento urbano pela linha de trem. Atualmente, desenvolve trabalhos e pesquisas pautados em processos biográficos e autobiográficos.
Referências BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 2008. FONTES, Paulo. Um Nordeste em São Paulo. São Paulo: FGV, 2008.
Nota 1
Trecho extraído da entrevista realizada com Severino Lima da Silva.
SERTÕES, IDENTIDADES E REPRESENTAÇÕES
João Júnior
65
2.
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
67.
O SERTÃO NORDESTINO COMO UM MONOPÓLIO DE SENTIDO Elder Patrick
88. O PASSADO, O PRESENTE
E O PRETÉRITO IMPERFEITO DA MÚSICA SERTANEJA Brian Henrique de Assis Fuentes Requena
96. O SERTÃO QUE AS ARTES
AJUDARAM A CRIAR Maria Hirszman
103.
A MULHER NA POESIA DO PAJEÚ Isabelly Moreira
109.
ENTREVISTA – O SERTÃO INSTRUMENTAL DE CACÁ MALAQUIAS Marcel Fracassi
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
Elder Patrick
O SERTÃO NORDESTINO COMO UM MONOPÓLIO DE SENTIDO Elder Patrick
O sertão nordestino construiu em torno de si um monopólio de significado. Durante as décadas de 1930 e 1970, embora existissem diversos espaços rurais identificados como sertões, apenas um em específico passou a condensar em torno de si a imagem da síntese do mundo rural brasileiro, do sertão por excelência. Esse ganhou força simbólica e política à medida que se ampliaram as formas de produção, circulação e consumo de linguagens artístico-culturais específicas, tornadas bens de consumo simbólico, como a literatura, o cinema, a música popular e as telenovelas. Tal monopólio de sentido somente se tornou possível em meio à modernização cultural brasileira, processo que corresponde à integração de dispositivos tecnológicos e industriais, como o cinema, o rádio, o disco e a televisão. No âmbito desse processo, o sertão nordestino passou a concentrar um poder simbólico de representação do mundo rural brasileiro, esvaziando de sentido e poder os demais sertões e as suas respectivas representações rurais, como o interior de São Paulo, Minas e Goiás. Esse processo consolidou um monopólio de sentido, ancorado em quatro registros socioculturais: 1) o registro sociocultural da fome, 2) o registro sociocultural da violência; 3) o registro sociocultural da resistência; e 4) o registro sociocultural da criação artístico-popular e da ludicidade. Conjugados, esses quatro registros exercem uma força de atração simbólico-cultural no imaginário social brasileiro semelhante ao ímã – ao se falar de sertão, ao se mobilizar essa palavra, emergem significados, imagens e tipos, como o retirante, o vaqueiro, o cantador popular, a seca, o coronel, as festas juninas, o líder messiânico religioso, o sanfoneiro, a paisagem árida e tórrida da caatinga, o cangaço, a literatura de cordel e a culinária típica.
Introdução
A
palavra sertão é uma corruptela do aumentativo “desertão”, criada pelos colonizadores portugueses durante os séculos XVII e XVIII, quando esquadrinhavam o território da colônia em busca de riquezas. Etimologicamente, designa lugar distante, ermo, separado dos locais habitados. O sertão era simplesmente um espaço rural desconhecido e distante dos espaços
urbanos mais povoados – no caso brasileiro, os centros litorâneos costeiros. Tratava-se de um lugar abstrato, evasivo e indefinido. Poderia estar bem ali, após o sítio central da cidade, ou bem acolá, matas e rios adentro. Nos dicionários da língua portuguesa, o adjetivo correspondente de sertão, sertanejo, diz-se de alguém rude, silvestre, do sertão. Todavia, no decurso do século XX, especial-
67
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
68
mente entre os anos 1930 e 1970, um espaço geográfico e simbólico-cultural específico passou a reter para si a ideia do sertão por excelência, do espaço que melhor traduzia e representava o mundo rural brasileiro – o sertão nordestino. Entre as décadas de 1930 e 1970, os muitos sertões existentes no extenso território nacional sofreram um esvaziamento e uma diluição de significado, ao passo que um sertão específico, um espaço geográfico e simbólico-cultural determinado, o espaço que compreende a região semiárida do interior da antiga Região Norte, o interior daquela imensa região, passou a monopolizar para si um conjunto de significados que o fizeram se descolar dos demais sertões e espaços rurais brasileiros. Com corolário, o sertão nordestino passou a exercer um monopólio de significado sobre os demais sertões brasileiros e sobre a representação geral do imaginário rural nacional. Significa dizer que, entre os muitos sertões possíveis e os respectivos espaços rurais narrados, representados e projetados no imaginário nacional, o mais conhecido, nacionalizado, definido e delimitado é o sertão nordestino. Ao se falar de sertão, ao se mobilizar essa palavra no contexto sociocultural brasileiro contemporâneo, invariavelmente imagens, signos, ideias, valores, representações, estigmas e estereótipos se vinculam diretamente a um espaço rural específico do interior do Brasil – o sertão nordestino. São imagens, lendas, canções, livros, filmes e documentários acerca da seca e da caatinga ressequida, das lideranças messiânicas e da religiosidade popular, do cangaço, do coronel e do vaqueiro, dos jagunços, do latifúndio, das
tradições rurais e pastoris, da culinária específica, da migração, da resistência, da cultura popular, da literatura de cordel, das festas juninas e das criações artísticas, do forró e do baião, das quadrilhas juninas e das danças. Todos esses aspectos exercem uma demasiada força de atração, como uma espécie de ímã simbólico-espacial: ao se falar de sertão e de rural brasileiro, emerge com toda força o interior da Região Nordeste. Essa não é, contudo, uma defesa estética e/ou normativa do sertão nordestino, não significa que outras regiões não sejam sertões, tampouco que outros espaços rurais não tenham construído e projetado as suas identidades, como os espaços rurais do Rio Grande do Sul, de São Paulo e de Goiás, para citar apenas os mais conhecidos. O conceito de monopólio de significado diz respeito à retenção de um dado significado coletivo (uma crença, um valor, uma representação, uma imagem, um estigma, uma identidade, uma ideia ou todos esses aspectos em conjunto) que um determinado grupo, classe, instituição, país ou região construiu, sedimentou e projetou sobre os demais, exercendo poder simbólico, político e econômico sobre esse significado. Esse conceito foi urdido e aplicado pelo sociólogo alemão Norbert Elias (1897-1990), em seu livro clássico O Processo Civilizador. De acordo com o autor, durante os séculos XV e XIX, as principais sociedades estado-nacionais ocidentais, França e Inglaterra, construíram um monopólio de significado em torno da ideia e do conceito de civilização. Em O Processo Civilizador, volumes I e II, Elias realiza um esforço interpretativo para explicar, a um só tempo, a direção da mudança ocorrida no padrão da sensibilidade
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
Elder Patrick
e da agressividade das principais socieda- se perceberam e se diziam mais civilizadas, des ocidentais; a criação e consolidação do logo, superiores. monopólio legal do uso da força física e da O processo civilizador descrito e analitributação por parte dos Estados ocidentais; sado por Elias não advoga ou imputa qualquer e a maneira como essas mesmas sociedades superioridade civilizadora imanente às sociese autorrepresentaram e construíram as suas dades ocidentais. Quem o fez foram os grupos autoimagens, julgando-se mais civilizadas e, e camadas das intelligentsias francesas, inglelogo, superiores. sas e alemãs, que lançam mão de conceitos O processo civilizador diz respeito ao como kutor, volk, civilização, indivíduo, comodo particular como as principais socieda- letividade, humanidade e muitos outros para des ocidentais construíram, lenta e gradati- infundir significações e ideais positivos sobre vamente, uma economia psíquico-pulsional si e o mundo, estabelecendo um monopólio de (um sistema de autocontrole das emoções, significado em torno da ideia e da positivação das pulsões e dos instintos) que, em meio a atribuída à palavra civilização, que contém e idas e vindas, resultou na foraciona noções comportamenmação dos Estados nacionais O sertão nordestino tais como polidez, racionalidainstaurou um significado e nos seus monopólios legais de, autocontrole, equilíbrio, que, na longa duração, do uso regular da força física. se autonomizou em erudição e conhecimento. Esse feixe de processos de relação aos demais Tomo de empréstimo a catelonga duração não possui um sertões e interiores goria de monopólio de sentido sentido preestabelecido, não nacionais e projetou para compreender e explicar a foi calculado e planejado pre- a regionalidade do construção do significado do viamente, não foi empreen- próprio Nordeste. sertão nordestino no decurdido tão somente por um so de formação da sociedade indivíduo ou uma camada social específica, brasileira. O sertão nordestino instaurou um tampouco está concluído ou é irreversível, significado que, na longa duração, se autonomas passou a ser perseguido por determina- mizou em relação aos demais sertões e intedos grupos, transmitido entre as gerações, e riores nacionais e projetou a regionalidade do formou estruturas sociais de personalidades próprio Nordeste. Ao longo do século XX, o (ELIAS, 2001) e instituições corresponden- termo sertão passou a dispensar o qualificatites, como as cortes, os Estados, os órgãos vo. É isso que significa um monopólio de senjudiciários, os exércitos profissionais, as tido. Esse conceito busca designar e capturar polícias, os parlamentos etc. A categoria de a construção de um axioma, que encerra em civilização é, para Elias, uma construção na- torno de si um conjunto de referências que tiva. Trata-se de um imperativo moral, um dispensa maiores explicações, que, paulativalor simbólico e uma projeção normativa namente, tende a naturalizar os significados extremamente positivada, cunhada por de- e suas origens. terminados grupos e segmentos das sociedaAté a primeira década do século XX hades ocidentais que se projetaram no mundo, via no Brasil apenas duas grandes regiões: o
69
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
70
Agreste MA
CE
Meio-Norte
RN PB
PI PE
AL SE
Sertão
BA Zona da Mata MG Semiárido
Figuras 1 e 2: Mapas da antiga Região Norte do Brasil (hoje Nordeste) Fonte: Banco do Nordeste (2018).
Sul (ou Centro-Sul, localizado da Bahia para baixo) e o Norte, localizado acima da Bahia. A gigantesca Região Norte abrigava três zonas mais ou menos diferenciadas e distintas: 1) o imenso e pouco conhecido território que recobre a úmida Floresta Amazônica; 2) o litoral costeiro, coberto pela Mata Atlântica (também conhecido como Zona da Mata, principal núcleo de povoamento até o início do século XIX, onde estavam situadas as cidades de São Luís, Recife e Salvador); 3) e a contínua zona seca e árida que se estendia depois do litoral, abarcando parte do interior da província/estado de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí. Portanto, até por volta da década de 1920, ainda não havia a Região Nordeste. A vastíssima faixa que recobre a Floresta Amazônica era um sertão,
assim como o era também a extensa zona árida e ressequida afastada do litoral. Do mesmo modo, eram sertão também as zonas mais afastadas dos principais centros urbanos de povoamento do Sul (ou Centro-Sul) do país – Rio de Janeiro e São Paulo. Com efeito, no início do século XX, em um país eminentemente rural e agrícola, quase tudo era sertão. Os mapas acima demonstram aspectos da circunscrição espacial das zonas 2 e 3 que compunham o gigantesco Norte. Se até a segunda década do século XX quase todo o território nacional era visto como um sertão, por que então um sertão específico, um espaço em particular, monopolizou para si determinados significados e a ideia de sertão por excelência? Minha hipótese é que esse espaço em particular, o sertão nordestino, foi objeto, mais do que os demais
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
sertões e espaços rurais, de uma representação literária, fílmica e musical muito mais potente, poderosa, nacionalizada e politicamente interessada por parte de diferentes gerações de intelectuais e artistas entre as décadas de 1930 e 1970. Esse foi exatamente o período de maior ampliação da produção, da circulação e do consumo do conteúdo de determinadas linguagens artístico-culturais, como a literatura, o cinema, a música popular e a televisão. Foi em meio ao processo de modernização cultural brasileira, ou seja, de integração dos sistemas técnicos, tecnológicos e industriais de transmissão, circulação e consumo de bens simbólico-culturais (jornais, livros, revistas, filmes, músicas, novelas etc.), que o sertão nordestino passou a figurar como o sertão nacional e o espaço rural por excelência. A literatura, o cinema, a música popular e a televisão (telenovelas) projetaram e nacionalizaram – cada um a seu modo, e abrangendo diferentes públicos e camadas de consumidores – tipos humanos, instituições, crenças e uma determinada realidade socioeconômica. A combinação entre essa realidade econômica, política e cultural e a sua projeção e nacionalização literária, cinematográfica, musical e televisiva resultou em quatro registros socioculturais específicos: 1) o registro da fome; 2) o registro da violência; 3) o registro da resistência; 4) o registro da criação artístico-cultural e da ludicidade encantada. 1. O registro sociocultural da fome Das três grandes zonas que compunham o imenso e antigo Norte brasileiro até a segunda década do século XX, a mais conhecida era exatamente a zona litorânea/costeira, núcleo inicial do povoamento e colonização do
Elder Patrick
território brasileiro. Foi nessa zona litorânea e nas suas imediações que se estabeleceu, com maior pujança entre os séculos XVII e XIX, o modelo de exploração econômica agroexportador da plantation. Portanto, o Norte do litoral – com seus núcleos urbanos de povoação e atividade econômica – era bastante conhecido nas duas primeiras décadas do século XX. Muito menos conhecidas, no entanto, eram as duas outras zonas que compunham o antigo Norte – a vasta área úmida que recobre a Floresta Amazônica e a longa zona árida e seca que se estendia desde o Piauí até parte de Minas Gerais. Essa vasta área seca, pouco fértil e distante do litoral somente aos poucos foi sendo povoada e explorada. Durante o primeiro e o segundo século de colonização, o espaço caracterizado pelos vastos planaltos áridos e irregulares, e que tem como expressão vegetal os cactos e xerófilas que caracterizam a caatinga, permaneceu incólume à presença do colonizador português. O elemento socioeconômico dinamizador desse embrionário povoamento e penetração pelo interior adentro foi a busca por metais preciosos, a captura e escravização das populações indígenas e a criação dos rebanhos bovinos. Os primeiros rebanhos bovinos ocuparam o agreste pernambucano e o Recôncavo Baiano, em uma margem segura de distância para que não danificassem as plantações de açúcar e outras culturas tropicais dos primeiros séculos de colonização e atividade econômica, como o fumo, por exemplo. Durante os séculos XVIII e XIX, multiplicaram-se as criações bovinas em direção ao interior dos estados, chegando até o Rio São Francisco e, mais tarde, dirigindo-se ao interior do Ceará e do Piauí. Segundo
71
72
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
Darcy Ribeiro, em meados do século XVII, exímio condutor de boiadas, produziu no os rebanhos bovinos nessas regiões já tota- encadeamento geracional um dos cantos do lizavam mais de 700 mil cabeças de gado, trabalho mais pungentes, dolentes e comodefinindo e consolidando aquilo que o autor ventes da cultura popular rural brasileira – o canto do aboio. Um canto masculino, criado chamou de civilização dos currais. À medida que se expandiram os grandes e difundido entre as gerações de vaqueiros rebanhos bovinos, especialmente nas zonas que viveram nessa extensa faixa árida e resmais áridas e distantes do interior dos esta- sequida do antigo Norte brasileiro. dos da Bahia, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, A isolada, distante e pouco conheciRio Grande do Norte, Ceará e Piauí, chega- da civilização dos currais, com seus tipos -se ao século XIX com a organização desse humano-sociais específicos (o coronel latiterritório marcada pelo complexo socioeco- fundiário, o vaqueiro, o beato messiânico, o nômico do grande latifúndio pastoril (exten- cangaceiro, os rebanhos e a paisagem tórrisas propriedades de terras pertencentes às da), passou a ser mais conhecida e esquadriaristocracias rurais); tendo no seu entorno nhada à medida que os principais núcleos de pequenas vilas e um número povoamento, São Paulo e Rio grande de trabalhadores ru- A presença do de Janeiro, passaram a tomar rais dependentes do latifún- vaqueiro definiu um conhecimento de um dos fetipo humano muito dio pastoril, notadamente os nômenos mais dramáticos e específico, tornado vaqueiros – trabalhadores que recorrentes da história natuum dos diletos ícones lidavam com os rebanhos boral e social daquele território: e símbolos literários, vinos, domesticando-os, ma- cinematográficos e as secas. Foi esse fenômeno nuseando as crias, marcando musicais presentes no o principal responsável pela a posse do dono dos rebanhos imaginário nacional. construção do registro soe, principalmente, protegendo ciocultural da fome, um dos o patrimônio, pois do gado se extraía grande aspectos que marcam a construção e a departe da dieta alimentar (leite, carne, queijo finição do monopólio de sentido em torno etc.), e a circulação de mercadorias, como do sertão nordestino. Embora as secas e as o couro e o próprio rebanho. A presença longas estiagens fossem um fenômeno redo vaqueiro, a sua tão relevante atuação no corrente na zona árida e distante do antigo manuseio dos rebanhos, superando muitas Norte, somente no final do século XIX esse vezes longas distâncias para conduzir gran- fenômeno passou a impactar as elites polídes contingentes de animais para áreas mais ticas e intelectuais de então. Esse impacto úmidas e com mais alimentos durante os somente pôde ocorrer em razão do surgiperíodos de secas, definiu um tipo humano mento de novas tecnologias de captura e muito específico, tornado um dos diletos íco- produção de imagens, como a fotografia e o nes e símbolos literários, cinematográficos e cinema. Por meio dessas técnicas urbanas musicais presentes no imaginário nacional. e industriais, uma porção do antigo Norte O vaqueiro das caatingas áridas e ermas, começou a ser descoberta.
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
No dia 20 de julho de 1877 foram publicadas no jornal O Besouro, do Rio de Janeiro, as primeiras imagens acerca das vítimas do fenômeno das secas. Tratava-se de um conjunto de registros fotográficos exibindo corpos de crianças e adultos esquálidos e famintos, vítimas de uma prolongada seca que acometia os estados do Ceará e Piauí.1 São em sua maioria fotografias de crianças subnutridas em franca aparência cadavérica. Essa foi apenas a primeira leva de fotografias que, naquele ano, inundariam e recheariam as páginas dos principais jornais e suplementos literários do Rio de Janeiro. O realismo da linguagem fotográfica, exibindo o aspecto cadavérico de uma população em fuga, faminta e aterrorizada pelos influxos impiedosos da aridez tórrida da caatinga, instaura os primeiros liames sociológicos de uma rede de significação que chega aos nossos dias. As denúncias que subjazem às próprias fotografias, assim como os debates e discursos ensejados por conta da publicação das mesmas, modulam e redirecionam a sensibilidade intelectual-artística exatamente no momento em que a narrativa literária do nativismo romântico começa a dar os primeiros sinais do seu ocaso. Foi nesse momento específico que, no interior da esfera cultural cortesã do Império brasileiro, um campo semântico, estruturado em torno de uma nova ordem simbólica e discursiva (como seca, caatinga, jagunço, fome, banditismo etc.), pouco a pouco vai se instaurando. É na passagem para a penúltima década do século XIX que, mediante a tessitura e o encadeamento de certos bens culturais, como a imprensa e a literatura (uma espécie de imprensa literária), a seca se torna uma
Elder Patrick
calamidade nacional. Já no final da década de 1880, assistia-se a espetáculos teatrais no Rio de Janeiro representando o sofrimento dos retirantes no trajeto de chegada aos centros urbanos do litoral. A seca não era um problema humanitário, político e social existente para a outra porção do antigo Norte conhecido, aquela que, de acordo com Gilberto Freyre, era úmida, fértil e cheia de árvores gordas, e abrigava o complexo sociocultural da casa-grande e da senzala. Paulatinamente, nas duas primeiras décadas do século XX, o termo Nordeste surge em substituição do termo Norte. O advento do termo Nordeste foi resultado das injunções políticas e simbólico-culturais tributárias do impacto causado pelo fenômeno das secas, quando então passou a existir um Norte/Nordeste do interior, em oposição a um Norte/Nordeste do litoral. O termo Nordeste é usualmente utilizado para designar a área de atuação da Inspetoria Federal de Obras contra a Seca (Ifocs), criada em 1919. Nesse dispositivo institucional, o Nordeste surge como a parte do Norte sujeita às estiagens e, por essa razão, merecedora de especial atenção do poder público federal. O Nordeste é, em grande medida, filho das secas; produto imagético-discursivo de toda uma série de imagens e textos produzidos a respeito desse fenômeno, desde que a grande seca de 1877 veio colocá-la como problema mais importante dessa área. Esses discursos, bem como todas as práticas que esse fenômeno suscita, paulatinamente instituem-no como um recorte espacial específico (ALBUQUERQUE, 1996). O chamado romance social da década de 1930 ou o regionalismo dos anos 1930
73
74
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
reforçou e nacionalizou o registro sociocul- verdes. Espaço da luz que cega, da indefinitural da fome em torno do sertão nordestino. ção entre homens e animais, da loucura, da Em uma década de profunda agitação políti- prostituição, dos retirantes. Romances conco-ideológica, os romances da década de 1930 sagrados, como Vidas Secas (1939), de Gracicontêm uma identificação integral dos auto- liano Ramos, e O Quinze (1931), de Rachel de res e intelectuais com sua paisagem humana Queiroz, além de muitos outros, exploram a e natural, com sua natureza, passando a sen- linguagem simbólica e política desse registro ti-la, a vê-la e a dizê-la como sociocultural demasiado forte nunca antes se fez. O romance Para autores como e contundente – a fome. Esta Rachel de Queiroz e da década de 1930 dotou uma passa a ser identificada e locaGraciliano Ramos, foi parte do antigo Norte de uma lizada nos corpos esquálidos a civilização do couro visibilidade que passou pelo ou dos currais, e não a dos sertanejos migrantes. A trabalho de consecução de civilização do açúcar, fome é resultado da aridez uma nova linguagem e uma formada pelo complexo inóspita do meio, mas princinova maneira de se narrar o litorâneo da casa-grande palmente do descaso político encadeamento das histórias. e da senzala, que gestou e dos mecanismos de dominaNa estruturação da narrativa nossa nacionalidade. ção econômica existentes nados romances de 1930, o Norquele território, cada vez mais deste (palavra já relativamente difundida nos identificado como um espaço-fome. meios oficiais, a partir do que destaca AlbuO drama da seca e de tudo que ela dequerque Jr.) é sempre o espaço das caatingas, sencadeia atravessa as escolas estéticas e das pequenas cidades empoeiradas, onde se os movimentos de renovação da linguagem destacam entre as construções a igreja e en- literária existentes nos anos 1930 e 1940. No tre as pessoas e personagens locais o padre, o final da década de 1930, em razão do impaccangaceiro, o vaqueiro e o coronel. to dessas obras e do regionalismo como um Para autores como Rachel de Queiroz e todo, já é possível perceber claramente uma Graciliano Ramos, foi a civilização do couro justaposição entre Nordeste e sertão. Ou seja, ou dos currais, e não a civilização do açúcar, há muitos sertões no território nacional, mas formada pelo complexo litorâneo da casa- somente um começa a definir um conjunto -grande e da senzala, que gestou nossa nacio- de significados claros e delineados, e um dos nalidade, nossa personalidade mais íntima e mais fortes e contundentes é o registro socioinconfessa. Fazer um levantamento afetivo cultural da fome. Essa justaposição causou e político desse espaço, de seus espinhos e incômodo a um dos maiores intelectuais seus sonhos, é traçar a própria história da regionalistas, o sociólogo pernambucano resistência e, por conseguinte, da revolução. Gilberto Freyre, um dileto representante do Trata-se do espaço físico e social do fogo, da antigo Norte conhecido e celebrado, o norte brasa, da cinza, do céu transparente, da ve- costeiro do litoral. Assim se pronunciou Gilgetação rasteira, espinhosa, onde somente berto Freyre, logo no primeiro capítulo (“A o mandacaru, o juazeiro e o papagaio são cana e a terra”) do seu livro Nordeste:
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
A palavra Nordeste é hoje uma palavra desfigurada pela expressão “obras do Nordeste”, que quer dizer “obras contra as secas”. E quase não sugere senão as secas. Os sertões de areia seca rangendo debaixo dos pés. Os sertões de paisagens duras doendo nos olhos. As sombras leves como umas almas do outro mundo com medo do sol [...] Mas esse Nordeste de figuras de homens e de bichos se alongando quase em figuras de El Greco é apenas um lado do Nordeste. Outro Nordeste. Mais velho que ele é o Nordeste de árvores gordas, de sombras profundas, de bois pachorrentos, de gente vagarosa e às vezes arredondada quase em sanchos-panchas pelo mel de engenho, pelo peixe cozido com pirão, pelo trabalho parado e sempre o mesmo, pela opilação, pela aguardente, pela garapa de cana, pelo feijão de coco, pelos vermes, pela erisipela, pelo ócio, pelas doenças que fazem a pessoa inchar, pelo próprio mal de comer terra. Um Nordeste onde nunca deixa de haver uma mancha de água: um avanço de mar, um rio, um riacho, o esverdeado de uma lagoa (FREYRE, 2013, p. 93 ).
A citação de Albuquerque Jr. e de Gilberto Freyre permite antever que, por meio do fenômeno das secas e suas repercussões político-culturais, ocorreu a sertanização paulatina do antigo Norte, e, por conseguinte, o nascimento do Nordeste. A consolidação do registro sociocultural da fome, por meio da privação causada pelas secas, foi decisiva para o advento do Nordeste. Outro aspecto que consolidou o registro sociocultural da fome que compõe o monopólio de sentido exercido pelo sertão nordestino diz respeito ao advento de uma filmografia específica
Elder Patrick
acerca do Norte distante do litoral, do Norte dotado de “paisagens duras doendo nos olhos”, como assinala Freyre. Essa filmografia, devotada aos aspectos políticos, econômicos e sociais dessa região, responde pelo epíteto de Cinema Novo. O Cinema Novo buscou na temática regionalista dos romances sociopolíticos da década de 1930 as imagens e os enunciados que falam da realidade coletiva do país, de sua miserabilidade e das condições de privação que acometiam boa parte da população nacional. Em seu manifesto de 1965, Uma Estética da Fome, o cineasta baiano Glauber Rocha defende a ideia de um cinema faminto, filmes que demonstrassem toda a fome e tristeza das populações latino-americanas; filmes que não tratassem da fome e da violência como temas, mas que também fossem famintos em razão da pobreza de seus meios de produção, a pobreza material de estilo sinalizaria a pobreza do mundo real. Para Glauber, a originalidade da América Latina era a fome, e a manifestação cultural mais nobre da fome seria a violência. Tudo o que fosse preciso e demasiado urgente seria, tal qual o guerrilheiro cubano que pegou em armas anos antes, a intervenção do cineasta com uma “câmera na mão e uma ideia na cabeça”. 2. O registro sociocultural da violência O paulatino processo de sertanização do Norte, o respectivo nascimento do Nordeste e, por conseguinte, a justaposição entre sertão e Nordeste ganham ainda mais força com a construção e projeção do registro sociocultural da violência. Em 1896, eclodiu no longínquo interior da Bahia, às margens do Rio Vaza-Barris, um conflito que imprimiu
75
76
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
novos traços socioculturais à constelação de insumos discursivos e simbólicos sobre os significados do sertão. A campanha de Canu- quais se ergueu o regionalismo literário da dos foi objeto de quatro campanhas milita- década de 1930. Na obra, aparecem formures, teve duração, com intervalos esparsos, lados os pares de opostos que irão perpassar de dois anos, mobilizou por parte do Exército os discursos e recursos mobilizados em torBrasileiro os mais sofisticados recursos bé- no da nacionalidade brasileira: litoral versus licos disponíveis na época. O arraial de Ca- sertão, urbano versus rural, sertanejo versus nudos foi o segundo núcleo de povoamento paulista etc. Atuando como uma espécie de mais populoso da Bahia no final do século painel histórico e semiológico da sociedade XIX, superado apenas pela capital Salvador. brasileira, instaura uma dupla tensão. Na Abrigou, no ápice do conflito, mais de 5 mil pena de Euclides da Cunha, ora se execra o casas. Teve em sua frente de batalha quatro sertanejo – tratado muitas vezes como facorrespondentes permanentes de guerra, cínora e fanático –, ora se exalta o caráter enviados pelos principais de resistência e tenacidade Os Sertões ganha veículos de comunicação dele, tratado como “rocha do Centro-Sul do país, entre importância histórica para viva da nação”. A resistência a construção da produção eles Manoel Benício e Eurevelada por Canudos, amalliterária brasileira. O livro clides da Cunha. Do punho gamada em três vitórias dos foi publicado no Rio de desses dois corresponden- Janeiro quando a cidade conselheiristas contra as tes brotaram dois dos livros experimentava um conjunto tropas republicanas, evimais importantes para a de intensas transformações denciava, segundo os croformação do monopólio de urbanas e culturais. nistas de então, o recurso, sentido exercido pelo sertão a todo custo, do expediente nordestino. Ambos foram publicados poucos da violência por parte da população sertaanos após o fim do conflito de Canudos. Ma- neja. Segundo as mesmas crônicas, era uma noel Benício era correspondente do Jornal prova inconteste do perfil bárbaro daquela do Comércio, do Rio de Janeiro, e publicou, sociedade, do regime de atraso endêmico em 1899, O Rei dos Jagunços; já Euclides ao qual estava submetida. “Do apego febril da Cunha acompanhou de perto as encar- às coisas da terra e da obediência cega a um niçadas batalhas de Canudos como corres- fanático messiânico.” pondente do jornal O Estado de S. Paulo, da Durante os anos do conflito, a imprencidade de São Paulo, e publicou, em 1902, sa do Centro-Sul publicou artigos, revistas, Os Sertões. fotografias, imagens, folhetins, registros Os Sertões ganha importância históri- iconográficos, enfim, toda sorte de mateca para a construção da produção literária riais literários e não literários atinentes ao brasileira. O livro foi publicado no Rio de conflito. Na capital da República, as pugnas Janeiro quando a cidade experimentava de Canudos, os rechaços sofridos pelas exum conjunto de intensas transformações pedições enviadas pelo Exército Brasileiro urbanas e culturais. Os Sertões forneceu os eram objeto de discursos no Congresso, de
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
Elder Patrick
anedotas nas confrarias e nos cafés, de ar- de Silvino, ao mesmo tempo que anuncia tigos nos jornais, de peças e encenações nos uma recompensa oferecida pelo governo brateatros, de temor nas escolas, de espanto e sileiro para quem soubesse notícias de seu surpresa nas faculdades e de alerta geral nos paradeiro e de seu bando. O aparecimento quartéis. Os relatos dos atos de violência, do cangaço, do messianismo e do infortúnio decapitações e mutilações cometidos pelos das secas traça um registro duplo de identificonselheiristas contra os soldados do Exér- cação do sertão: fome e violência. Esses dois cito, assim como a fúria “fanática” do líder registros só se consolidam à medida que o religioso Antônio Conselheiro, impregnavam espaço mais interior da antiga Região Norte a imprensa e constituíam a opinião pública ganha nova visibilidade na produção literária corrente. Notícias acompanhadas de foto- pós-1930 e na produção cinematográfica dos grafias e fotogramas surpreendiam e repug- anos 1950 e 1960. Não é por acaso que os elenavam essas populações. Eram cadáveres e mentos como o cangaço, o messianismo e o corpos mutilados, quando não ciclo das secas serão trabalhaO aparecimento em completo estado de privados e escolhidos pelas narratição. Uma batalha que se travava do cangaço, do vas literária e cinematográfica messianismo e do em um ambiente inteiramente para sustentar um projeto de infortúnio das secas inóspito, uma população de fadenúncia política. traça um registro cínoras, guiada por um fanático duplo de identificação O Cinema Novo e o cinema messiânico em trajes e aspecto do sertão: brasileiro de modo geral tambárbaros, desafia a República fome e violência. bém corroboraram diretamene a boa ordem do mundo civite para a construção do registro 2 lizado. Esse era o tom das manchetes e das sociocultural da violência. Ao todo, entre a décolunas políticas veiculadas nos principais cada de 1950 e meados dos anos 1960, foram jornais do Centro-Sul do país. mais de 20 filmes tematizando o fenômeno do Dezessete anos após o término do con- cangaço, ora narrando a vida de seu principal flito de Canudos, relatos jornalísticos em líder, Lampião, ora mobilizando o cangaço no 1915, publicados em revistas e jornais do interior de uma complexa trama narrativa, Centro-Sul, dão conta de diversos bandos como fez Glauber Rocha. Trata-se de uma armados espalhados pelos rincões do Norte problemática formadora de uma geração de do país, fazendo suas próprias leis e ofere- intelectuais e cineastas. Sob os mais diversos cendo seus serviços bélicos a quem pudes- ângulos, o cangaço se inscreve na teia narrasem interessar. Um desses grupos, o mais tiva e discursiva do cinema brasileiro. O canpropalado naquela década, era liderado pelo gaço representa um dos traços do sistema de ex-agricultor Antônio Silvino (1887-1934), assimetrias que marcou o interior do antigo uma espécie de precursor do líder do cangaço Norte durante os primeiros séculos de ocupaVirgulino Ferreira da Silva – o Lampião. Em ção. Para os cineastas do Cinema Novo (como março de 1916, a revista Selecta, sediada no Glauber Rocha e Nelson Pereira dos Santos), Rio de Janeiro, publica algumas fotografias tomados pela verve de um cinema crítico e de
77
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
78
denúncia, realista por excelência, importava acentuar e exibir, por meio do cangaço, esse choque de violência, Estado versus cangaço, violência versos violência. 3. O registro sociocultural da resistência Na década de 1960, o fenômeno do cangaço foi convertido em um polo de positividade e tenacidade das populações do interior do antigo Norte. Se na década de 1930 as obras literárias têm mais um tom de denúncia, manifestando certo proselitismo, nas décadas seguintes as linguagens artísticas passam a ser vistas e utilizadas enquanto mecanismo de intervenção direta na realidade, como militância junto ao “povo”. O movimento de cultura popular (o Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes e outras organizações políticas e culturais), por exemplo, elegeu as figuras do cangaceiro, do vaqueiro e do jagunço para fazer desses personagens símbolos de forças sociais de resistência e tenacidade. O sertão/Norte (o Nordeste) torna-se um tema e um espaço privilegiado à medida que expressaria a área mais subdesenvolvida e, ao mesmo tempo, a área mais “autenticamente” nacional do ponto de vista simbólico-cultural, em que a alienação política e cultural era menor, dadas as suas tradições populares e o isolamento natural. Para a esquerda nacionalista brasileira, a construção da nação se daria com o encontro entre a Região Sul, que forneceria o desenvolvimento técnico e político, e o Nordeste/sertão, que forneceria as tradições culturais, entre elas a resistência popular. De modo geral, o Cinema Novo operou uma inversão no olhar e no discurso
cinematográfico nacional. Ao contrário de produções como O Cangaceiro, de Lima Barreto, que olha para os rincões rurais a partir da cidade e dos códigos urbanos, os filmes do Cinema Novo olham para a cidade a partir do interior do território, olham para o mar a partir do deserto. Assim, pretende-se olhar o Brasil não a partir da sociedade urbano-industrial-profissional-burguesa, mas, antes, a partir de seu núcleo interiorano subdesenvolvido, prenhe de todas as assimetrias, fome, isolamento e violências. O interior do antigo Norte, agora cada vez mais delimitado como o grande e máximo interior nacional, o espaço rural que sintetiza os demais rurais, é visto pelos cineastas do Cinema Novo como síntese da situação de subdesenvolvimento, de alienação, de submissão, de uma sociedade cindida entre classes e estamentos; uma visão exemplar que poderia ser generalizada para qualquer país do então Terceiro Mundo. Em filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, os atos de violência e insubmissão se seguem a momentos rotinizados de aceitação, sendo emoldurados por uma imagem e um som que denunciam certa imobilidade e lentidão das coisas. Os momentos de silêncio preparam, como em uma acumulação progressiva de contradições, o terreno da irrupção de forças incontroláveis. Deus e o Diabo na Terra do Sol é marcado por uma verdadeira cosmologia do interior do Nordeste. Os mitos, as histórias e os signos dialogam com os processos de longa duração histórica; como menciona o próprio diretor, “as coisas que pertencem ao mundo material, concreto, histórico, misturam-se às coisas de um mundo criado artificialmente”.
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
Elder Patrick
O foco da narrativa e da mobilização do O discurso do beato se compõe de várias esregistro da violência tem no personagem do catologias que acompanham os muitos movaqueiro Manoel o núcleo central. Ao con- vimentos messiânicos que, desde Canudos, trário de Fabiano, de Vidas Secas (romance reaparecem de tempos em tempos no interior e filme), que resolve seguir o caminho da paz do Nordeste. A retórica de Sebastião, assim e da obediência, Manoel, após assassinar seu como os beatos de Pedra Bonita, Caldeirão patrão, ingressa no séquito de seguidores do Grande e Santa Brígida, oferece um mundo beato Sebastião, e depois no bando armado restaurador à fome e ao sofrimento do sertade Corisco. O filme começa capturando a pai- nejo nordestino pobre e desamparado. sagem do interior do Nordeste. A primeira Canudos, Corisco, Antônio Conselheiro, sequência exibe a primeira força da trama, o Padre Cícero e Lampião são todos nomesbeato Sebastião vagando pelas paisagens das -força, evidenciam a permanente atualização caatingas seguido por um pequeno grupo de de uma memória mítico-simbólica, com clafiéis. Sebastião é a síntese da religiosidade ros contornos de escatologias, de fantasias salvacionista do mundo rural coletivas e conteúdos mágibrasileiro, em particular do A justaposição entre cos de encantamento, muiinterior do Nordeste; aquele sertão e Nordeste é total to recorrentes também nas que incorpora o sofrimento e e o processo paulatino canções populares dos anos de sertanização do a resignação (ainda mais por 1960 e 1970, nos conteúdos se tratar de um homem negro), antigo Norte, iniciado cinematográficos e nos teamas ao mesmo tempo anuncia no final do século XX, trais. O narrador se debruça se completa mediante e oferece como compensação sobre ela, faz emergir seus a consolidação dos a este mundo um reino de feraspectos mais significantes registros socioculturais tilidade e fartura, um paraíso da fome, da violência e e contundentes. Condensa feito de abundância para da resistência. personagens e sujeitos hiscompensar a fome e a privatóricos em um mesmo plano ção. Sebastião exorta o Império e condena narrativo, em uma temporalidade síntese. a República, sustenta, assim como Antônio Assim como em Vidas Secas, Deus e o Diabo Conselheiro, uma rigorosa ética de vida. na Terra do Sol não circunscreve um espaAs falas de Sebastião são prédicas atua- ço geográfico preciso. Canudos poderia eslizadas de Antônio Conselheiro. Sebastião é tar na Bahia ou em qualquer outra unidade o encontro mítico de todos os líderes messiâ- federativa do Nordeste-sertão; o massacre nicos – Antônio Conselheiro, Pedro Batista da Grota do Angico foi em Sergipe, na frone Padre Cícero, entre tantos outros. Não por teira com Alagoas, mas poderia ter sido em acaso, o lugar das pregações de Sebastião é qualquer outro local; da mesma maneira, a o morro de Monte Santo, localizado no inte- comunidade de Monte Santo poderia estar rior remoto da Bahia, próximo à antiga sede no norte da Bahia ou em qualquer latitude do de Canudos, local muito visitado, desde o fim vasto sertão/Nordeste. Os filmes dialogam do século XIX, por romeiros e peregrinos.3 bastante, criam possibilidades para pensar
79
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
80
a produção cultural brasileira e sua avidez por experimentação estética e denúncia política. A essa altura, em meados da década de 1960, a justaposição entre sertão e Nordeste é total e o processo paulatino de sertanização do antigo Norte, iniciado no final do século XX, se completa mediante a consolidação dos registros socioculturais da fome, da violência e da resistência. 4. O registro da criação artística popular e da ludicidade O registro sociocultural da criação artística popular e da ludicidade tem diversas fontes e partiu de diversas direções. Desde a profusão da literatura de cordel e do repente, passando pela valorização literária e cinematográfica das lendas, anedotas, cantigas e cosmologias rurais. No entanto, nenhuma linguagem artística foi mais eficaz do que a música popular para projetar, nacionalizar e positivar o sertão nordestino. A música popular que realizou esse feito diz respeito ao gênero musical baião. Em sua poética musical, o gênero baião condensou os três registros culturais destacados anteriormente, positivando-os e projetando o imaginário rural-pastoril-árido do interior do antigo Norte (o novo Nordeste) por todo o território nacional durante os anos 1940 e 1950 através do rádio – o mais moderno, dinâmico e popular veículo de comunicação e consumo cultural do período. O gênero musical baião foi construído, sistematizado e difundido em suas linhas rítmico-melódicas pelos músicos e compositores Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, no transcorrer da década de 1940, no espaço urbano da cidade do Rio de Janeiro. O termo
baião é uma corruptela da palavra baiano, derivada de danças e festejos existentes no interior da Bahia, durante o século XIX. Diferentemente do coco de embolada (originário da Zona da Mata costeira do antigo Norte) e da moda de viola caipira (originária do interior dos estados de São Paulo e Mato Grosso), o baião não é um gênero musical de matriz rural. Ao contrário desses gêneros musicais, eminentemente rurais, não havia no interior do antigo Norte brasileiro (o Norte das caatingas e das secas) um gênero musical definido e sistematizado em suas linhas rítmico-melódicas. O que havia era um gênero poético-musical, o repente, que continha uma unidade sonora chamada baião, mas não um gênero musical, nucleado pela canção popular, como foi o caso do baião urbano-comercial criado, sistematizado e difundido por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira a partir de 1945. O chamado baião de viola (trecho sonoro que marca a introdução dos desafios e a poética musical dos cantadores repentistas) não foi suficiente para engendrar um gênero musical nucleado pela forma da canção popular. Esse material sonoro foi utilizado por Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira como um mecanismo de orientação dos seus processos criativos, desencadeado por um complexo e tortuoso processo de reativação e recriação das memórias lúdico-musicais de ambos, após uma longa ausência do interior do antigo Norte. A trajetória dos autores, bem como a incorporação de disposições artísticas e aprendizados múltiplos nos espaços musicais urbanos, nos estúdios de rádio e nas gravadoras de disco, resultou num processo constante de experimentação e criação
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
Elder Patrick
musical, que resultou no gênero musical da antiga região Norte) para o centro da criabaião. O gênero musical baião, difundido e ção lúdico-musical, e, por conseguinte, para nacionalizado nos anos 1940 e 1950, aproxi- o consumo musical que se ampliava. O baião mou a festa de Momo, o calendário junino e acentuou o monopólio de significado ligado o gênero musical, resultando na definição de ao sertão nordestino porque, por um lado, uma pauta musical para os festejos que cele- potencializou os registros socioculturais da bram a tríade de santos populares católicos. fome e da violência, presentes no interior Antes do advento do samba e das mar- da sua grade temática musical; por outro, chinhas carnavalescas, não havia gêneros mediante as especificidades da linguagem musicais específicos de Carnaval, tocava-se, musical e dos recursos tecnológicos do rádio até o final dos anos 1920, toda sorte de músi- e do disco, criou o polo de positividade ligado cas – inclusive gêneros musicais originários ao sertão nordestino, a própria criação lúda Zona da Mata costeira do antigo Norte, dica e artística. Uma dessas especificidades como o coco de embolada. A consistiu em fazer da própria O chamado baião de viola ascensão e a consolidação seca e do drama da migração do samba, nos anos 1930, (trecho sonoro que marca matéria-prima da aceleração conjugado às derivações a introdução dos desafios rítmica e dos estímulos core a poética musical dos das marchinhas carnavalesporais direcionados à dança. cantadores repentistas) cas, passaram a dinamizar A seca e a migração, além de não foi suficiente para o caráter lúdico da festa de engendrar um gênero mote lírico-dramático, foram Momo, confundindo-se com musical nucleado pela também temas dançantes e ela, forjando uma unidade forma da canção popular. eminentemente lúdicos. – principalmente no Rio de O gênero musical baião Janeiro – entre Carnaval, samba e marchi- foi decisivo para potencializar o processo já nha. Com o baião, o processo foi semelhante. em curso de sertanização do antigo Norte e, Até meados dos anos 1940, não havia gêneros por conseguinte, de nascimento definitivo musicais juninos, sobretudo porque a festa do Nordeste, justapondo sertão e Nordeste. abrigava um caráter gregário de matriz re- Um único exemplo evidencia a relevância ligiosa e familiar. A partir dos anos 1950, as do gênero musical baião para o processo marchas juninas e os baiões mais dançantes de monopolização de sentido construído e imprimiram, aos poucos, uma pauta musical exercido pelo sertão nordestino entre 1930 às noites de São João, São Pedro e Santo An- e 1970. Trata-se da série musical No Mundo tônio, fundindo a festa, o calendário e o baião. do Baião, transmitida pela rádio mais ouviO gênero musical baião foi decisivo para da no Brasil, e uma das emissoras mais moa construção do monopólio de significado dernas e potentes da radiodifusão mundial, exercido pelo sertão nordestino, posto que, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A série mediante o alcance da sua poética musical no foi ao ar pela primeira vez no primeiro sedecurso dos anos 1940/50, trouxe um sertão mestre de 1951, ocupando o horário nobre específico (o interior seco, árido e desértico do rádio brasileiro, as 21h, às terças-feiras.
81
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
82
Apresentada pelo locutor Paulo Roberto, contava com a presença regular do sanfoneiro Luiz Gonzaga, sendo escrita e dirigida pelo médico e compositor Zé Dantas e supervisionada pelo advogado e compositor Humberto Teixeira. Compareciam à série diversos cantores e grupos musicais, conhecidos e desconhecidos. Os números musicais recebiam a orquestração e os arranjos do maestro Guio de Moraes (parceiro de Gonzaga na canção “Pau de Arara”), cujos temas e o teor das canções eram sempre seguidos de explicações, muitas delas fornecidas pelos “doutores” do baião, Humberto Teixeira e Zé Dantas. A música que organizava o programa era conduzida como uma espécie de quadro geral, cuja moldura era tecida pelas melodias e poesias do baião, mas também consistia numa chave de acesso a um Brasil mais “denso” e “profundo”, distante e eminentemente rural, que saltava e sensibilizava por meio de personagens, estórias, anedotas, piadas, fontes de informação, digressões explicativas etc. Esses elementos concorreram para dotar o baião e o sertão nordestino de uma gramática específica de pertencimento, que não poderia mais prescindir de termos como tradição, autenticidade e criatividade. No Mundo do Baião era marcado, além de por músicas (xotes, xaxado, coco, maracatu, que gravitavam em torno do baião), pela narração de anedotas, crônicas e contos do sertão nordestino, reproduzindo reminiscências orais (a prosopopeia característica, o uso de determinados verbos, a atualização de palavras e os feitos idílicos de mitos e personagens do sertão nordestino) que marcam profundamente
as sociedades pastoris, como a lida com os rebanhos (notadamente o bovino) e o trabalho com a terra. Esses aspectos, produzidos e reproduzidos no rádio como uma espécie de pedagogia auditiva, colaboraram para, paulatinamente, circunscrever os limites sonoros do sertão brasileiro, cada vez mais identificado e representado por um sertão em particular, o nordestino. As narrações do locutor Paulo Roberto, eivadas de lirismo e de um apelo bucólico, desenhavam verdadeiras paisagens sonoras. Na penumbra da tarde, o sol encimando as serras clareia o horizonte distante [...] Êta sertão bonito! O sol tinge de vermelho escarlate esparsos tufos de nuvens que parecem marcas de beijos da noite que chega, na boca do dia que se despede [...] O gado gordo e sadio, com mugido de alegria; o coachá das rãs nos açudes e lagoas; a revoada das aves nas árvores mais frondosas e o fazendeiro (sorri) deitado numa rede no alpendre da casa grande [...] O vaqueiro do Nordeste, este homem valente e ágil, que com sua vestimenta de couro enfrenta os maiores perigos dentro do mato atrás de um boi, consegue dominar a brabeza de toda uma boiada, cantando uma canção característica. É o aboio. Ouvindo a cantiga, o gado caminha lentamente na estrada, parecendo entendê-la [barulho de gado mungindo] (narração da série No Mundo do Baião, apud VIEIRA, 2000, p. 165).
A transcrição acima revela, entre outros aspectos, o caráter didático da locução e de parte dos conteúdos veiculados na série. O perfil lúdico-instrutivo da série não
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
Elder Patrick
diferia muito dos programas realizados Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira) passou pelos folcloristas do rádio nos anos 1940 a ser o prefixo de diversas rádios espalhae 1950 (Almirante, Zé do Norte e Renato das pelos rincões nordestinos, algumas Murce, entre outros); o que o diferenciava, inclusive fora do Nordeste. no entanto, era a produção do programa. A Outro gênero musical, a moda de viola série contava com os poetas, os músicos e caipira, embora bem menos do que o baião, os próprios “pesquisadores” especialistas também falou e cantou o sertão, nesse caso em sertão, uma vez que, diferentemente o sertão caipira paulista, presente no rádio dos folcloristas do rádio, Dantas e Teixeira e no disco entre os anos 1930 e 1950. Essa (além de Gonzaga) não eram apenas pro- representação rural específica, projetada dutores, mas também criadores e siste- e nacionalizada pela canção popular, a limatizadores de expressões e informações, teratura e o cinema, não obteve, todavia, o figurando como “autoridades nativas”, o mesmo poder cultural e político alcançado que lhes permitia prescindir de maiores pelo sertão nordestino. Foi o baião o grande auxílios e assessorias, pois eram eles mes- responsável pela diferenciação assumida mos os principais tradutores do sertão e entre os sertões brasileiros no plano mutambém as fontes mais “fisical: o sucesso comercial e dedignas”. Por isso mesmo, “Asa Branca” (de Luiz artístico do baião condenNo Mundo do Baião poderia Gonzaga e Humberto sou e vinculou o sertão ao ser facilmente chamado de Teixeira) passou a ser Nordeste, dotando aquela No Mundo do Sertão ou de o prefixo de diversas região de um gênero musiNo Mundo do Nordeste – o rádios espalhadas pelos cal de grande alcance nacioNordeste do sertão, o sertão rincões nordestinos, nal, nucleado pela forma da nordestino. Se o folclorista algumas inclusive fora canção popular. Os demais Câmara Cascudo é ainda do Nordeste. sertões (São Paulo, Minas, hoje reputado como o maior Goiás) progressivamente se professor de sertão, a série musical foi uma diluíram, ao passo que o sertão do Nordesespécie de escola lúdico-musical radiofô- te se tornou a representação acabada do nica avançada e bastante criativa sobre sertão brasileiro, do mundo rural nacional, mitologia, cosmologia, cosmogonia, an- inteiramente definido pelos quatro registropologia, fauna, flora, folclore, religião e tros socioculturais explorados aqui: a fome, música do sertão nordestino. A recorrência a violência, a resistência e a criação artísdo baião nos programas radiofônicos con- tico-popular. Este último registro sociotribuiu sobremaneira para a nacionaliza- cultural, muito em decorrência do gênero ção do gênero. Assim como, em 1939, “Luar musical baião, incorporou em seus temas do Sertão” (de João Pernambuco e Catulo e motes os três primeiros registros, valorida Paixão Cearense) havia sido escolhida zando-os, positivando-os e nacionalizancomo o prefixo da maior rádio da história do uma identidade e um pertencimento brasileira (a Nacional), “Asa Branca” (de regional específico.
83
84
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
Elder Patrick
85
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
86
Elder Patrick Possui graduação em ciências sociais pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e mestrado e doutorado em sociologia pela Universidade de Brasília (UnB) e pós-doutorado em sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos (Iesp-Uerj). Atualmente é professor associado I do Instituto de Ciências Sociais (ICS) da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) e professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia (PPGS-Ufal). Realiza pesquisa na área de sociologia dos mercados culturais, economia criativa; economia da cultura; mercados culturais no Brasil; sociologia econômica; políticas culturais, consumo cultural; estratificação social e desigualdade; cultura popular, sertão nordestino e desenvolvimento regional. É membro do comitê Sociólogos do Futuro da Sociedade Brasileira de Sociologia (SBS). Em 2010, venceu o Prêmio de Pesquisa em Cultura – Políticas Públicas de Cultura, do Ministério da Cultura (MinC), e o Prêmio Estudos e Pesquisas sobre Arte e Economia da Arte no Brasil, da Fundação Bienal de Arte de São Paulo, com o livro A Economia Simbólica da Cultura Popular Sertanejo-Nordestina. Em 2012, foi laureado com o Prêmio Funarte Centenário de Luiz Gonzaga, da Fundação Nacional de Arte (Funarte), com o livro A Sociologia de um Gênero: o Baião.
Referências ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz. A invenção do Nordeste e outras artes. São Paulo: Cortez, 1997. ALVES, Elder P. Maia. A economia simbólica da cultura popular sertanejo-nordestina. Maceió: Edufal, 2011. _______. A sociologia de um gênero: o baião. Brasília: Iphan, 2017.
BANDEIRA, Luiz Alberto Muniz. O feudo. A casa da torre de Garcia D’Ávila: da conquista dos sertões à independência do Brasil. Rio de Janeiro: Civilização, 2007. BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Lisboa: Bertrand Brasil, 2001. ELIAS, Norbert. O processo civilizador, v. I e II. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1991.
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
Elder Patrick
FREYRE, Gilberto (2013). Nordeste: aspectos da influência da cana sobre a vida e a paisagem do Nordeste do Brasil. São Paulo: Global, 2013. Disponível em: http://lelivros.love/book/baixarlivro-nordeste-gilberto-freyre-em-pdf-epub-e-mobi-ou-ler-online/. Acesso em: 16 dez. 2018. LEVINE, Robert. O sertão prometido: o massacre de Canudos. São Paulo: Edusp, 1998. MOREL, Marcos. O poder da palavra: o surgimento da imprensa no Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2003. VIEIRA, Sulamita. O sertão em movimento: a dinâmica da produção cultural. São Paulo: Annablume, 2000. VILELA, Aloísio. O coco de Alagoas. Maceió: Edufal, 2003. XAVIER, Ismail. A experiência do cinema. São Paulo: Graal, 2003.
Notas 1
FARIA, João Roberto. Ideias teatrais: o século XIX no Brasil, 2001.
2
Ver: https://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,canudos-diario-de-uma-expedicaoeuclides-da-cunha-781897,11951,0.htm. Acesso em: 16 dez. 2018.
3
Hoje em dia, a cidade de Monte Santo, localizada no nordeste da Bahia, sede das locações de Deus e o Diabo na Terra do Sol, abriga uma das maiores procissões de romeiros do sertão nordestino.
87
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
88
O PASSADO, O PRESENTE E O PRETÉRITO IMPERFEITO DA MÚSICA SERTANEJA Brian Henrique de Assis Fuentes Requena
Este artigo tem como intuito apresentar as principais particularidades sociais da música sertaneja, conjugando assim o passado, o presente e o pretérito imperfeito do gênero. Em menos de duas décadas, a música sertaneja tem movimentado um mercado milionário na indústria do showbiz brasileiro, transformando-se em um império nacional. Paralelamente a isso, a modernização do gênero tem despertado a contestação daqueles que se autorreferenciam como defensores da tradição da música sertaneja. Portanto, um dos intuitos deste ensaio é abordar as configurações atuais desse debate histórico.
Introdução
O
sucesso comercial da música sertaneja é um fenômeno sem-par na história social da música popular brasileira. Em 1929, o folclorista Cornélio Pires foi o responsável pela gravação das primeiras modas de viola em disco, e, de lá para cá, o gênero se modernizou e se adaptou aos ditames do mercado fonográfico brasileiro. Mais do que isso, a música sertaneja acompanhou as transformações sociais, econômicas, políticas e culturais da sociedade brasileira contemporânea. Do interior às capitais, dos subúrbios às megacasas de espetáculos, dos shows tradicionais às baladas pop, o Brasil se tornou sertanejo. Mas como a música sertaneja logrou esse êxito nacional? Eis o ponto de partida deste artigo. E, para isso, temos que apresentar
as principais particularidades sociais do gênero sertanejo. Então vamos lá. Dos anos 1940 em diante, os artistas sertanejos têm adotado uma estratégia de mercado estruturalmente simples, embora muito funcional, para assegurar a hegemonia do gênero na indústria da música: o casamento entre a “tradição” da música sertaneja – o formato de duetos, o canto de dupla em terças, o uso predominante do violão, o bucolismo, os enredos sertanistas – e a “modernização” do gênero – os instrumentos eletrificados, as narrativas urbanas, os vestuários modernos, os espetáculos tecnológicos. E, concomitantemente a isso, graças à apropriação de ritmos estrangeiros no repertório, a música sertaneja pôde se ajustar às diretrizes impostas pela indústria
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
fonográfica de tempos em tempos. Nos anos 1940 e 1950, o gênero incorporou a rancheira mexicana, as harpas e guarânias paraguaias e o bolero caribenho. Em 1960, foi a vez do rock’n’roll inspirado no modelo da Jovem Guarda. Entre os anos 1970 e 1980, foi o pop rock internacional. Na década de 1990, a febre do country norte-americano tomou conta dos subcircuitos culturais do gênero, como as festas do peão de boiadeiro e as feiras agropecuárias. A partir dos anos 2000, estilos como o folk, o pop, o rock, o hip-hop, o reggaeton e a balada eletrônica compõem o gênero sertanejo. Na prática, sem tais atualizações, a música sertaneja não sobreviveria muito tempo. Em contrapartida, se o gênero abandonasse integralmente o universo sertanejo, como parte da bibliografia especializada no tema tanto apregoa, não haveria legado aos sertanejos. Trocando em miúdos, a música sertaneja se modernizou muitas vezes ao longo desses anos, mas não abriu mão inteiramente do seu passado, ainda que forjado. Parafraseando Ortiz (1989), eis a moderna tradição da música sertaneja. Trazendo o pretérito para o presente, o gênero sertanejo pôde reunir um grande público consumidor em um mesmo repertório. Conjugando a tradição da audiência clássica com a modernização da audiência urbana, a música sertaneja tomou as rédeas do mercado musical e se transformou em um império nacional. Olhando para o passado, sabemos como o gênero sertanejo se tornou um dos maiores fenômenos da música brasileira. Mas, olhando para o presente, como os sertanejos têm mantido o seu reinado? Trataremos disso a partir de agora.
Brian Henrique de Assis Fuentes Requena
O império da música sertaneja Em meados dos anos 2000, a indústria fonográfica brasileira enfrentou o aumento da comercialização e da distribuição do mercado ilegal da música pirata. Simultaneamente ao colapso da discofilia, a expansão das tecnologias digitais mudaria definitivamente o acesso e o consumo musical. Gradualmente, as gravadoras aceitaram uma posição menos mandatária na administração da carreira dos músicos. No entanto, não se tornaram totalmente indispensáveis: elas ainda mantêm as credenciais de acesso aos meios de comunicação de massa, como o rádio e a televisão, que, por sua vez, são imprescindíveis para a consagração nacional. Em meio a isso, o sertanejo foi um dos gêneros precursores do formato acústico de gravação de DVDs e shows ao vivo. O formato se tornaria a galinha dos ovos de ouro da música sertaneja. Hoje em dia, a rentabilidade econômica dos sertanejos depende quase que exclusivamente do faturamento das apresentações ao vivo, isto é, da venda dos ingressos e dos cachês pagos pelos contratantes. No quadro Bem Sertanejo (2014) do programa Fantástico, o produtor musical Marcos Mioto fez as contas: os dez principais artistas sertanejos fazem cerca de 180 shows anualmente. Os espetáculos atraem mais de 18 milhões de espectadores ao ano. Em média, cada apresentação custa R$ 175 mil, ou seja, em um ano, somente os dez principais artistas do gênero movimentam mais de R$ 315 milhões no mercado do showbiz. O DVD em si não é tão rentável, mas é usado como um chamariz para atrair milhares de espectadores aos estádios espalhados pelos quatro
89
90
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
cantos do país. Uma das modalidades de radiofônica entre os meses de janeiro e jushow ao vivo é a balada sertaneja. Em São lho de 2017, com mais de 41 bilhões de exePaulo, por exemplo, casas noturnas como cuções nas rádios brasileiras. “Acordando o a Wood’s, na Vila Olímpia, e bares como Prédio”, de Luan Santana, foi a música mais Brook’s, na Chácara Santo Antônio, se tor- tocada de 2017. Outros artistas, como Jorge naram parte do reduto boêmio da capital & Mateus, Victor & Leo, Fernando & Soropaulistana. Pelo interior do Brasil afora, o caba, Marcos & Belutti, Henrique & Juliano, agronegócio e seus subcircuitos culturais, Zé Neto & Cristiano, João Neto & Frederico, como as festas do peão de boiadeiro e os Simone & Simaria, Maiara & Maraísa, Paula festivais agropecuários, são os principais Fernandes e Marília Mendonça, estavam no financiadores dos shows dos sertanejos. topo do ranking 100 do ano passado. Quanto ao público consumidor de músiEm 2018, a música sertaneja asseguca sertaneja, o conhecemos rou sua liderança nas rádios: ainda muito pouco. Segundo Em 2018, a música das dez faixas mais tocadas, o levantamento Tribos Musi- sertaneja assegurou sua sete são desse gênero (74%). cais, realizado pelo Ibope em liderança nas rádios: Já nas plataformas de strea2013, os ouvintes de música das dez faixas mais ming, o sertanejo tem dois tocadas, sete são desse sertaneja têm entre 25 e 34 gêneros concorrentes: o funk anos, são predominantemen- gênero (74%). e o pop. No YouTube, o funk te da classe C (52%), têm o domina os principais lugares diploma do ensino fundamental e estão da lista (55%). No ranking do Spotify, o sermajoritariamente no interior e nas capitais tanejo (40%) concorre com o pop (32%) e do Centro-Sul brasileiro. Em sua extensa o funk (22%), conforme o monitoramento pesquisa de campo, Requena (2016) assis- da Connectmix. E sobre o público consutiu aos shows de Victor & Leo e Fernando midor de música digital? Setenta e cinco & Sorocaba em São Paulo. Para o autor, os por cento dos usuários do YouTube e 70% sertanejos têm um público bem mais hete- dos ouvintes do Spotify têm menos de 34 rogêneo do que isso. anos. Por outro lado, entre os radiouvinEm relação aos meios de comunicação, tes, apenas 50% compõem tal faixa etária, o rádio e a internet são os maiores respon- de acordo com os dados do Ibope de 2017. sáveis pela divulgação dos sertanejos na Das 50 músicas mais executadas no país em audiência nacional. Em 2017, por exemplo, 2017, em plataformas como Apple Music, das dez músicas mais tocadas nas emisso- Deezer, Google Play, Napster e Spotify, 20 ras radiofônicas, nove eram do gênero serta- eram sertanejas, 40% ao todo, conforme o nejo. De acordo com a listagem da Crowley levantamento da empresa BMAT. Segundo Broadcast Analysis, das cem músicas do o relatório da Federação Internacional da ranking, 87 eram sertanejas. Segundo os da- Indústria Fonográfica (IFPI, na sigla em dos da Kantar Ibope Media e da Crowley, a inglês), a indústria fonográfica brasileira música sertaneja compôs 32% da audiência faturou mais de US$ 295,8 milhões em 2017,
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
com 17,9% de crescimento, o maior índice em mais de uma década. Somos o maior mercado da música na América Latina e o nono no ranking mundial. Nos últimos 18 anos, a música se transformou em um negócio milionário no Brasil. Não foi à toa que alguns sertanejos se tornaram empreendedores da música (REQUENA, 2016). Não obstante, o império sertanejo se estendeu ainda mais além. Em uma década, o gênero musical tomou a liderança das listas de arrecadação de direitos autorais. De acordo com o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), a cantora Marília Mendonça é a artista da vez. Com mais de 300 fonogramas de sua autoria, foi a compositora com maior rendimento no setor de música ao vivo no ano de 2017. Fernando Fakri de Assis “Sorocaba” foi o líder do ranking em 2016, 2012 e 2011, e vice-líder em 2010 e 2009. Victor Chaves foi o compositor que mais arrecadou direitos autorais pelo Ecad entre 2008 e 2009. Em um meio tão competitivo quanto o da música sertaneja, sobressaem-se aqueles que têm repertório estritamente autoral. E quem não tem? Em tais casos, é corriqueiro que um mesmo compositor seja o autor de dezenas de músicas aclamadas nas vozes de outros intérpretes. Geralmente, esses autores são anônimos ou desconhecidos do grande público, mas movimentam um mercado bem lucrativo de compra e venda de composições na música sertaneja. Depois do relâmpago do movimento universitário, que tanto atraiu a audiência jovem e urbana, alguns sertanejos têm apostado em enredos mais modernos, como a farra, as festas, as baladas, a bebedeira, a embriaguez
Brian Henrique de Assis Fuentes Requena
e os romances fortuitos, sem deixar de lado a “sofrência” clássica do gênero. Mas essa atualização do universo da música sertaneja não veio sem custos. O bucolismo não foi completamente extirpado, porém, concorre com o hedonismo e o individualismo. O violão em cordas de aço e o acordeom têm que competir com os instrumentos eletrificados. O investimento em tecnologia digital de ponta transformou os shows de música sertaneja em baladas eletrônicas. Consequentemente, tudo isso suscitou a contestação daqueles que se autorreferenciavam como defensores da música sertaneja tradicional, caipira, genuinamente de raiz. Na realidade, essa defesa de uma suposta autenticidade musical tem atravessado a história social do gênero (ALONSO, 2011). Então, temos que voltar ao passado da música sertaneja para entendê-lo no presente. Sobre o universo sertanejo Interpretar o passado da música sertaneja não é uma incumbência simples. Seguindo as pistas dadas por Bourdieu (2004), isso demanda muito exercício de reflexividade sociológica. Primeiramente porque a bibliografia sobre a música sertaneja é relativamente escassa – sendo ela caipira, sertaneja, de raiz, tradicional, moderna, romântica ou universitária. Quando existente, os autores dão depoimentos acusatórios, apoiados em argumentos normativos. Na maior parte das vezes, esse mal-estar consubstanciava um diagnóstico comum: música caipira não era sinônima de música sertaneja – ainda que parte dos intelectuais e artistas aceitasse a primeira como legítima porta-voz do povo e a
91
92
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
segunda como simples produto comercial a “prostituição” da música sertaneja. Em da indústria cultural. contraposição a isso, o músico incorporou Pensando nos termos de Williams o sertão místico e o condão caipira em seu (1979), a música caipira seria a música do repertório. Victor também pedia a “resispovo – pura, popular, autêntica, de raiz – e tência” do universo sertanejo. Para tanto, a música sertaneja seria a música para o propôs parcerias musicais com Renato Teipovo – deturpada, popularesca, alienada, xeira, Almir Sater e outros ícones da MPB sem raiz. Esse debate está presente na bi- caipira dos anos 1980. bliografia especializada no tema dos anos Não obstante, por unanimidade, o pas1970, 1980 e 1990, embora na literatura o sado mais reverenciado pelos sertanejos é o bate-boca tenha se iniciado nas décadas de sertanejo romântico dos anos 1990, ou seja, 1910 e 1920, com Monteiro Lobato e Cor- um passado mais ou menos presente. Nas nélio Pires. A partir dos anos 2000, autores apresentações dos “modões” de viola, por como Alonso (2011), Oliveiexemplo, as modas sertanejas O passado não ra (2009) e Vilela (2011) têm mais aclamadas são de Chifoi abandonado contribuído significativatãozinho & Xororó, Leandro inteiramente pelos mente para a revisão dessa & Leonardo, João Paulo & sertanejos. Pelo discussão. Na atualidade, os contrário, o passado Daniel e Zezé Di Camargo & músicos sertanejos são des- ainda está em disputa, Luciano. Por sua vez, os sercendentes desse processo pois estrategicamente é tanejos dos anos 1990 são os histórico de demarcação e, ao um selo legitimador. padrinhos encarregados da mesmo tempo, são os coau“bênção” à carreira dos músitores dessa trama delimitadora. E assim, cos sertanejos contemporâneos. Já por volta dialeticamente, esse legado da tradição da dos anos 2000, os sertanejos denominados música sertaneja subsistiu ao processo de “universitários” dispensaram as benesses modernização do gênero. Ou seja, ainda que do passado e, assim, se arriscaram em um efabulado, o passado não foi abandonado in- jogo de diferenciação estética em relação teiramente pelos sertanejos. Pelo contrário, ao sertanejo romântico dos anos 1990. O o passado ainda está em disputa, pois estra- relacionamento amoroso, melodramático tegicamente é um selo legitimador. e mal-acabado, ou seja, o enredo de fossa, Na história social recente da música foi substituído pelo enredo de farra. Essa sertaneja, o compositor mineiro Victor Cha- atualização no universo temático da músives, do duo Victor & Leo, destaca-se como ca sertaneja incomodou os sertanejos mais embaixador desse pretérito imperfeito. O veteranos, como Zezé Di Camargo, e os recompositor foi responsável por trazer à cém-chegados, como Victor Chaves. Sem tona o bucolismo do sertão, sem abrir mão consenso estético, o sertanejo universitário do seu próprio contexto musical. No auge do se tornou apenas um subgênero da músimovimento universitário, a partir de 2007, ca sertaneja, não um movimento propriaele contestou a “falta de originalidade” e mente universitário.
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
Em meados dos anos 2000, o termo universitário foi somente uma estratégia de mercado da indústria fonográfica para a atualização da fachada da música sertaneja, tornando-a assim mais “moderna” para o seu público consumidor, e não um demarcador estético adotado pelos sertanejos. De acordo com Alonso (2011), tematicamente, o sertanejo universitário deu um giro de 180 graus em relação ao sertanejo romântico dos anos 1990. O autor até delimitou as três temáticas do “movimento” universitário: a poética do amor afirmativo, a poética da farra e a poética do “tô nem aí”. Na prática, essas três poéticas universitárias constituem uma só: a poética da farra. Mas, ainda assim, o enredo de farra dos universitários não arrebatou o universo temático da música sertaneja, tão somente o atualizou. Nos últimos 18 anos, o romantismo clássico do gênero não foi abandonado pelos sertanejos. O melodrama rasgado do sertanejo romântico dos anos 1990 se transformou hoje em “sofrência”. E o bucolismo resistiu como “sertão místico”. Eis então as quatro estéticas temáticas que compõem o universo contemporâneo da música sertaneja: (1) a estética da farra, (2) a estética do romantismo, (3) a estética da “sofrência” e (4) a estética do bucolismo. Enfim, a cada atualização, a música sertaneja não renuncia ao seu passado, apenas o reconstitui, ajustando-o no presente. E assim, conjugando magistralmente o passado, o presente e esse pretérito imperfeito, a música sertaneja se tornou um império nacional. Se no imaginário intelectual o samba consagra-se como gênero musical nacional, o Brasil dos brasileiros é sertanejo.
Brian Henrique de Assis Fuentes Requena
Brian Henrique de Assis Fuentes Requena É doutorando em sociologia pela Universidade de São Paulo (USP) e mestre em sociologia pela mesma universidade. Tem experiência na área de sociologia, com ênfase em sociologia da cultura e da ciência.
93
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
94
Referências ALONSO, Gustavo. Cowboys do asfalto: música sertaneja e modernização brasileira. Tese de doutorado em história. Rio de Janeiro: Universidade Federal Fluminense (UFF), 2011. BOURDIEU, Pierre. A profissão de sociólogo. Petrópolis: Vozes, 2004. OLIVEIRA, Allan de Paula. Miguilim foi pra cidade ser cantor: uma antropologia da música sertaneja. Tese de doutorado em antropologia. Florianópolis: Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 2009. ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira: cultura brasileira e indústria cultural. São Paulo: Brasiliense, 1989. REQUENA, Brian Henrique de Assis Fuentes. A universidade do sertão: o novo retrato cultural da música sertaneja. Tese de mestrado em sociologia. São Paulo: Universidade de São Paulo (USP), 2016. VILELA, Ivan. Cantando a própria história. Tese de doutorado em psicologia. São Paulo: Universidade de São Paulo (USP), 2011. WILLIAMS, Raymond. Marxismo & literatura. Rio de Janeiro: Zahar, 1979.
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
Brian Henrique de Assis Fuentes Requena
Programas de TV BEM SERTANEJO. Michel Teló mostra negócio milionário que a música sertaneja movimenta. Fantástico, Rede Globo, 19 out. 2014.
Websites BMAT Music Innovators: <https://www.bmat.com>. Connectmix: <https://www.connectmix.com>. Crowley Broadcast Analysis (Brasil): <http://www.crowley.com.br>. Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad): <http://www.ecad.org.br>. Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI): <http://www.ifpi.org>. Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope): <http://www.ibope.com.br>. Kantar Ibope Media: <http://www.kantaribopemedia.com>.
95
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
96
O SERTÃO QUE AS ARTES AJUDARAM A CRIAR Maria Hirszman
As artes visuais têm uma longa e íntima relação com o sertão. A região não apenas alimentou uma ampla produção de pinturas, esculturas e fotografias relativas ao seu povo e à sua natureza, ajudando a cunhar uma imagem de resistência e simplicidade, como é também a origem – em termos geográficos e simbólicos – de muitos dos mais importantes artistas populares do país.
A
s artes visuais são amplamente responsáveis pela imagem do sertão formada ao longo do último século no país, fortemente ancorada na ideia de rusticidade, miséria e resistência. Imagem que se traduz seja numa temática baseada em figuras simbólicas, como as do retirante, do cangaceiro e do beato, seja numa materialidade mais tosca, que remete a certa aspereza na forma e no gesto. Quer na produção local, quer nos diferentes modos de representação visual dessa cultura nas ditas formas cultas, prepondera a noção da força, da resistência às agruras da seca, da pobreza e das ameaças de dissolução de uma cultura tradicional. A aquarela pintada por Charles Landseer é uma das primeiras imagens relativas ao tema encontradas na Enciclopédia Itaú Cultural e mostra a figura do sertanejo já
com o traje típico de couro – necessário ao enfrentamento da vegetação bruta da caatinga. Na obra do artista inglês, que integrou uma missão diplomática em visita ao país em 1825, o homem parece integrar-se naturalmente com o solo seco e árido. Essa mesma fusão entre homem e paisagem, em que a brutalidade de um ecoa na secura do outro e o tom de terra predomina, vai se fazer presente em uma ampla gama de representações produzidas ao longo desses quase dois séculos, por artistas nordestinos ou não. Em alguns momentos, domina certa ternura e um sentimento de pertencimento, como no caso das gravuras de Pelo Sertão feitas na década de 1940 por Lívio Abramo. Em outros, a denúncia da miséria e da seca, em sintonia com uma ideia de transformação social por meio da arte, se faz presente.
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
Maria Hirszman
Esse fenômeno se torna bastante evidente, Janeiro, principais polos culturais do país, sobretudo na segunda fase do modernismo ela se torna uma importante bandeira para os brasileiro. Pintores como Fulvio Pennacchi, movimentos locais que começam a surgir e a Clóvis Graciano, Henrique Oswald e, sobre- reivindicar os temas e as formas de fazer arte tudo, Candido Portinari – cuja série sobre no Nordeste como núcleo de um processo de os retirantes deu visibilidade nacional à desenvolvimento regional. triste sina dos refugiados da seca – transÉ possível citar duas dessas iniciativas formaram em tema a tragédia recorrente e que renderam importantes frutos: o Ateliê corporificaram em imagens uma situação de Coletivo, movimento fundado por Abelardo desalento que já vinha sendo da Hora e outros companheitrabalhada de forma intensa Ao mesmo tempo ros em 1952, e o Movimento pela literatura. O realismo que artistas com Armorial, fundado em 1970 social e a defesa de uma óp- formação profissional por Ariano Suassuna. Nos tica regionalista, capaz de e reconhecimento se dois movimentos há uma claalimentam dos hábitos dar conta da história local ra incorporação de elemende uma população vitimada do povo simples, tos de cultura popular, uma pela natureza inclemente e abre-se um caminho tentativa de integrar arte para esses produtores pelo descaso das autoridades, erudita e raízes populares, anônimos, responsáveis fortemente presentes na litebuscando desenvolver uma pela perpetuação ratura da primeira metade do dessas tradições. produção regional genuína, século XX, também tiveram que reunisse as tradições losua contrapartida nas artes visuais, ganhan- cais, absorvendo processos, técnicas, temas do visibilidade por meio de obras de grandes e vivências do povo. Gilvan Samico, um dos mestres, como Cícero Dias. E continuaram, mais virtuosos gravadores do país e próximo nas décadas seguintes, a conquistar um es- dos dois movimentos citados, promove uma paço crescente nessa produção. interessante aproximação entre um universo Foram, por exemplo, as cenas de viagem mítico e arcaico e uma forte tradição da cultuno pau-de-arara, as vendeiras e os cangacei- ra popular nordestina. Essa aproximação enros representados no álbum Cenas da Seca do tre o mundo culto e a riqueza popular tem um Nordeste que garantiram a Aldemir Martins o duplo sentido. Ao mesmo tempo que artistas Prêmio Aquisição na 1ª Bienal Internacional com formação profissional e reconhecimento de São Paulo e a inserção no circuito artís- do circuito se alimentam da cultura das ruas, tico do Sudeste. É importante frisar que há dos hábitos do povo simples, se apropriando um duplo movimento nessa incorporação de narrativas e formas de fazer, abre-se tamda temática do sertanejo. Ao mesmo tempo bém um caminho duro, porém em ampliação, que tal absorção permite uma abertura para para esses produtores anônimos, responsáalém dos limites regionais, garantindo uma veis pela perpetuação dessas tradições. identidade mais definida a artistas nordesO artesanato e a arte dita primitiva, costinos que migram para São Paulo e Rio de tumeiramente anônimos, vão adquirindo um
97
98
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
estatuto mais elevado, ganhando espaço nas barraquinhas da feira que ajudou a notabilipesquisas não apenas antropológicas, mas zar, ainda era considerado um ceramista sem artísticas, e conquistando lugar nas cole- identidade. Curiosamente, é nesse mesmo ções de arte, nas galerias especializadas e ano que nasce a Comissão Nacional de Folnos espaços institucionais de exibição. Há clore, um indício do crescente interesse por uma espécie de biografia comum a essas fi- esse tipo de manifestação cultural. A saída guras: em sua maioria, artistas de baixo es- paulatina de Vitalino do anonimato ocorreu trato social, com nenhuma ou pouquíssima de forma quase simultânea a esse processo educação formal, e marcados por um desejo de resgate de trabalhos como o dele, nos anormal de expressão artística, que os faz quais predominam grande talento, forte imdesviar do caminho natural de produção de pulso criativo e uma verdadeira obsessão em objetos de uso cotidiano para desenvolverem dar formas tangíveis às tradições e vivências expressões de grande potência plástica. Há da população em seu entorno. uma lista grande de artistas que, por meio Outro artista cuja notabilidade afirmada pintura ou da escultura (com destaque -se aos poucos, mas torna-se incontornável para o uso do barro, desviado das olarias, ou quando se trata de pensar em cultura popular da madeira, facilmente ensertaneja, é J. Borges. Nascido contrável), acabam forjando Um caso paradigmático em Bezerros (PE), frequentou formas bastante particulares é o de Mestre Vitalino, a escola por dez meses apenas. de criação e adquirindo amplo que traduz em singelas Foi marceneiro, mascate, pinreconhecimento, muitas vezes figurinhas de barro a tor de parede e oleiro, entre ampla diversidade da até formando escolas. outras profissões. Em 1956, Um caso paradigmático cultura nordestina. começou a vender literatura de cordel e rapidamente se nesse sentido é o de Mestre Vitalino, que traduz em singelas figurinhas tornou ele próprio um ilustrador, inicialde barro a ampla diversidade da cultura nor- mente produzindo as imagens para os fodestina, retratando desde figuras emblemáti- lhetos que comercializou e paulatinamente cas, como a de Lampião, a festas, profissões e conquistando maior autonomia e reconhecihábitos de sua gente. Com grande maestria, mento nacional e internacional, tornando-se, criou modelos que até hoje são seguidos por nas palavras de Suassuna, o maior gravador seus descendentes e por novas gerações de popular do Brasil. artesãos de Caruaru, com os quais ele sempre Para além desses dois nomes, é possícompartilhou suas técnicas e sua maneira de vel citar inúmeros artesãos e artistas que dar forma ao barro, que, como muitos, apren- foram lentamente conquistando um lugar deu a manusear ainda menino, em pedaços nesse amplo segmento da arte popular. É insubtraídos da mãe, que se ocupava de fazer teressante notar os vínculos existentes entre utensílios para serem vendidos. eles. Nhô Caboclo, por exemplo, foi aprenNo entanto, em 1947, quando suas diz de Mestre Vitalino, antes de definir seu primeiras peças surgem para além das próprio caminho, dedicando-se à escultura
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
Maria Hirszman
99
100
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
em madeira, na qual reelabora mitos e his- chamados outrora de “primitivos”, “rústicos” tórias tradicionais. Um outro fenômeno, no ou outros termos pejorativos. É indiscutível entanto, marca essa produção nas últimas a importância da escultura tradicional, em décadas: a aproximação entre a obra contem- especial dos ex-votos, na obra de Efrain Alporânea e a criação popular. meida. Ou a referência às narrativas do inMuitos dos artistas que vêm surgindo terior nordestino reelaboradas por Virginia na cena contemporânea acabaram por vol- de Medeiros, que viajou pelo sertão da Bahia tar, de alguma maneira, seu olhar para as recolhendo e gravando histórias para depois tradições regionais. Essa base é então ree- exibir esses vídeos dentro da Kombi que utilaborada em poéticas bastante particulares lizou nessa peregrinação, transformada em e diversas, mas que indicam, como estopim, uma curiosa sala de projeção. uma atenção para a cena local, para os seus Seria equivocado pensar a expressão hábitos e tradições. poética e plástica do sertanejo como algo esPodemos citar a produção de Juraci Dó- tanque, passadista, que fique – e precise ficar rea, que trabalha suas memórias/acúmulos – protegido das influências do mundo “exsobre sua região de origem criando a série terno”. Essa visão conservadora só faz isolar Histórias do Sertão. Notam-se algo que é potente exatamente nessa série não apenas um Seria equivocado pensar por sua capacidade de diálointeresse em representar as a expressão poética e go, interlocução e resistência narrativas e tradições nordes- plástica do sertanejo diante das pressões diluidoras tinas, mais especificamente como algo estanque, do mercado. Um exemplo desrelativas ao interior da região, passadista, que fique – e sa inserção ao mesmo tempo mas também uma necessida- precise ficar – protegido inovadora e forte é o trabalho de de incorporar e reelaborar das influências do de Cícero Alves dos Santos, formas de expressão tradicio- mundo “externo”. o Véio, artista sergipano fasnalmente vinculadas ao meio cinado com as formas, cores em questão. Não se trata somente de narrar e histórias de sua terra natal (que ajuda a aspectos da vida cotidiana, da paisagem, preservar no seu Museu do Sertão, criado dos animais e das plantas da caatinga, mas em Feira Nova) e autor de uma obra bastante também da absorção, na construção plásti- singular, que se apropria de restos de madeica, de elementos característicos da cultura ra para criar trabalhos de grande potência local, como a xilogravura de fio, técnica in- expressiva. Nos últimos anos, a produção timamente relacionada com a literatura de de Véio – que teve uma grande retrospecticordel e que remete a expressões mais dire- va em 2018 no instituto Itaú Cultural – vem tas, de cunho popular e que não requerem recebendo atenção nacional e internacional. um conhecimento técnico detalhado por Segundo a crítica, sua escultura não apenas parte do autor. Esse movimento radicaliza e expressa uma visão singular do universo culaprofunda o processo de mimese das formas tural que a nutre, como remete à liberdade e e dos procedimentos dos artistas populares, à síntese da escultura modernista.
Maria Hirszman
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
Fenômeno diferente, mas não menos importante, desse processo de conhecer, entender e interpretar o sertão é a fotografia. Desde o século XIX, temos importantes registros históricos, vitais para a constituição da ideia que fazemos hoje dessa região, de sua paisagem e de seus principais personagens. Apesar de a fotografia ter sido tratada como arte menor durante muito tempo, é impossível não levar em conta legados como os de Benjamin Abrahão Botto, autor de um conjunto amplo de imagens de Lampião e seu bando, e Flavio de Barros, que registra a fase final da campanha do exército contra os revoltosos de Canudos. Mais do que registros visuais que embasam as narrativas literárias, essas fotos são documentos de extrema importância, como resultado de um olhar ao mesmo tempo escrutinador e assustado em relação a esse universo. Décadas depois, com a popularização cada vez maior da técnica fotográfica, muitos autores são tentados a voltar a dialogar com o sertão, por meio de intervenções ao mesmo tempo poéticas e afetivas. Duas mulheres, em especial, se notabilizam por seus trabalhos nessa direção: Maureen Bisilliat e Anna Mariani. Cada uma à sua maneira, debruçam-se sobre esse universo. O foco não mais recai sobre a paisagem desolada, em termos climáticos e humanos, mas sobre as calorosas fachadas das casas, contrapondo-se à visão estereotipada da região como local desértico e bruto. Questões como o trabalho tradicional e feminino, o percurso literário de João Guimarães Rosa ou o encantamento com a arquitetura vernacular e suas fachadas caiadas de múltiplas cores tornam-se motivos poéticos para esquadrinhar o sertão.
A diversidade de expressões ajuda a dissipar os estereótipos, a deixar claro o caráter diverso dos vários sertões. Da mesma maneira que não existe um só sertão, são inúmeras as maneiras de representá-lo ou de usá-lo como referência simbólica, poética e mental. Ter consciência dessa pluralidade de sentidos e potências não apenas enriquece a visão sobre a enorme diversidade da criação artística como amplia ainda mais as possibilidades de uma maior riqueza interpretativa.
Maria Hirszman É jornalista e crítica de artes, colaborando em diversas publicações, como o Jornal da Tarde, o Estado de S. Paulo e as revistas Fapesp e Arte!Brasileiros. É também pesquisadora em história da arte, com mestrado pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), além de integrar o Grupo de Estudos Arte & Fotografia da ECA/USP e o conselho editorial da Enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras.
101
102
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
Isabelly Moreira
A MULHER NA POESIA DO PAJEÚ Isabelly Moreira
A efervescência poética no Pajeú pernambucano revela mulheres poetas que também escreveram esta história. As diferentes gerações de poetisas carregam nos versos a memória e a relação da escrita nos contextos local e social.
A
poesia sempre escreveu a história da microrregião do Pajeú. Os violeiros repentistas e os cordelistas do sertão pernambucano conduziram essa narrativa pelo mundo afora. A partir de uma cultura predominantemente oral, eles romperam barreiras sociais e limites geográficos para mostrar à poesia o lugar onde ela merece estar: na boca do povo. Fazendo uma visita rápida às nossas memórias, verifica-se que as mulheres poetas (ou poetisas, de acordo como cada uma prefira ser chamada) desenvolveram papel fundamental na poesia da região. No entanto, poucos nomes ganharam destaque – se comparado à quantidade de homens poetas que tiveram notoriedade – pelos pesquisadores, apologistas e pela mídia. Os motivos são vários para que a ênfase tenha sido dada aos
homens: a presença masculina era mais numerosa – e até hoje é – na cantoria de viola e a maior parte de títulos publicados de cordel também era assinada por homens, e assim se estendia para os recitais. Com isso, eles ganhavam mais visibilidade. Torna-se evidente que os motivos não se restringem a dados matemáticos. Os vates ganhavam fama porque, para realizarem suas cantorias, as viagens eram frequentes e os públicos eram sortidos. As poetisas, em geral, por sua vez, cuidavam dos filhos e da família e executavam as tantas atividades domésticas que o sistema patriarcal por tanto tempo impôs. Assim, viajar por aí improvisando versos estava fora de cogitação para elas. E, ainda que não fossem casadas, “não pegava bem moça solteira sair pegada em braço de viola”, nas palavras de
103
104
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
Maria Batista, mãe da cantadora Luzia Ba- da nossa gente no trecho do poema “Hino às tista, natural da zona rural de São José do Avessas”: “Nosso hino nasceu desafinado/ Egito (PE). Numa conversa informal, ela Entoando uma falsa liberdade”. A bisneta acrescentou que só deixou a filha cantar Ana Luiza, aos 16 anos, demonstra o quanporque o pai a acompanhava. Luzia se or- to a poética passeia por diferentes idades: gulha de ter cantado com figuras renoma- “Perdi esperanças sofrendo ilusões/Caleidas e de ter conseguido o seu espaço, muito -me no tempo e na fala precisa/Nos versos embora tenha parado de cantar logo após o de moça, artesã, poetisa/Juntando pedaços casamento, fato que hoje lade vis corações”. menta. O livro, recém-publi- Severina Branca Também de uma família igualmente bebeu do cado, traz um recorte das suas de poetas, Bia Marinho (São produções poéticas, além de elixir da eternidade José do Egito), mesmo com ao propor o mote “O quebrar paradigmas, uma todos os percalços do munsilêncio da noite é que vez que Luzia é analfabeta e do artístico independente, tem sido/Testemunha quase cega. Os versos “Meu das minhas amarguras”. nunca esteve fora dos palcos. Jesus, meu Deus, por que/A Como uma das primeiras mumulher é massacrada?/Por mais que ela se lheres do Pajeú que se propôs a viver de múesforce/Termina discriminada” trazem a sica, o seu canto é, antes de tudo, um canto dura realidade de muitas mulheres. de resistência. Poetisas como Bia trilharam Curioso pensar que, mesmo sendo de caminhos para outras tantas vindouras, um chão tão fértil culturalmente, ela nunca como Eriberta Leite, Naldirene Barros, tenha duelado na viola com outra mulher. Jéssica Gomes e Ana Clara Meneses. Atualmente, a dificuldade de se encontrar A Tabira (PE) de Cármem Pedrosa e de cantadoras em festivais de improvisos per- Dulce Lima abriu as portas (inclusive para a manece. Nomes como Anita Catôta (glosa- literatura em prosa) para as novas gerações, dora de primeira), Rafaelzinha (“poetisa da como as poetisas Verônica Sobral, Andreia saudade”), Zefa Tereza (coquista) e Das Ne- Miron, Alecssandra Ramalho, Pepita Lins e ves Marinho provam que nem a morte apaga Wandra Rodrigues. Andreia, que também é o legado construído por elas. cordelista, deu o recado no seguinte trecho: Severina Branca igualmente bebeu do elixir da eternidade ao propor o mote “O siDistante de preconceito lêncio da noite é que tem sido/Testemunha Rasguemos o nosso peito das minhas amarguras”. Os pesos carregaPra falar de feminismo dos durante a vida de prostituição foram desabafados nos seus versos. A também Que busquemos ser iguais conterrânea Beatriz Passos é a matriarca Pra que as lutas sociais poetisa de uma família de poetas. Suas fiNão tenham nome lhas Cármem Beatriz e Cláudia também são “modismo” poetisas. A neta Simone resume a história
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
Isabelly Moreira
Da geração atual, as mulheres têm Nos eventos locais, é perceptível o aparecido mais, ocupando mais espaços quanto os temas de teor crítico têm se inque também são seus. Na modalidade da troduzido com mais veemência e, paulamesa de glosas, um quarteto de improvi- tinamente, as chagas das sociedades vêm sadoras arranca aplausos da plateia a cada ganhando atenção. A escrita da poesia pomote dado. Francisca Araújo (Iguaracy/PE), pular, principalmente pelas gerações atuais, Dayane Rocha (Brejinho, Tabira) e as irmãs não gira unicamente em torno do regionaElenilda e Erivoneide Amaral (Afogados da lismo e dos romanceiros. Este papo de que a Ingazeira/PE) ocupam cadeiras quentes, poesia nordestina fala predominantemente pois a mesa de glosas, durante muito tempo, da seca e dos amores é verdade e é até nefoi formada unicamente por homens. cessário para darmos uma aliviada nos peAs rodas de glosas sempre aconteceram sos da vida real. Mas a poesia não deve ser de uma maneira mais informal, em mesas enclausurada apenas a esses temas. de bares, conversas de calçada e até como É até natural que essa poética beba brincadeira para passar o tempo e ilustrar bem mais da fonte do regional, pois a ideno papo de colegas. Aqui, novamente, temos tidade com o meio no qual se vive é imensa. um ponto relevante: em ciContudo, o fato de morarmos Fazer da poesia um dades de interior que não nos interiores sertanejos não amplificador da voz têm cinema, teatro, parques, nos coloca à margem do cenáfeminina é poder afirmar museus, os bares são fortes que a arte também é rio mundial. Fazer da poesia alternativas de lazer, e por política e que as poetisas um amplificador da voz feisso era natural que os poetas avançam nesse contexto. minina é poder afirmar que a se encontrassem nos bares e arte também é política e que protagonizassem glosas por horas a fio. E as as poetisas avançam nesse contexto. poetisas continuavam de fora, pois, se hoje Não uso desse argumento para afirmar ainda se encontra quem implique com mu- que a poetisa tem que escrever sobre tema lher bebendo rodeada de amigos, imagine no de amor porque vai arrancar mais aplausos tempo de nossos avós. Talvez também por ou que tem que asseverar a crítica porque isso não se tenha registros de glosadoras que o momento sempre pediu. Aliás, ninguém frequentavam as rodas. Talvez. tem que nada! A poesia popular, embora siga Monique D’Angelo, Izabela Ferreira e regras rígidas de escrita, é livre por sentiDayane Lopes integram essa nova turma em mento. Pois desse sentimento, sendo sinItapetim/PE. As três são poetisas e decla- cero e coletivo, a revolução social se torna madoras. Izabela estimula a luta coletiva o próprio mote. ao dizer: “Quanto mais nos oprimem, nossa O verso libertador deve ser uma consfala/Vai bradar como a história nunca viu”. tante em nossas vidas, pois esse sertão de Do outro lado, em Tuparetama/PE, a “cabra macho”, de “menino homi”, de “muié parelha de Marianas (Teles e Véras) tam- sera” e outras tantas aberrações que aumenbém integra um time forte. tam o estigma e estimulam a violência contra
105
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
106
a mulher, infelizmente, está longe de virar só causo. Bem disse Celeste Vidal nos versos: “Acordas/Para a luta da vida/Mulher. Já que não podemos dormir diante dos machismos disfarçados de piadas e gentilezas”. É fundamental cultivar as nossas raízes, vates que nos antecederam. Contudo, é igualmente crucial furarmos as bolhas regionais para ampliar as vozes e as lutas.
Para dar fala a quem não tem e para ocupar os espaços que também são nossos. Uma causa jamais anula outra, apenas se somam. Uma mulher sertaneja, antes de ser flor, é espinho. Antes de ser musa, é guerreira. Encerro com uma poesia de minha autoria em nome de todas as mulheres poetas idas e vivas, anônimas e que não caberia citar aqui.
Nós mulheres morremos todo dia Pelas mãos de maridos, namorados. O jornal sanguinário anuncia: Mortes, mortas, destinos desgraçados. Uma ossada encontrada num terreno; Um pulmão perfurado leva um dreno; Na cintura: uma faca dele, nela; Os sinais de defesa em cada mão, Ironia cruel da criação Quando a fêmea fratura uma costela
Um fiasco contorna a profissão Que também é cenário de assédio. Vira e mexe a figura do patrão É a causa de um trauma sem remédio. Mexe e vira, o transporte coletivo, Filas bancos e becos são motivo Para que a mulher se apavore Com o gesto obsceno do agressor Ou qualquer falsa forma de amor Faz com que cada caso só piore.
Justo nela? Do elo em criatura! Sim. O barro que faz é o que enterra E o homem que beija é o que tortura E que tenta explicar da vez que erra, Joga a culpa pra ela e pra o ciúme Culpar vítima aqui virou costume. Sinto nojo da frase de um carrasco Que vomita jargão de um bem eterno E o que foi paraíso vira inferno Se a palavra do amor se torna asco.
Que se tore o machismo matador Inquilino de irmãos, amigos, pais... Que o Estado se torne protetor Para que não sejamos numerais. Que a voz da mulher não silencie, E nenhum dedo em riste atrofie Frente à cara covarde e à covardia. Toda causa exige compromisso E enquanto alguém se cala omisso Nós mulheres morremos todo dia.
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
Isabelly Moreira
Isabelly Moreira Nasceu em São José do Egito, no sertão pernambucano. Iniciou seus trabalhos como declamadora. Autora de vários cordéis, incluindo títulos voltados para a literatura infantil, Belinha, como também é conhecida, publicou em 2017 o seu primeiro livro, intitulado Canta Dores. A poetisa também produz eventos culturais e integra projetos musicais.
Referências BATISTA, Luzia. Poetisa sonhadora: versos e canções. 1. ed. São José do Egito: RS Gráfica Editora Ltda., 2018. NA CAATINGA não tem só mandacaru. Direção: Tauana Uchôa. Produção: Que Tau Produções. Recife, 2016. TEM CRIANÇA no repente. Direção: Francisco Eduardo Alves Crispim. Produção: Madre Filmes. São José do Egito, 2018. VIDAL, Celeste. Metade sol, metade sombra. 1. ed. Tabira, 1994.
107
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
108
ilustração: xx
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
Marcel Fracassi
O SERTÃO INSTRUMENTAL DE CACÁ MALAQUIAS Marcel Fracassi
E
ducador, palestrante, pesquisador, produtor cultural, compositor, arranjador e multi-instrumentista, Cacá Malaquias vem de família de músicos. A música começa em casa, com seu pai, Petronilo Malaquias, que na época era professor e maestro de uma série de bandas filarmônicas no Sertão do Pajeú. Nascido em Carnaíba, cidade nessa região, Cacá sempre trouxe a influência do sertão na sua música. E do sertão foi para o mundo, tocando com diversos nomes da música nacional e internacional, de João Bosco a Ray Conniff, da Banda Mantiqueira a Lenine, entre outros. Dedicou-se também a lecionar no conservatório de sua cidade.
109
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
110
VOCÊ NASCEU EM CARNAÍBA, CIDADE NO
SE VOCÊ FOSSE PENSAR EM UM RITMO QUE
INTERIOR DE PERNAMBUCO, NO SERTÃO
REPRESENTA O SERTÃO, QUAL ESCOLHERIA?
DO PAJEÚ. QUAL SEU PRIMEIRO CONTATO
HÁ ALGUMA CANÇÃO QUE, EM SEU IMAGINÁ-
COM A MÚSICA?
RIO, REPRESENTE O SERTÃO? POR QUÊ?
Meu contato com a música começou cedo, no berço. Minha família é de músicos tradicionais na região. Meu pai, Petronilo Malaquias, foi professor e maestro de várias bandas filarmônicas no Sertão do Pajeú. Como nossa casa funcionava como uma espécie de escola de música, isso fez com que ele ensinasse música para os membros da família, incluindo as mulheres.
A música nordestina é muito rica no que diz respeito a três importantes elementos: melodia, harmonia e ritmo. Especialmente no sertão, existem vários estilos que influenciaram compositores da MPB e da música instrumental. O aboio, o bendito, a toada, o coco, o baião e o xote são estilos que continuam na vida do sertanejo. O coco é o ritmo de que mais gosto, tendo Jackson do Pandeiro como representante. “Asa Branca”1 funciona como uma espécie de hino para o sertanejo; por fazer parte do nosso imaginário, uso a melodia para começar o curso de musicalização das crianças.
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
Marcel Fracassi
QUAL A INFLUÊNCIA DO SERTÃO NO SEU
COMO FOI SEU PRIMEIRO CONTATO COM A
TRABALHO?
MÚSICA INSTRUMENTAL?
O Sertão do Pajeú tem uma riqueza cultural imensa e uma natureza belíssima. A culinária, a música, a poesia, a dança, a religião, a geografia e o sotaque são importantes para nosso povo e isso influenciou muito meu trabalho como compositor, arranjador e instrumentista. O pifeiro, o repentista, a banda de música, o coco de roda, o aboiador e o pastoril são elementos fortes dentro desse contexto.
A Banda Filarmônica de Santo Antônio, o trio de forró pé de serra e a banda de pífanos são grupos instrumentais com que convivi desde menino. O forró pé de serra e a banda filarmônica são meus primeiros contatos com a música instrumental, já que toquei com essas formações.
111
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
112
EM SUA CARREIRA, VOCÊ TEM UMA FORTE
NO FINAL DA DÉCADA PASSADA, VOCÊ
RELAÇÃO COM O CHORO. COMO SE DEU ISSO?
VOLTOU PARA TRABALHAR COMO PROFES-
Cresci dentro de um ambiente musical, meu pai tocava violão, era seresteiro no interior nordestino, havia muitos saxofonistas, acordeonistas, violonistas e clarinetistas que tocavam choro. Meu pai tinha um caderno com melodias escritas com caneta pena, melodias que serviam como metodologia de desenvolvimento, muitos choros de Severino Araújo, K-ximbinho, Ratinho e Luiz Américo. Como não existiam métodos de instrumentos de sopro, éramos obrigados a praticar diariamente esse estilo, que, junto com o frevo e o forró, exige muito do instrumentista!
SOR NA ESCOLA DE MÚSICA DE CARNAÍBA. QUAIS FORAM SUAS IMPRESSÕES DEPOIS DE TANTO TEMPO FORA? COMO FOI O CONTATO COM OS JOVENS MÚSICOS?
Em 2006, fui convidado pelo gestor Anchieta Patriota, que é filho do maestro Israel Gomes, que dá nome à escola, para participar de uma oficina de música durante a festa do poeta carnaibano Zé Dantas, parceiro de Luiz Gonzaga. Fiquei impressionado com a estrutura da escola, com professores de acordeom, sopros, violão, percussão, piano, com uma banda filarmônica e uma quantidade
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
surpreendente de instrumentos sendo usados por crianças, jovens e adolescentes. Assim como com a mistura social, a musicalidade e o interesse dos pais, o acompanhamento etc. Chamaram-me atenção, ainda, as apresentações dos artistas e dos grupos tradicionais de cultura popular, coisas difíceis de se ver em centros culturais como São Paulo. Em conversa com o administrador do município, que era músico e tocava comigo na banda, falei da possibilidade de voltar para Carnaíba para coordenar a Escola de Música, conviver com as crianças, a cultura e a comunidade, ensinar e aprender. O contato
Marcel Fracassi
com os alunos ocorreu com facilidade, pelo fato de a escola ter um bom número de estudantes, mas esse número triplicou. Formamos grupos instrumentais, reforçamos a oficina com a participação de músicos como Nailor Proveta, Maestro Spok, Paulo Moura, Dominguinhos, UH e professores do Conservatório Pernambucano de Música. Conseguimos formar uma banda sinfônica com cerca de 50 crianças e adolescentes e gravar um DVD no Teatro de Santa Isabel, no Recife, em 2009. Atualmente, temos orquestra sanfônica, zabumbada (grupo de percussão), banda sinfônica jovem e grupos de câmaras.
113
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
114
O MAESTRO MOACIR SANTOS TAMBÉM ERA DO SERTÃO DO PAJEÚ. VOCÊ CHEGOU A TRABALHAR COM ELE EM ALGUM MOMENTO? FOI INFLUENCIADO PELO TRABALHO DELE?
Cresci escutando as histórias de “Neguin” – era assim que os amigos chamavam Moacir Santos. Meu primeiro contato com a música dele ocorreu em 1978, quando ele passou pela cidade do Crato/CE. No Carnaval, fui tocar em uma orquestra daquela cidade e um cara tinha chegado do Rio de Janeiro vendendo um monte de discos de jazz. O que me chamou atenção foi um disco do Sergio Mendes & Bossa Rio: Você
COMO VOCÊ PERCEBE O FREVO E OUTROS RITMOS REGIONAIS HOJE COM SEUS ALUNOS? QUAL A RELAÇÃO QUE ELES TÊM?
O frevo é um estilo que surgiu na capital de Pernambuco, Recife, já o forró surgiu no interior, no sertão. O frevo de rua, assim como o choro, exige muito do instrumentista, por ter em suas melodias frases com grupos de semicolcheias, síncopes, intervalos e andamento rápido. O frevo, diferentemente do forró, é tocado no período carnavalesco. O forró é muito tocado no período junino, mas você o escuta durante o ano todo nos programas de rádio. Os músicos e alunos esperam um ano para ir ao Recife tocar no Carnaval, já o forró é tocado o ano todo, faz parte da cultura do sertanejo.
Ainda Não Ouviu Nada (Philips, 1964). Não acreditei quando vi sua foto, seus arranjos e a música “Nanã”.2 Troquei um relógio pelo disco e, quando cheguei a São Paulo, no mesmo ano de 1978, comprei o disco The Maestro (Blue Note, 1972), no Museu do Disco. Não trabalhei com ele, mas quando veio ao Brasil para participar do Festival de Inverno de Campos do Jordão, perguntou justamente ao Nailor Proveta se me conhecia. Passaram meu contato para o Moacir e ele me telefonou, foi inacreditável. Tenho muita influência dele na minha música, na minha vida.
Quando falamos em forró, encontramos estilos como o baião, o xote, o coco e a marchinha (quadrilha). Na Escola de Música, usamos o frevo em várias formações, grupos instrumentais criados para o desenvolvimento dos alunos mostrando as deficiências técnicas. Eles gostam, principalmente dos frevos tradicionais. Com o forró é diferente, porque há um repertório amplo, existem muitos arranjos para bandas filarmônicas, tem as bandas de pífanos, o trio pé de serra – e tudo isso acontecendo durante o ano inteiro. Com relação ao frevo, é preciso descentralizar, tem que haver incentivo para os músicos do sertão na criação de orquestras, big bands e festivais.
ARTES E CULTURA NO SERTÃO
Marcel Fracassi
Marcel Fracassi É bibliotecário pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP/ SP), com especialização em gestão e políticas culturais pela Universidade de Girona. Atua como pesquisador do Observatório Itaú Cultural. Dirigiu o documentário Música ao Lado.
Notas 1 <https://www.brasildefato.com.br/2017/05/25/setenta-anos-de-asa-branca-o-hino-
-do-rei-do-baiao>. Acesso em: 13 ago. 2018. 2 <http://rollingstone.uol.com.br/edicao/37/noticia-3999>. Acesso em: 16 ago. 2018.
115
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
116
Meu pai tinha um caderno com melodias escritas com caneta pena, melodias que serviam como metodologia de desenvolvimento, muitos choros de Severino Araújo, K-ximbinho, Ratinho e Luiz Américo.”
3.
MEMÓRIAS E RESISTÊNCIAS DOS SERTÕES
119.
VÉIO, UM SER(TÃO): RELATO SOBRE UMA VIAGEM SERTANEJA Fernanda Castello Branco
125.
NO ENCONTRO DAS ÁGUAS: MULHERES CAMPONESAS DO SERTÃO DO PAJEÚ TRANSFORMANDO O SEMIÁRIDO Juliana Funari
134. O SERTÃO NÃO É LONGE DAQUI: TRADIÇÃO E MIGRAÇÃO DAS ALMAS ENTRE CATÓLICOS E EVANGÉLICOS NO NOVO SEMIÁRIDO Moacir Carvalho
140. ARCO-ÍRIS SERTANEJO :
A LUZ DA OBRA DE ELOMAR DECOMPOSTA EM UM ESPECTRO DE CORES Carlos Costa
144. ENTREVISTA – NIÈDE GUIDON
Fernanda Castello Branco
MEMÓRIAS E RESISTÊNCIAS DOS SERTÕES
VÉIO, UM SER(TÃO): RELATO SOBRE UMA VIAGEM SERTANEJA Fernanda Castello Branco
Relato sobre breve vivência no sertão de Sergipe, durante viagem de pesquisa para produção de conteúdo para a exposição Véio – a Imaginação da Madeira (que ficou em cartaz de março a maio de 2018 no Itaú Cultural, em São Paulo/SP). O texto tem como tema tanto os vários significados que o sertão pode oferecer a uma pessoa que não é de lá como a relação do artista Véio com o seu local de origem, explicitada no seu trabalho artístico e na sua forma de encarar a vida.
Como um homem pode ser tão palavra? Como uma palavra pode
T
ser tão?
ão além dos limites do que o dicionário e a língua portuguesa colocam como seus? Dentro da cerca semântica, sertão é “1. região do interior, com povoação escassa e longe dos núcleos urbanos, onde a pecuária se sobrepõe às atividades agrícolas; 2. região de vegetação esparsa e solo arenoso e salitroso, sujeito a secas periódicas; 3. terreno coberto de mato, afastado da costa; 4. o interior do país”.1 Tão além do próprio significado, o sertão é um estado de espírito. Uma sensação. Um sentimento. Nascida em uma ilha nordestina e habitando há duas décadas a capital
paulista, maior cidade do Brasil, entendi que é assim que o apreendo. Essa compreensão se deu na ida para Sergipe, em 2017, para colher material a fim de produzir a publicação da exposição Véio – a Imaginação da Madeira (que ficou em cartaz de março a maio de 2018 no Itaú Cultural, em São Paulo/SP). Não era minha primeira vez naquela região, mas certamente foi o momento preciso em que comecei a compreender a palavra para além da palavra. Para além da definição linguística. A fronteira entre os estados de Alagoas e Sergipe já tinha me deslumbrado alguns anos antes. Mas foi ali, naquele novembro de 2017, que conheci o significado que sertão tem hoje para mim. Foi quando também conheci Véio. No seu lugar de origem. Onde ele habita e cria. E talvez tenha sido mesmo o contato com o homem que tenha me feito entender melhor a terra.
119
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
120
Artista sertanejo, nascido Cícero Alves do Santos, em 1947, Véio carrega em si – e em tudo o que faz – o significado de sertão como o lugar onde se preservam costumes e tradições antigos. Ao contrário do que se pensa nas grandes cidades, essa preservação – especialmente em um mundo globalizado – se dá a custo de muita luta. E de pessoas como ele, que não se cansa de se colocar como o guardião de uma memória sertaneja praticamente em extinção. “Pego uma coisa que existiu há muito tempo e que está abandonada e resgato essa história e essa memória. Temos muitas coisas no Nordeste que ficaram abandonadas e perdidas”, diz ele, em uma de suas muitas contações de causos. Suas obras, nascidas de troncos de madeira, recontam histórias e apresentam personagens da região – que ainda sobrevivem pela tradição oral, mas, segundo o criador, convivem com a dificuldade de encontrar ouvintes. “É difícil, hoje em dia, encontrar quem conta histórias. E quem ouve também. Ninguém quer saber do passado. Porque está todo mundo moderno, querem falar é da novela, é de política, é de quem carrega mala de dinheiro”, garante. De palitos de fósforo a grandes troncos, Véio cria nas dimensões mais variadas de madeira. Apesar de garantir que prefere as obras minúsculas, fala com orgulho de todas as criações e para todas também tem uma história. As peças grandes têm como característica, além das cores (em geral, azul, vermelho, branco e verde), a presença do “V”, inicial do apelido e nome artístico, que aparece talhado na madeira ou, algumas vezes, já nas formas naturais da matéria-prima.
Quando se coloca no mundo como guardião da memória, Véio vai do propósito à prática não apenas em seu trabalho artístico. Nas dependências de sua casa, em Feira Nova, perto de Nossa Senhora da Glória (SE), onde nasceu, ele construiu casinhas temáticas que abrigam o que chama de Museu do Sertão. Ali é possível ver a casa da farinha, a casa sertaneja, a casa do ferreiro, uma pequena igreja com noivos e presépio. Sem ajuda de nenhuma pessoa ou instituição, ele guarda e preserva inúmeros objetos que recontam a história do povo sertanejo desde o começo do século XX. “Tudo o que guardei fala da história, da vida, da linguagem, dos costumes e da tradição”, diz. E esse tudo é mesmo vasto. Véio aprecia o muito. Véio é tão.
A coleção imensa é formada por inúmeros objetos: desde as ferramentas de vários ofícios, passando por brinquedos artesanais, até chegar a aparelhos eletrônicos do começo dos anos 2000, como os mais antigos modelos de telefones celulares, máquinas de escrever, além de maquetes e documentos históricos da cidade de Nossa Senhora da Glória. Entre outras coisas. Muitas coisas. Quem chega ao quilômetro 8 da BR 206, no sítio que está sempre com a porteira aberta, se der sorte, é recebido pelo próprio Véio, que faz questão de guiar o visitante nessa viagem ao passado por meio de tantos objetos. A cada história que conta – e elas se repetem com uma fidelidade detalhista aos fatos –, o artista faz questão de explicar que está falando de um tempo realmente muito antigo.
MEMÓRIAS E RESISTÊNCIAS DOS SERTÕES
Fernanda Castello Branco
121
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
122
Tudo. Muito. Tão. Sertão. E como uma palavra pode ser tão? Como um homem pode ser tão palavra?
Nesse amontoado de coisas colecionadas por Véio, assim como no imenso mundo que é o seu acervo, com cerca de 17 mil obras (cuja venda é vetada, por uma decisão do artista), o sertão vive e sobrevive. Entrar nessas pequeninas casas que abrigam tantas peças, especialmente ouvindo a sua narrativa para cada uma delas, é se conectar com a terra tanto quanto pisar o chão ou espiar o luar; aquele ao qual, segundo Luiz Gonzaga, não existe igual. Tanta informação e eu sentia muita necessidade de guardar isso em algum lugar. Um caderninho de anotações estava sempre a postos e, vez por outra, também recorria ao gravador de voz do celular. Ainda lá, já tinha entendido: registrar era bom, até pela natureza do trabalho, mas o sertão era (e é) dentro. O sertão é dentro e, uma vez apreendido, ele permanece. A mata Além de toda a imensidão do sertão de Véio, ainda há a mata. Localizado perto da sua casa, no povoado de Umbuzeiro, município de Feira Nova, esse pedaço de chão foi comprado por ele e serve sobretudo como um refúgio. A natureza é sua “parceira”, como ele faz questão de ressaltar, mas
engana-se quem pensa que de lá ele retira material para criar obras. Seu pedaço de mata foi comprado também para preservar. “Isto aqui foi um investimento que eu fiz, com retorno cultural, mas não com retorno financeiro. Tem muita gente que gosta de caçar à noite, mas aqui não entra. Quem é que vai entrar de noite aqui, no escuro? Todos os dias eu estou aqui. Aqui eu venho ver se alguém mexeu, olhar uma árvore, olhar uma coisa... se aconteceu alguma coisa diferente. Ou eu venho só para curtir mesmo”, conta. Sentado no centro da mata, sob a sombra das árvores, Véio gosta de falar do que mais sabe. Das coisas que via na infância, das coisas que ainda consegue observar como preservadas. Ali, onde só se ouve canto de alguns pássaros, ele se transfigura no próprio sertão. Ensimesmado, quieto, parece falar pouco, mas, de repente, começa a contar inúmeras histórias. Mais que um sertanejo, é o sertão. Ensimesmado e cheio de significados. “Até hoje sou uma pessoa que, se me contam um segredo, não conto a ninguém. Não tem quem me arranque um segredo. Tenho essa forma de pensamento e de vida. E gosto de estar sozinho na mata. Muita gente acha que é loucura”, explica. Podem achar que é loucura, mas Véio não dá a mínima importância. Podem achar que é loucura, mas Véio segue ritualístico na sua missão de manter viva a memória da sua região e do seu povo. Como escreveu Euclides da Cunha, “o sertanejo é, antes de tudo, um forte”2 e “a natureza toda protege o sertanejo”.3
MEMÓRIAS E RESISTÊNCIAS DOS SERTÕES
Fernanda Castello Branco
Fernanda Castello Branco Nasceu em São Luís (MA), mora em São Paulo desde 1999, é jornalista e trabalha como editora de conteúdo no Itaú Cultural. Esteve à frente da edição de conteúdo de diversas publicações do instituto, como da Ocupação Conceição Evaristo e da exposição Véio – a Imaginação da Madeira, o que lhe rendeu a relatada viagem ao sertão de Sergipe.
Notas 1 Dicionário Michaelis. 2 Trecho retirado de Os Sertões, de Euclides da Cunha. 3 Ibidem.
123
124
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
Juliana Funari
MEMÓRIAS E RESISTÊNCIAS DOS SERTÕES
NO ENCONTRO DAS ÁGUAS:
MULHERES CAMPONESAS DO SERTÃO DO PAJEÚ TRANSFORMANDO O SEMIÁRIDO Juliana Funari
Na problemática sociopolítica da água no semiárido, as mulheres camponesas do Sertão do Pajeú constroem resistências a partir de outra racionalidade, desenvolvem conhecimentos e práticas de valorização da água como bem comum. Na direção do direito à água com igualdade de gênero, abordamos seu fortalecimento político a partir da auto-organização, em uma construção feminista, ecológica e popular, que contribui para a gestão participativa e equitativa desse elemento vital para uma convivência emancipatória com o semiárido.
T
emos como ponto de partida as relações históricas das mulheres camponesas do Sertão do Pajeú – um território do semiárido pernambucano1 – com a água. Sertanejas, catingueiras, trabalhadoras rurais, agricultoras, indígenas, negras – que, diante das injustiças e opressões que permeiam suas vidas, (re)existem, semeiam e colhem as águas das veias da terra, raízes e nuvens. Mulheres que há gerações lutam cotidianamente pelo acesso à água para suas famílias, que enfrentam barreiras materiais e simbólicas para o reconhecimento de seu trabalho e que, mesmo nas adversidades, afirmam gostar de conviver com a natureza do sertão, com a qual profundamente se identificam. Por meio das lentes do ecofeminismo construtivista (PULEO, 2011) e da ecologia
política (LEFF, 2006; PORTO-GONÇALVES, 2008), percebemos que as múltiplas formas de gestão da água se dão a partir dos modos de vida, das cosmovisões e das diferentes perspectivas dos sujeitos ativamente transformadores da natureza. O acesso e a gestão das águas estão atrelados às condições de gênero, classe, etnia e raça, assim como aos conflitos socioambientais resultantes das relações de poder estabelecidas no território, de forma conectada ao contexto global capitalista, no qual existe um processo intenso de mercantilização da natureza. No semiárido brasileiro, as estiagens prolongadas, ou as chamadas grandes secas, são um elemento central na questão da água. Características do clima da região obedecem a uma lógica natural e cíclica,
125
126
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
podendo chegar a durar seis anos consecuti- empregavam os homens camponeses atinvos. Entretanto, a estrutura da problemática gidos pelas estiagens na construção de da água no semiárido é sociopolítica, pois se estradas e em obras hídricas. Na prática, funda não apenas em aspectos ambientais, essas obras beneficiavam as elites locais e mas sobretudo na sua integração em um se estabeleciam sob péssimas condições de contexto histórico de dominação e de in- trabalho e baixos salários (MEDEIROS FIjustiças socioambientais2 (FUNARI, 2016). LHO E SOUZA, 1988). No Sertão do Pajeú, O problema da “seca” é tão antigo esses fatos levaram os trabalhadores rurais quanto a colonização, estruturando-se des- a se organizarem contra a chamada “emerde o século XVIII na concentragência do patrão” na grande Produziam-se, como ção de terra e água nas mãos de seca de 1979-1984. uma restrita elite agrária e na uma construção Para compreendermos ausência de políticas públi- social, os cenários os desafios das mulheres é onde as mulheres cas adequadas à convivência preciso considerar que tudo caminhavam dos(as) sertanejos(as) com a isso ocorre dentro do sistema quilômetros com natureza (ANDRADE, 1973). latas na cabeça para patriarcal e da decorrente As estiagens atingiam intensa- acessar fontes de divisão sexual do trabalho,4 mente a produção camponesa, água voltadas para segundo a qual as mulheres constituída de sistemas de se- usos vitais, como são responsabilizadas pelos queiro3 – dependentes das chu- beber e cozinhar. trabalhos reprodutivos, pela vas do inverno. Produziam-se, preparação de alimentos, como uma construção social, os cenários pelos cuidados com a saúde da família e onde as mulheres caminhavam quilômetros pelo abastecimento de água e lenha. Precom latas na cabeça para acessar fontes de cisam garantir que tais insumos cheguem água voltadas para usos vitais, como be- aos membros da casa mesmo durante as ber e cozinhar. estiagens – quando os recursos se tornam As(os) camponesas(es) desenvolveram mais escassos –, o que suscita um grande estratégias de convivência com o semiárido peso nas vidas das sertanejas. As mulheres como forma de resistência. Buscavam cons- percebem e respondem de forma muito partruir sociedades autossustentáveis e adap- ticular às mudanças no acesso aos meios tadas aos sertões. Exemplos históricos são de sobrevivência, sendo frequentemente as o Arraial de Canudos, no século XIX, e a fa- primeiras a reagirem contra a escassez, a zenda Caldeirão de Santa Cruz do Deserto, privatização e a deterioração da natureza no início do século XX (MARTINS, 1990). (SHIVA, 2006). De 1950 a 1980, a ação do Estado se liAs camponesas participantes de nossa mitou ao combate à seca, resumindo-se a pesquisa5 vivenciaram na pele essas dificulfrentes de emergência, abastecimento das dades. Uma das agricultoras entrevistadas populações com carros-pipa e distribuição conta sobre as mudanças e permanências de cestas básicas. As frentes de emergência entre a grande seca de 1960 e a de 1980:
MEMÓRIAS E RESISTÊNCIAS DOS SERTÕES
Tinha aqueles períodos de seca, meu pai saía para trabalhar nas emergências, lá no São Serafim, que hoje é Calumbi, ia fazer estradas. De 15 em 15 dias, ele vinha trazer aquele pouco de dinheiro pra gente fazer as compras. A emergência era por causa da seca, davam aquele emprego pra consertar estrada, bater tijolos. Eu mesma bati tijolo, o tijolo dessa cacimba comunitária eu mesma ajudei a fazer, era comunitária a cacimba. Nisso já estava um tempo melhorzinho, quando eu bati tijolo, mas quando meu pai trabalhava no São Serafim... Minha mãe com os filhos pequenos, eu era pequena e ajudava com os meninos. Minha mãe arrancava os balaios de mandioca, porque a mandioca é uma raiz resistente, mesmo na seca ela está lá, acudiu muito as necessidades. E o guandu, que a minha mãe nunca deixava de plantar. Ela catava aquele guanduzinho verde, ralava mandioca no ralo, fazia beiju. Minha mãe foi toda vida batalhadora, ela organizou e comprou uma vaca que estava esperando bezerro. Dessa vaca era o sustento da casa. Pai saía pra trabalhar e nós pequenos ficava, minha mãe ia pra casa de farinha, arrancava o balaio de mandioca, botava na cabeça e ia lá fazer (agricultora, município de Santa Cruz da Baixa Verde, Sertão do Pajeú).
A partir do mote da geração de renda e superação da fome, dentro do movimento sindical dominado por homens, Vanete Almeida6 – assessora da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Pernambuco na época – conseguiu apoio dos sindicalistas e elaborou com outras mulheres o documento Mulheres Excluídas do
Juliana Funari
Plano de Emergência, enviado ao governo, a jornais e à OAB, em 1983. Quando o governo permitiu o alistamento das mulheres, estava socialmente estabelecido que seria para realização de “trabalhos de mulher”, como cozinhar. Elas queriam mais. Indo além das margens do patriarcado, as mulheres do Sertão do Pajeú conquistaram seu espaço na construção de pequenas obras hídricas comunitárias. Elas queriam trabalhar diretamente nas obras. Pressionaram e conseguiram. Os homens não acreditavam que elas eram capazes de fazer um barreiro. As mulheres deram a resposta: começaram a fazer barreiros igual aos homens e até melhor (ALMEIDA, 1995, p. 117).
A luta pela água permeia a aproximação das mulheres do Sertão do Pajeú e torna-se um importante elemento para impulsionar sua auto-organização política. A participação das mulheres nas frentes de emergência, na grande seca de 1980, foi fundamental para a mobilização de lideranças comunitárias e a construção de uma consciência coletiva. Em 1984, foram criadas as condições para o primeiro encontro do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Sertão Central (MMTR-SC) 7 (JALIL, 2014). Na estiagem de 1993, elas reivindicaram o alistamento nas frentes de emergência e fizeram exigências para o reconhecimento de seus direitos nos próprios sindicatos. No mesmo ano, participaram do primeiro acampamento na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), no qual
127
128
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
cerca de mil trabalhadores e trabalhadoras Em 2002, o MMTR-SC11 iniciou uma se instalaram na sede daquela autarquia campanha para recuperação do Riacho para pressionar o governo. Olho d’Água, inspirando importantes ações, Baptista e Campos (2013) apontam como a Caravana em Defesa do Rio Pajeú, que, nas décadas de 1990 e 2000, a socieda- que ocorreu pela primeira vez em 2004 e de civil organizada influenaté hoje é um potente prociou fortemente para que o As mulheres cesso coletivo. 12 O objetivo semiárido se tornasse uma desenvolveram uma é fortalecer a articulação da pauta política permanente, relação de cuidado com a sociedade civil para reativar atrelando esse fato àquelas água, por elas percebida o Comitê da Bacia Hidrográações históricas de resis- como uma condicionante fica do Rio Pajeú; contribuintência camponesa e, mais para a reprodução da do para mudanças culturais recentemente, à articulação vida e o bem viver de a partir de ações coletivas de suas famílias. social para a convivência educação ambiental e funcom o semiárido baseada cionando como uma metona valorização de alternativas locais. Essa dologia participativa de monitoramento e mobilização culminaria na criação da Ar- incidência política sobre as condições soticulação do Semiárido Brasileiro (ASA)8 cioambientais das águas da bacia. em 1999. Nas últimas duas décadas, as ações das Nesse novo contexto, que influenciou mulheres vêm sendo potencializadas por significativamente o Pajeú, as lutas e os políticas públicas inéditas na região – drasolhares das mulheres sobre a água se inte- ticamente reduzidas pelo governo ilegítimo gram e se transformam, havendo um forta- de Michel Temer. As políticas de Assistência lecimento da água enquanto sua bandeira Técnica e Extensão Rural – Ater Mulheres13 e de luta na perspectiva da agroecologia e da Ater Agroecologia14 – favoreceram suas práconvivência com o semiárido. ticas ecológicas com a água. Por sua vez, os As mulheres camponesas atuam de programas da ASA15 disseminaram o acesso forma ativa para a conservação das águas a tecnologias sociais, como as cisternas para por meio de práticas ecológicas de mane- armazenamento de água da chuva, por meio jo da natureza, e também de suas práticas de amplos processos de controle social nas políticas. Auto-organizadas no MMTR-SC, chamadas comissões municipais da ASA. em grupos comunitários, na Rede de MuPara além dos percalços e da necessilheres Produtoras do Pajeú,9 inclusive com dade permanente de incidência dentro de apoio da ONG feminista Casa da Mulher ambientes políticos permeados pela cultura do Nordeste,10 dedicam-se a ações volta- machista, as mulheres e suas organizações das para a recuperação do Rio Pajeú e seus têm construído práticas que rompem pariachos; para mobilizações e formações em drões e preconceitos, bem como contribuem torno das tecnologias sociais de água; e para para a apropriação das tecnologias sociais a Caravana em Defesa do Rio Pajeú. pelas mulheres.
Juliana Funari
MEMÓRIAS E RESISTÊNCIAS DOS SERTÕES
A gente não era da ASA ainda, mas em 2004 a gente se desafiou. Fomos a primeira organização no Nordeste a fazer um curso de formação para mulheres pedreiras cisterneiras. Porque esse campo da construção civil é dominado pelos homens, e havia algumas mulheres que tinham interesse em aprender. Foi fantástico, houve muitas críticas dos homens. Elas construíram as cisternas. [...] hoje a ASA apoia totalmente, em muitos estados existem muitas mulheres cisterneiras (coordenadora da Casa da Mulher do Nordeste, no Sertão do Pajeú).
Houve também uma relativa redução do tempo e dos esforços gastos na realização dos serviços de casa a partir do armazenamento e da gestão da água acarretados pelas tecnologias sociais, porém, a divisão sexual do trabalho continua afastando-as dos espaços políticos, existindo barreiras materiais e simbólicas mais profundas que precisam ser quebradas. Em contraste à lógica da “indústria da seca” que ainda permeia as relações com a água no território – desde grandes obras hídricas caríssimas e ineficientes até venda e desvio de água, uso da água como moeda política –, as mulheres desenvolveram uma relação de cuidado com a água, por elas percebida como uma condicionante para a reprodução da vida e o bem viver de suas famílias. Uma relação radical no sentido de ser ligada à raiz da vida e contra a mercantilização da natureza, que se baseia na perspectiva da água enquanto um bem comum – público e de gestão coletiva –, uma das bases do paradigma da convivência com o semiárido.
Como elemento da natureza próximo das mulheres e direito a ser conquistado, a água conecta as camponesas no Sertão do Pajeú. A partir de uma relação histórica com a água, elas trazem outros olhares, conhecimentos e práticas para a construção de uma convivência com o semiárido emancipatória para as mulheres e, de fato, transformadora da sociedade. Por fim, considerando que não há questão ecológica que não seja uma questão humana, os movimentos e organizações de mulheres camponesas constituem um campo político socioambientalista, feminista e popular, contribuindo para a gestão participativa e equitativa da natureza em direção ao direito à água com igualdade de gênero.
Juliana Funari É gestora ambiental pela Universidade de São Paulo (USP) e mestra em desenvolvimento e meio ambiente pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). É membro do Núcleo de Educação, Pesquisa e Práticas em Agroecologia e Geografia (Neppag-Ayni) da UFPE e do Dadá – Grupo de Pesquisa em Relações de Gênero, Sexualidade e Saúde, da Unidade Acadêmica de Serra Talhada, da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Integra a Rede Feminismo e Agroecologia do Nordeste.
129
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
130
Referências AB’SÁBER, A. N. Sertões e sertanejos: uma geografia humana sofrida. Estudos Avançados, v. 13, n. 16, 1999, p. 5-59. ALMEIDA. V. Ser mulher num mundo de homens: Vanete Almeida entrevistada por Cornélia Parisius. Serra Talhada: Sactes/DED – MMTR/NE, 1995. ANDRADE, M. C. de. A terra e o homem no Nordeste. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1973. BAPTISTA, N. de Q. e CAMPOS, C. H. Formação, organização e mobilização social no semiárido brasileiro. In: CONTI, I. L. e SCHROEDER, E. O. (Org.). Convivência com o semiárido brasileiro: autonomia e protagonismo social. Brasília: Iabs, 2013. FUNARI, J. N. Um sertão de águas: mulheres camponesas e a reapropriação social da natureza no Pajeú. Tese de mestrado em desenvolvimento e meio ambiente. Pernambuco: Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 2016. JALIL, L. M. As flores e os frutos da luta – o significado da organização e da participação política para as mulheres trabalhadoras rurais. Tese de doutorado em ciências sociais. Programa de Pós-graduação de Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade. Rio de Janeiro: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), 2013. KERGOAT, D. Relações sociais de sexo e divisão sexual do trabalho. In: LOPES, M. J. et al. Gênero e saúde. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996. LEFF, H. Racionalidade ambiental: a reapropriação social da natureza. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. MARTINS, J. de S. Os camponeses e a política no Brasil. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 1990. MEDEIROS FILHO, J.; SOUZA, I. A seca do Nordeste: um falso problema. Petrópolis: Vozes, 1988. PORTO-GONÇALVES, C. W. A luta pela apropriação e reapropriação social da água na América Latina. Oceania, v. 7, n. 4.570, 2008, p. 2-510. PULEO, A. H. Ecofeminismo para outro mundo possível. Feminismos. 1. ed. Madrid, 2011. SHIVA, V. Guerras por água: privatização, poluição e lucro. São Paulo: Radical Livros, 2006.
MEMÓRIAS E RESISTÊNCIAS DOS SERTÕES
Juliana Funari
Notas 1
A delimitação que adotamos nesta análise é a do Programa Territórios da Cidadania, realizado em 2008 pelo Governo Federal como parte de uma nova abordagem territorial de desenvolvimento rural.
2
Na ecologia política, o conceito de injustiça ambiental está atrelado às desigualdades no acesso e no controle dos recursos naturais, bem como na distribuição dos ônus ou impactos socioambientais gerados pelo modelo de desenvolvimento. Nessa perspectiva, o que define o poder e as condições dos sujeitos envolvidos nos conflitos socioambientais são as condicionantes de classe, raça, etnia e gênero. Para maior aprofundamento, ver o livro Conflitos ambientais no Brasil, de Henri Acselrad.
3
A produção de sequeiro é característica dos sistemas produtivos camponeses no semiárido, não possui irrigação e consiste no desenvolvimento dos cultivos por meio dos ciclos de águas das chuvas, sendo as sementes estrategicamente plantadas no período do esperado inverno.
4
A divisão sexual do trabalho é sedimentada em uma específica separação – o trabalho masculino é diferente do trabalho feminino – e hierarquização – o trabalho masculino tem um valor superior ao trabalho feminino. Essa forma de organização do trabalho, arraigada no sistema patriarcal, tem responsabilizado as mulheres pelos trabalhos reprodutivos, socialmente desvalorizados e invisibilizados. Ao mesmo tempo que as subjuga aos espaços privados e domésticos, as exclui dos espaços públicos e políticos (KERGOAT, 1996).
5
Este artigo foi construído a partir de um recorte de nossa pesquisa de mestrado, Um sertão de águas: mulheres camponesas e a reapropriação social da natureza no Pajeú, desenvolvida no âmbito do Programa de PósGraduação em Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal de Pernambuco, em 2016. Metodologicamente, partimos de uma aproximação com a realidade de sete mulheres camponesas do território por meio de entrevistas semiestruturadas e oficinas participativas de mapeamento, ambas voltadas para a identificação das relações de gênero nos processos de gestão da água nas propriedades, nas comunidades rurais e nos espaços políticos do território.
6
Maria Vanete Almeida (1943-2012), mulher sertaneja, feminista e uma das idealizadoras do Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do Nordeste e Sertão Central. Na década de 1980 era uma das poucas mulheres no movimento sindical, lutando pelo reconhecimento das mulheres como trabalhadoras rurais e por seus direitos. Inspirou o livro Ser mulher num mundo de homens, de Cornélia Parisius. Presidiu o Centro de Educação Comunitária Rural (Cecor) em Serra Talhada (PE), integrou o Conselho Nacional de Políticas para Mulheres de 1996
131
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
132
a 2003 e, em 2005, foi indicada pela ONG suíça Mulheres pela Paz ao Redor do Mundo ao Prêmio Nobel. A partir de 1996, tornou-se coordenadora internacional da Rede de Mulheres Rurais da América Latina e do Caribe, que ajudou a fundar. 7
O território do Sertão do Pajeú abrange dois polos sindicais, o Polo Sindical do Sertão do Pajeú e o Polo Sindical do Sertão Central. O Movimento de Mulheres Trabalhadoras Rurais do território nasce da articulação com o Polo Sindical do Sertão Central.
8
A Articulação do Semiárido Brasileiro é uma rede de organizações da sociedade civil de distintas naturezas (sindicatos rurais, associações de agricultores e agricultoras, cooperativas, ONGs, Oscip etc.), hoje abrangendo mais de 3 mil organizações. Inicialmente, foi constituída por 61 organizações da sociedade civil, as quais lançaram o documento Declaração do Semiárido: Propostas da Articulação no Semiárido Brasileiro para a Convivência com o Semiárido e Combate à Desertificação, uma proposta de ruptura com a filosofia e as ações de combate à seca. A declaração apontava a necessidade de medidas estruturantes para o desenvolvimento da região, pleiteava medidas políticas permanentes e fomento de práticas de convivência com o semiárido. Hoje, a ASA tem um papel central na incidência política, na formulação e na execução de políticas públicas baseadas na perspectiva da convivência com o semiárido e a agroecologia. Para mais informações, ver o site da articulação: <http://www.asabrasil.org.br/>.
9
A Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú é composta de mais de 30 grupos comunitários de mulheres produtoras e artesãs, articulando mais de 500 mulheres camponesas. Nasceu em 2006, a partir de um projeto idealizado pela ONG Casa da Mulher do Nordeste integrado à metodologia da Rede de Mulheres Produtoras do Nordeste. Este era voltado para o fortalecimento da auto-organização das mulheres para conquista de sua autonomia política e econômica. Hoje se articula como uma organização autônoma.
10
A Casa da Mulher do Nordeste é uma ONG feminista criada em 1980 em Recife. Sua missão é o empoderamento econômico e político das mulheres a partir da perspectiva feminista. Desenvolve no território do Pajeú, desde 2003, o Programa Mulher e Vida Rural, que visa fortalecer a capacidade de produção e de participação política das mulheres em espaços rurais por meio da construção de conhecimentos agroecológicos e da auto-organização em rede. Site: <www.casadamulherdonordeste.org.br>.
11
Estiveram envolvidos na recuperação do Riacho Olho d’Água o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santa Cruz da Baixa Verde e a ONG Centro de Educação Comunitária Rural (Cecor).
MEMÓRIAS E RESISTÊNCIAS DOS SERTÕES
Juliana Funari
12
Como parte da metodologia da pesquisa, participamos da Caravana em Defesa do Rio Pajeú em 2014, a qual foi organizada no território por organizações não governamentais, movimentos sociais, sindicatos rurais e uma universidade, atuantes na região em defesa da agricultura familiar, do meio ambiente e de justiça socioambiental. Participaram 56 pessoas, entre equipe técnica das ONGs, pesquisadores(as), sindicalistas e agricultores(as) oriundos(as) dos 28 municípios que compõem a bacia hidrográfica do Rio Pajeú.
13
A partir de 2003, o movimento de mulheres conquista uma nova metodologia e política dentro da Assistência Técnica e Extensão Rural, a denominada Ater Mulheres. Essa política pública é voltada para implementação de ações de assessoria técnica com mulheres rurais e agricultoras, no desenvolvimento de estratégias que fortaleçam sua autonomia produtiva, economia e política. Ver livro Ater Mulheres – autonomia e luta: experiências de metodologias feministas, do Ministério de Desenvolvimento Agrário, 2017.
14
A Ater Agroecologia é uma conquista do movimento agroecológico do Brasil visando promover a agroecologia enquanto base para o desenvolvimento rural. Dentro da metodologia dessa política, as mulheres do campo agroecológico conseguiram garantir que pelo menos 30% dos recursos fossem destinados a atividades específicas com as mulheres rurais. Além disso, o público beneficiário deveria ser constituído por 50% de mulheres rurais.
15
O Programa Um Milhão de Cisternas (P1MC) se consolidou como um programa voltado para a descentralização e democratização da água no governo Lula, em 2003. É voltado para a construção de cisternas de placas de primeira água, ou seja, água destinada ao consumo humano doméstico, ao redor da casa das famílias. A cisterna e o sistema de captação são construídos pela própria família e comunidade, havendo a proposta de apropriação da tecnologia social pelos sujeitos envolvidos. O programa prevê ainda formações sobre Gerenciamento de Recursos Hídricos (GRH), que foca o acesso à água enquanto direito e para a convivência com o semiárido. O Programa Uma Terra e Duas Águas (P1+2), iniciado em 2007, é voltado para a construção de tecnologias sociais de segunda água, ou armazenamento de água para a produção agrícola e criação de pequenos animais, integrando essas com o fomento à produção agroecológica. O programa envolve formações para a convivência com o semiárido por meio de capacitações em Gerenciamento da Água para Produção de Alimentos (Gapa) e em Sistema Simplificado de Manejo da Água (SSMA).
133
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
134
O SERTÃO NÃO É LONGE DAQUI:
TRADIÇÃO E MIGRAÇÃO DAS ALMAS ENTRE CATÓLICOS E EVANGÉLICOS NO NOVO SEMIÁRIDO Moacir Carvalho
O sertão tem sido considerado um lugar espiritualmente denso, de um catolicismo sincrético, messiânico e festivo. Todavia, tal visão, embora não totalmente falsa, tem bloqueado leituras alternativas da espiritualidade sertaneja em tempos de mercado. Procuro explorar certas dinâmicas relativas à concorrência entre católicos e evangélicos, concentrando-me no quanto demandas por formas expressivas voltadas para a autorrealização têm crescido. Com isso, redirecionam-se os padrões de oferta de serviços espirituais também nessa região.
MEMÓRIAS E RESISTÊNCIAS DOS SERTÕES
N
o ano de 1962, estreia filme sobre o tema religioso que faria história no cinema brasileiro. Nele, não só seriam relacionados litoral e sertão na composição dos conflitos que dariam sentido à trama, mas também seriam explorados os dilemas entre uma determinada religiosidade popular e os desiguais processos e velocidades modernizadoras nacionais. Trata-se de O Pagador de Promessas, de Anselmo Duarte, filme baseado na peça de Dias Gomes. Somos aí apresentados a Zé do Burro, personagem principal que, com sua pureza e moralidade inflexíveis, portaria um tipo de grandeza cativante, síntese dos ideais de um popular sobrevivente em um Brasil profundo. Na tentativa de cumprir promessa feita em terreiro visando à cura de Nicolau, seu burro, o protagonista tensiona-se em longa refrega com um pároco de Salvador. Curado o burro, Zé do Burro carregaria imensa cruz ao interior da igreja de Santa Bárbara e – fator geralmente esquecido – dividiria suas terras entre os mais pobres. Chegando, porém, às portas da igreja, o pároco lhe nega entrada! Começa o verdadeiro padecimento de Zé do Burro: não o trajeto entre sertão e litoral, mas o que lhe aguarda na cidade. O sertão parideiro de fanatismos vai desaparecer para dar lugar ao motor urbano da história. E, com o sertão feito lonjura esquecida em meio a nossa aventura civilizatória, o urbano se torna o campo das tensões constituintes do agora. É aí que Zé do Burro deverá converter o mito do sertanejo, politizando-o em história. Enfim, inverte-se a relação entre catolicismo oficial e popular, fazendo desse catolicismo rural, festivo e iletrado expressão do autêntico em oposição
Moacir Carvalho
ao artificialismo autointeressado da cúpula ilustrada e citadina. Evidentemente, qualquer semelhança com a Teologia da Libertação não será mera coincidência. Todavia, mesmo que o cosmos religioso oferecido em O Pagador de Promessas seja extremamente rico, capaz de promover a visibilidade de uma diversidade de expressões espirituais, nele não vemos “crentes”. Como se, no esforço integrativo do popular numa narrativa em que estava em jogo o futuro da nação, tivesse sido difícil integrar o protestantismo como cultura contra o pano de fundo da profusão católica e afro-brasileira que então se estetizava em meios profanos com seus ritos, êxtases e cerimoniais festivos. Se o catolicismo rústico (QUEIROZ, 1968) era a nossa história, como os protestantes poderiam tomar parte nela? Fato é que eles tomaram, começando a chegar no século XIX, após a abertura dos portos em 1808 e a Constituição de 1824 – sobretudo anglicanos e luteranos, que se dirigiam preferencialmente às regiões Sul e Sudeste. Todavia, o ritmo da protestantização seguiria lentamente, dependendo da entrada de imigrantes entre fins do século XIX e início do XX. Isso mudaria com o protestantismo de missão e com os pentecostais. Estes últimos vieram com a Congregação Cristã em 1910 e a Assembleia de Deus em 1911. Ambas caracterizadas por rigor moral e aversão ao mundo. É a chamada primeira onda pentecostal associada à glossolalia – o falar em línguas. Principais responsáveis pelo crescimento evangélico no país, nas décadas de 1950 e 1960 adviria sua segunda onda, com Evangelho Quadrangular, Brasil para Cristo e Deus é Amor. A partir daí, o fenômeno pentecostal
135
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
136
chamaria mais atenção, ainda que permanecesse marginal e, eventualmente, fosse considerado mero modismo ou fanatismo. Enfim, começariam a ser acusados pelo enfraquecimento católico dos anos 1970 e 1980, ao mesmo tempo que seu avanço seria tomado como expressão de desenraizamento rural, migrações, consumismo, proletarização, urbanização e modernização. Na década de 1970, enquanto as CEBs1 católicas avançariam sertão adentro apostando numa solução coletivista à tensão entre este e o outro mundo, os chamados neopentecostais pareceram preferir, inclusive por logística, as cidades. Nesse caso, oferecendo modelo menos politizado, mas que se mostraria bem adaptável. Contrapondo-se à rejeição ao mundo dos seus “ancestrais” pentecostais, tal modelo proporcionaria um formato cultural espetacular, mesclando música, dança e esfuziantes exorcismos. Universal do Reino de Deus (IURD), Renascer, Internacional da Graça de Deus, entre outras, são exemplos desse formato. Tal corrente, empunhando um proselitismo mais agressivo, se mostraria particularmente habilidosa em atrair para si polêmicas. Bastando rápida pesquisa nas matérias jornalísticas a partir dos anos 1990, encontram-se desde chutes na santa até acusações de exploração monetária dos fiéis, lavagem de dinheiro e associação ao tráfico, com prisões de pastores, casos de insulto e mesmo agressão. Além, é claro, das controversas aproximações entre evangélicos, meios massivos de comunicação e política – tendo ocorrido, mais recentemente, a eleição de Marcelo Crivella, figura de peso da IURD, para prefeito do Rio de Janeiro pelo PRB.
Nesse contexto, não só católicos e afro-brasileiros se mostrariam especialmente alarmados. Também setores leigos da sociedade temeram que o avanço do segmento em sua preferencial afinidade ao conservadorismo político ameaçasse a laicidade estatal. No limite, levando-nos a um tipo de teocracia evangélica. Leitura essa que ganha força diante do impressionante crescimento numérico do segmento, que, segundo pesquisa do Datafolha de 2016, estaria alcançando 30%. Também, de acordo com o Pew Research Center, nos anos 2030 o Brasil já não será majoritariamente católico. E não se trata apenas de números, mas de uma inovação cultural capaz de alterar o campo religioso. Aliás, é possível que estejamos presenciando os desdobramentos não planejados das inovações neopentecostalizantes ocorridas nos anos 1970 e 1990, algo que excederia as expectativas das primeiras lideranças. Por exemplo, se nos primeiros anos do fenômeno o doador preferencial de “fiéis” foi o catolicismo urbano, grande parte da mobilidade religiosa atual se daria no interior do próprio espectro evangélico. Sendo que esse fenômeno estaria sendo acompanhado pelo crescimento dos confessionalmente não determinados. Ao mesmo tempo, se os neopentecostais foram habilidosos em incorporar festivamente rituais e símbolos católicos, também os católicos incorporariam recursos pentecostalizantes via Renovação Carismática. Tudo muito complexo. Não se pode esquecer, o catolicismo é nosso cristianismo mais velho. Contando com recursos e rede de relações globais, tem se perpetuado com sucesso por quase 2 mil anos. E, com isso, sendo capaz de até os dias de hoje combinar elementos novos com práticas
Moacir Carvalho
MEMÓRIAS E RESISTÊNCIAS DOS SERTÕES
EVANGÉLICOS POR REGIÃO % (1940-2010)
BRASIL
1940
1970
1980
1991
2000
2010
2,6
5,16
6,6
9,57
15,4
22,2
Norte
1,2
4,8
8,43
12,16
19,8
28,5
Nordeste
0,73
2,55
3,40
5,54
10,3
16,4
Sudeste
2,30
5,47
7,11
10,71
17,5
24,6
Sul
8,92
8,88
10,17
12,17
15,3
20,2
Centro-Oeste
1,3
5,45
7,8
11,43
18,9
26,8
Fonte: IBGE.
antigas, muitas delas com particular apelo lúdico-festivo e já bem consolidadas: romarias, procissões, festas aos santos e devoções domésticas. Desde São João a Frei Damião, passando pelas hierópolis do Juazeiro de Padre Cícero, São Francisco do Canindé e Bom Jesus da Lapa, ou a encenação da Paixão de Cristo, o sertão parece ainda oferecer vitalidade espiritual impressionante. E se, por um lado, o catolicismo não tem impedido o avanço dos evangélicos no sertão, é certo que aí os católicos continuem mais representados que a média nacional, com quase 90% das 485 cidades brasileiras com menos de 3% de evangélicos no sertão. Buscando reverter esse quadro é que iniciativas como o Movimento Nacional de Evangelização do Sertão Nordestino têm acontecido. Em sua página, lê-se: “Esforçando-nos para levar o evangelho onde Cristo ainda não é conhecido”. Com cerca de 23 milhões de habitantes, o sertão tornara-se fatia do mercado espiritual particularmente compensadora ao investimento. A princípio, se focamos índices absolutos, confirma-se um Nordeste mais católico que as demais regiões, com o Piauí disparado em primeiro – 85,1%. Por certo. Todavia, se nos voltamos para a quantidade de vezes
que os patamares de 2010, por região, haviam se multiplicado em relação aos de 1940, chegamos a um quadro bastante distinto. Agora as regiões Norte (com aumento de 24 vezes), Nordeste (22 vezes) e Centro-Oeste (20 vezes) aparecem, respectivamente, como aquelas de protestantização mais acelerada, seguidas por Sudeste (11 vezes) e Sul, com pouco mais que duas vezes. Assim, se a Região Nordeste é ainda a de mais catolicismo – 72,2% em 2010 –, a queda deste aí só ficou atrás da Região Norte. Enquanto isso, Pernambuco (32,3%), Bahia (17,4%) e Maranhão (17,2%) são, respectivamente, os mais protestantes. Já a Região Sul, que em 1940 era disparada a mais protestante, deverá se tornar a mais católica nos próximos anos. No quadro atual, de fato, o semiárido se confirma como ainda mais católico (80%) e menos protestante (12%) que a média nordestina. Todavia, ultimamente tem seguido o ritmo de evangelização da região, ou seja, mais rápido que a média nacional. Além do mais, entre os anos 1970-2010, o índice de urbanização no Nordeste passou de 41,78% para 73,13%. No mesmo período, a taxa nacional se ampliou de 55,98% para 84,36%. Ou seja, não só o Nordeste, com 53 milhões
137
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
138
de habitantes, mas também o sertão já não seriam essencialmente rurais. E, mesmo que o semiárido ainda possua alguns dos piores IDHs do país, ele vem se desenvolvendo mais rapidamente que a média brasileira. Talvez estejamos vivendo um processo de integração no qual determinadas formas de vida estariam se propagando mais homogeneamente, ainda que com diferentes velocidades. Os próprios sentidos de “espiritual”, “povo”, “tradicional” e “moderno” estão mudando. Decerto, o sertão continuará por um bom tempo muito católico, sim! Mas resistente à novidade e criatividade religiosas? Dificilmente. Precisa-se lembrar: a velha espiritualidade popular retratada em O Pagador de Promessas era tudo, menos resistente à invenção. Diante dela, se nossa recepção do protestantismo ainda no século XIX teria oscilado entre a esperança de modernização e o medo de infecção, em anos recentes têm prevalecido a maleabilidade e a atratividade das agências; generaliza-se a importância de experiências de plenitude e mesmo prazer. Sobre seu encontro com o Espírito Santo, comunicou-me certa vez uma praticante da IURD: Sabe quando você se lembra de uma coisa gostosa, e dá aquela risadinha assim... Você está ali, meu Deus, eu Te amo, eu Te adoro. Você só tem vontade de louvar, de agradecer [...] O Espírito Santo é de paz, é uma intimidade [...] Então você sente aquela presença mais gostosa.
E, pode-se dizer, durante o atual acirramento concorrencial, o fluxo de praticantes entre grupos se assemelharia mais a movimentos multidirecionais em contínuo, com os concorrentes sofrendo perdas e ganhos a todo
tempo. Mas esse é o espetáculo que se abre aos que vivem da religião, empenhados em garantir casa cheia e motivada. O outro lado da moeda é que os antigos ideais confessionais espiritualmente monogâmicos estariam perdendo legitimidade. O sertão não deverá ser muito diferente. Lugar de gente com “Deus” – ou deuses –, mas cada vez com “menos igreja”; assim, ofertadores quaisquer já não poderão contar com uma representação submissa ou incapaz do sertanejo, se é que já puderam um dia... Não seria essa incompreensão parte da tragédia que assolou Canudos ou, de forma mais discreta, impôs tantos padecimentos a tantos feito Zé do Burro? Nesse sentido, a combinação de ofertas festivas entre Renovação Carismática, velhos catolicismos e neopentecostalismo parece conferir ocasião celebrativa àqueles desejosos por formas lúdicas de autoexpressão. O praticante de hoje, sobretudo o mais jovem, parece querer experimentar todo acepipe espiritual que lhe aprouver nesta vida. Mas, diversidade eventualmente marcada por conflitos mais abertos e mesmo casos de insulto e agressão, deverá tender, espera-se, a resolver suas diferenças mediante um sentido celebrativo, de tolerância e consideração às garantias estatais legais para todos.
Moacir Carvalho É sociólogo com doutorado pela Universidade de Brasília (UnB). Tem pesquisado os temas da cultura popular, religião, consumo e economia simbólica.
MEMÓRIAS E RESISTÊNCIAS DOS SERTÕES
Moacir Carvalho
Referências ALVES, J.; CAVENAGHI, S.; BARROS, L.; CARVALHO, A. Distribuição espacial da transição religiosa no Brasil. Tempo Social, v. 29, n. 2, 2017, p. 215-242. DATAFOLHA. Perfil e opinião dos evangélicos no Brasil, São Paulo, 7 e 8 dez. 2016. FUSCO, Wilson; MOREIRA, Morvan de Mello. Dinâmica demográfica do Nordeste. Relatório de Pesquisa. Fundação Joaquim Nabuco, 2015. LOPES JR.; Orivaldo P. A Conversão ao Protestantismo no Nordeste do Brasil. Lusotopie. Paris: Karthala, 1999, p. 291-308. MARIANO, Ricardo. Sociologia do crescimento pentecostal no Brasil: um balanço. Disponível em: http://oaji.net/articles/2017/6000-1529605659.pdf. Acesso em: 16 dez. 2018. MARIANO, Ricardo. Mudanças no campo religioso brasileiro no censo 2010. Debates do NER, Porto Alegre, ano 14, n. 24, jul./dez. 2013, p. 119-137. MELLO, Adilson da Silva. Cunha: relações religiosas e transformações, tradição e transição cultural. Tese de doutorado em ciências sociais. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP), 2008. PONTES, E. T. M. Fé e pragmatismo no sertão. Mercator, Fortaleza, v. 13, n. 2, p. 155-168, mai./ ago. 2014, p. 155-168. QUEIROZ, M. I, Pereira de. Sociologia – o catolicismo rústico no Brasil. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros, São Paulo, n. 5, 1968, p. 104-123. SANTOS, Magno. No sertão e na capital, salve Aparecida: peregrinações em Sergipe no tempo presente. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, v. 28, n. 55, jan./jun. 2015, p. 169-187. STEIL, Carlos Alberto; HERRERA, Sonia Reys. Catolicismo e ciências sociais no Brasil: mudanças de foco e perspectiva num objeto de estudo. Sociologias, Porto Alegre, v. 12, n. 23, jan./abr. 2010, p. 354-393.
Nota 1
As Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) são grupos inclusivistas ligados à Igreja Católica que, incentivados pela Teologia da Libertação após o Concílio Vaticano II (19621965), multiplicaram-se no Brasil e na América Latina ao longo dos anos 1970 e 1980.
139
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
140
ARCO-ÍRIS SERTANEJO:
A LUZ DA OBRA DE ELOMAR DECOMPOSTA EM UM ESPECTRO DE CORES Carlos Costa
“Todo cantador errante traz no peito uma mazela; na alma a lua brilhante, estrada e som de cancela.” A frase está em “Desafio”, o último canto da ópera Auto da Catingueira, de Elomar Figueira Mello (Vitória da Conquista, Bahia, 1937). Recorro à frase como a um prisma, para o exercício de decompor a luz do artista em suas cores.
A
primeira cor é a da formalidade apurada dessa frase e dessa obra – nos campos da literatura e da música. Elomar surgiu na cena cultural em 1968 e seguiu um caminho particular, em que garantiu espaço no segmento mais refinado, manteve diálogo com uma legião fiel de fãs e nunca cedeu a apelos do mercado. Escreveu romances, peças de teatro e construiu um monumento musical que se divide em duas veredas: o cancioneiro e um conjunto de músicas cultas (óperas, antífonas, concertos e sinfonias). Em tudo, reprocessa influências diversas e imprime sua verdade. Outra cor para o conteúdo – um retrato lírico e profundo do universo arquetípico sertanejo, com seus personagens (pessoas simples, que erram pela terra em busca do destino), paisagens (o semiárido nordestino,
uma das mais povoadas regiões de terras secas do planeta), situações (histórias de amor e desencontros, morte e vida) e, inclusive, um idioma próprio chamado “sertanezo”. O sertão profundo eternizado nesse vasto e vivo conjunto, com lua minguante e som de cancela. Mais uma cor para a sensibilidade que faz sua arte universal. Esse cantador errante é um pouco de Elomar, de mim, dos meus ídolos; é um pouco de você, se você quiser se perder e se achar. Representa um homem que assume as feridas do peito e segue seu destino. Samurai, monge, beduíno, vagamundo, cangaceiro, águia cruzando os ares. Atravessa tempos, territórios e culturas. O prisma revela mais cores. As cores da obsessão, da solidão e da incompatibilidade entre esse artista errante e o mundo. A
MEMÓRIAS E RESISTÊNCIAS DOS SERTÕES
frase está na canção de uma ópera, território que Elomar explora há mais de 30 anos, mas a maior parte continua inédita. Nos shows que realiza, interpreta uma ou outra peça, cenas dispersas sempre intercalando com músicas do cancioneiro. “Quem vai montar uma ópera sertaneja de um músico autodidata recluso no sertão da Bahia?”, questiona há anos. E assim chegamos à cor da contradição. Elomar move um público que lota todas as suas apresentações. Mas ele não canta o que quer, como quer. Está sempre se equilibrando entre o cancioneiro e o projeto da música culta. Ocupação Elomar Em 2015, Elomar foi homenageado no programa Ocupação Itaú Cultural (itaucultural.org.br/ocupacao/elomar/) – uma das principais atividades do instituto, que consiste em uma série de exposições a partir de acervos representativos no conjunto da cultura brasileira, com o objetivo de resgatar essa memória no contexto contemporâneo. A exposição ocorreu na sede do Itaú Cultural, em São Paulo, e contou com três concertos no Auditório Ibirapuera. Elomar costuma dizer que o tempo ordinário, que marca os relógios e os calendários, não importa, o que torna memória e contemporaneidade faces da mesma essência, a vida. Em paralelo com o processo de pesquisa para a Ocupação, o Banco Itaú apoiou a digitalização do acervo do artista e a construção de um arquivo para a guarda do material. A obra foi finalizada neste ano, na Casa dos Carneiros – uma fazenda localizada no
Carlos Costa
povoado da Gameleira, zona rural de Vitória da Conquista (BA), que funciona como um centro cultural e é onde o músico vive, compõe, cria bodes e, às vezes, se apresenta. Formado em arquitetura, Elomar fez o projeto do edifício do acervo, que é redondo como um curral de bodes, com vidros no teto e nas laterais para aproveitamento da luz da caatinga. Batizou de Arquivos Implacáveis da Casa dos Carneiros. Em 2015, integrando a equipe de pesquisa do Itaú Cultural, estive pela primeira vez na Casa dos Carneiros. O acervo estava em pleno processo de organização e higienização, mais vivo que nunca. Inclusive porque, durante essa atividade, em que um grupo de pesquisadores organizava manuscritos, partituras, fotos e outros documentos, o artista invadia o espaço, geralmente sem ser visto, e levava papéis, fitas cassete e outros objetos para seu quarto, sem dar satisfação a ninguém. Afinal, aquilo tudo era dele e um pouco ele. Em 2015, eu me apaixonei por Elomar e mergulhei em sua obra. Com o cancioneiro, vivi minha epifania. Vasculhei minhas origens, descobri que parte dos meus ancestrais vieram do sertão. Tornei-me um cavaleiro do mestre Elomar. Um dia, na feira em Vitória da Conquista, olhando uma barraca de flores, eu e mais uma integrante do grupo, Cristiane Zago, resolvemos levar um buquê para Elomar. Receoso de sua reação, esquivei-me da entrega, deixando para a dama a graça. Logo depois, as flores estavam na sala de pesquisa, em um jarro, e Cristiane contava que ele, emocionado ao receber, revelou que era a primeira vez na vida que ganhava flores.
141
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
142
Jerusa e Juraci O prisma segue gerando cores diversas no arco-íris sertanejo. Elomar é exagero e multiplicidade, ao mesmo tempo que simples e único. Pode passar horas falando sobre o tempo, os ciganos, as criações; mas pouco fala de si mesmo. Para acessá-lo melhor, a equipe que organizou a exposição recorreu a outras pessoas. A primeira foi a ensaísta e professora Jerusa Pires Ferreira (Feira de Santana, Bahia, 1938), especialista em literatura medieval e de cordel, entre outras qualificações, e amiga pessoal de Elomar. Na casa de Jerusa, ocorreram encontros para conversar sobre o Bode – alcunha que Elomar carrega desde jovem e diz, sem pudor, que vem de sua aversão à água. Ouvindo músicas, recebendo outros convidados sertanejos, como o músico Lirinha (José Paes de Lira Filho, Arcoverde, Pernambuco, 1976) e a poeta Micheliny Verunschk (Recife, Pernambuco, 1972), admiradores do artista, ouvimos histórias do Bode em São Paulo, na Bahia, na Europa e aprendemos sobre o diálogo da tradição medieval com a sertaneja. Outro integrante se juntou ao grupo, o artista visual Juraci Dórea (Feira de Santana, Bahia, 1944), que além de suas histórias chegou com a missão de munir a equipe do projeto de desenhos para ilustrar desde a divulgação da exposição até os produtos que seriam desenvolvidos – site, publicação etc. –, porque Elomar não se deixa fotografar nem filmar. “Imagem não revela obra”, defende. Seguindo o processo, a equipe montou a exposição na Avenida Paulista e recebeu o artista no dia da inauguração, de manhã cedo, pois o cantor queria conhecer
a Ocupação e ir embora antes da abertura oficial. Esperamos Elomar para lhe mostrar o espaço na expectativa de sua reação. A chegada dele foi mágica, como tudo que o envolve. Educado, sensível, passeou pela mostra, reconheceu-se, agradeceu e foi embora, deixando suas bênçãos. A toada e o rompante Minha maior surpresa, com todo o processo, foi perceber como um dos temas caros a Elomar, o aboio, se transformou em um elemento de ligação em tudo o que fizemos, sem a intenção consciente de ninguém. O aboio é um canto ancestral usado para guiar boiadas, que foi passando dos mouros para os portugueses, para os sertanejos. O vaqueiro aboiador é um pouco de Pã, flautista mágico, dos encantadores de serpentes, dos xamãs indígenas, dos sacerdotes africanos; dos que fazem da música uma ponte com o sagrado e comandam espíritos, animais, a natureza. Há uma música espetacular do cancioneiro, “Chula no Terreiro”, que narra uma sequência de mortes, com uma melodia dolente em que o violão de Elomar caminha pelas mazelas que moram em nosso peito. No final da canção, um aboio encantado soa pela Serra da Carantonha, evocada na música e real na paisagem do sertão profundo. Foi nesse lugar que eu vi Elomar cantar o aboio encantado a primeira vez. O canto gravado na Bahia chegou a São Paulo e foi escolhido para ser a paisagem sonora da entrada da exposição. Na apresentação de Elomar no Auditório Ibirapuera, esse aboio abriu e fechou o show, outra vez vivo na voz do Bode.
Carlos Costa
MEMÓRIAS E RESISTÊNCIAS DOS SERTÕES
As cores do amor Voltei a ver Elomar se apresentar, além dessa noite, outras tantas vezes. Sempre, a casa cheia e filas enormes de admiradores após os espetáculos. Em todos eles, ouvi o aboio. O último concerto que vi foi em Salvador, em julho de 2018. O teatro estava lotado. Elomar dividiu o palco com alguns amigos, entre os quais estava o cantor Fábio Paes (Serrinha, Bahia, 1951), e se configurou uma situação de encanto, que outras vezes vi surgir na fricção do sertão profundo de Elomar com a contemporaneidade, para ele degenerada pelo monstro do moderno. Elomar e seu discurso anacrônico sobre os costumes relacionados às liberdades sexuais encontraram em Paes um contraponto político e filosófico; e certos modos de pensar que hoje geram um linchamento sem perdão, naquele palco, foram uma lição de amor. Enquanto Elomar fazia pouco das liberdades individuais, Paes louvava a Guerra de Canudos (18961897), Che Guevara (Ernesto Guevara de la Serna, Argentina, 1928 – Bolívia, 1967) e as tradições libertárias. Elomar e seu monumento ao sertão brasileiro estão a salvo do tempo e, por mais que ouça suas músicas, elas não deixam de me tocar. Por mais que ouça falar de amor, ele não deixa de me emocionar. Em suas muitas faces. Uma delas é o respeito: como não respeitar o diverso, o contrário? É mais fácil enveredar por caminhos de ódio e defesa de uma opinião do que aprender com o diferente, o oposto. Para digerir o sertão, abrace o oposto e cante seu aboio.
Carlos Costa É jornalista. Nascido no Recife (PE), tem apreço por lua, estrada e som de cancela, mas está há oito anos morando em São Paulo. É coordenador de comunicação do Itaú Cultural, onde participou dos processos curatoriais da Ocupação Elomar e da Ocupação Nise da Silveira, além de outras mostras.
143
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
144
ilustração: André Toma
MEMÓRIAS E RESISTÊNCIAS DOS SERTÕES
ENTREVISTA: NIÈDE GUIDON
CIÊNCIA E ANCESTRALIDADE NA SERRA DA CAPIVARA
C
onhecida mundialmente, Niède Guidon é uma das maiores referências na arqueologia. Formada em história natural pela Universidade de São Paulo e doutora em pré-história pela Sorbonne, com especialização na Université de Paris, Niède fez carreira na França. Em 1973, fez parte da Missão Arqueológica Franco-Brasileira, concentrando seu trabalho no Parque Nacional da Serra da Capivara. Em 1992, foi convidada pelo governo brasileiro para assumir a gestão do parque, e se torna presidente da Fundação Museu do Homem Americano (Fumdham). Desde que voltou para o Brasil, Niède tenta provar a sua tese sobre o povoamento da América. Por e-mail, do Parque Nacional da Serra da Capivara, onde vive, a arqueóloga respondeu a algumas questões feitas pelo conselho editorial da Revista Observatório.
145
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
146
OS SERTÕES E OS SERTANEJOS
EXISTE PARALELO ENTRE O PRIMEIRO HOMEM AMERICANO E O HOMEM SERTANEJO?
Não. Há diferenças raciais e culturais.
COMO VOCÊ DEFINE O SERTÃO?
Uma região com belas formações geológicas, mas com solo muito raso e arenoso, atualmente com problemas de seca, o que faz com que as produções agrícola e de criação não sejam suficientes para garantir um bom nível de vida para a população.
MEMÓRIAS E RESISTÊNCIAS DOS SERTÕES
ENTREVISTA: NIÈDE GUIDON
SERTÃO ANCESTRAL
COMO ERAM A REGIÃO HOJE COMPREENDIDA PELA CAATINGA E O SERTÃO NA ÉPOCA DA CHEGADA DO PRIMEIRO SER HUMANO, NO QUE DIZ RESPEITO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS, FAUNA, FLORA E MODO DE VIDA DOS PRIMEIROS POVOS? POR QUE HÁ TANTOS VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS E PINTURAS RUPESTRES NA REGIÃO DA SERRA DA CAPIVARA?
A região passou por diversos períodos climáticos. Até cerca de 10 mil anos atrás, no planalto, tínhamos a Floresta Amazônica; e, na planície, a Mata Atlântica. Aqui era a fronteira entre esses dois biomas extremamente diversificados e ricos em fauna e flora. Até os anos 1970, o Rio Piauí corria dentro da cidade de São Raimundo Nonato, com cerca de 40 metros de largura. A cidade tinha cerca de 12 lagoas, com peixes e jacarés bem grandes. A população pescava diariamente. Hoje, tudo está destruído pela ação do homem moderno. O Rio Piauí não corre mais na cidade, as lagoas secaram. Há muitos vestígios arqueológicos porque os povos que aqui chegaram e permaneceram há 130 mil anos se desenvolveram e ocuparam toda a região. Os índios que foram mortos pelos invasores brancos viviam em aldeias, tinham uma estrutura social como todos os índios do Brasil. Nos anos 1973 e 1975, cheguei a encontrar alguns desses índios, que viviam escondidos na região onde hoje é o Parque Nacional.
COMO AS MUDANÇAS NESSAS CONDIÇÕES IMPACTARAM A SOBREVIVÊNCIA DESSES PRIMEIROS POVOS? QUANDO O SERTÃO ASSOCIADO À CAATINGA PASSOU A EXISTIR?
Com a mudança climática, a região se transformou a partir de cerca de 10 mil anos, tornando-se cada vez mais seca.
147
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
148
MITOS SERTANEJOS EM CONTRAPONTO À CIÊNCIA
QUANDO VOCÊ COMEÇOU O TRABALHO NA SERRA DA CAPIVARA, NOS ANOS 1970, COM A MISSÃO ARQUEOLÓGICA FRANCO-BRASILEIRA, QUAL ERA A EXPLICAÇÃO DADA PELOS MORADORES LOCAIS PARA AS PINTURAS RUPESTRES? DE ACORDO COM AS HISTÓRIAS, QUEM AS HAVIA PINTADO? EXISTE UM IMAGINÁRIO POPULAR QUE PERSISTE EM RELAÇÃO A ESSAS PINTURAS?
Quando comecei a trabalhar aqui, os moradores locais me perguntavam por que eu me interessava por aqueles desenhos que haviam sido feitos “pelos índios, aqueles bichos pelados que andavam por aqui”. Não existe no Brasil nenhum respeito pelas culturas indígenas.
QUAIS POVOS INDÍGENAS HABITAVAM A REGIÃO ANTES DA CHEGADA DOS PRIMEIROS COLONIZADORES? QUANDO VOCÊ COMEÇOU SUAS PESQUISAS, HAVIA INDÍGENAS?
Como foram totalmente dizimadas, não existe nenhum estudo sobre essas tribos indígenas, mas os índios que aqui encontrei e os descendentes deles têm características africanas e não asiáticas, como as tribos indígenas de outras regiões do Brasil.
COMO É A RELAÇÃO DAS OCUPAÇÕES HISTÓRICAS NA REGIÃO ONDE HOJE É O PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CAPIVARA COM O PATRIMÔNIO ARQUEOLÓGICO E AS PINTURAS RUPESTRES? POR QUE ERAM HABITADOS OS MESMOS LOCAIS QUE OS POVOS ANTIGOS?
As pesquisas aqui feitas demonstram que a evolução cultural e tecnológica partiu desses primeiros habitantes até os indígenas massacrados pelos invasores. Ocupavam os mesmos locais porque era uma região muito favorável, com muitos lagos, rios e áreas planas nas quais podiam fazer as aldeias, as cavernas e os abrigos, onde realizavam seus rituais, as pinturas e podiam se esconder de animais perigosos.
MEMÓRIAS E RESISTÊNCIAS DOS SERTÕES
ENTREVISTA: NIÈDE GUIDON
PELA SERRA DA CAPIVARA: LINHA HISTÓRICA DE DESAFIOS POLÍTICOS E FINANCEIROS
COMO FOI TRABALHAR EM MEIO AO CONTRASTE DO MODUS OPERANDI CIENTÍFICO E O MODO DE VIDA SERTANEJO EM PLENA DÉCADA DE 1970?
Os sertanejos participaram desde o início da pesquisa. Eram os guias que nos mostravam os sítios de arte rupestre. Aprenderam a trabalhar conosco e participavam das escavações. Hoje, a maioria dos funcionários da Fumdham são habitantes locais que estudaram, fizeram mestrado, doutorado.
COMO A ELITE LOCAL VIU A PROPAGAÇÃO DA ARQUEOLOGIA E A CRIAÇÃO DO PARQUE NACIONAL E DA FUMDHAM NA REGIÃO?
Acho que de maneira positiva. Viram como esta pequena cidade, que nos anos 1970 era igual ou menor que as atuais cidades vizinhas, sem correios nem bancos, mudou, prosperou.
COMO FOI FEITO O TRABALHO DE DOCUMENTAÇÃO ARQUEOLÓGICA DAS OCUPAÇÕES HISTÓRICAS E RECENTES E A INTRODUÇÃO DO CIRCUITO DOS MANIÇOBEIROS NO PARQUE?
Foi feita a documentação por dados escritos, fotografias, cinema e gravações.
NA SUA OPINIÃO, POR QUE A POPULAÇÃO LOCAL VISITA POUCO O PARQUE?
Porque não reconhece a cultura indígena.
149
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
150
COMO FUNCIONA O REPASSE DE RECURSOS, PRINCIPALMENTE ESTADUAIS E MUNICIPAIS, PARA O PARQUE E POR QUE O TEMA DAS DIFICULDADES FINANCEIRAS É TÃO RECORRENTE?
Até cerca de 2015 não tínhamos problemas. A Petrobras fazia doações anuais e havia a lei da compensação ambiental, que obrigava as empresas, cuja ação prejudicava o meio ambiente, a doar uma porcentagem de seus lucros para instituições que protegiam a natureza. Muitas empresas grandes escolhiam a Fumdham, por exemplo, a Vale do Rio Doce. A lei foi alterada, criando-se em Brasília o Fundo de Compensação Ambiental, e desde então não recebemos mais esses recursos. Além disso, a Petrobras entrou em uma época de graves problemas. Como não temos orçamentos fixos do Ministério da Cultura e do Ministério do Meio Ambiente, ficamos sem recursos. Atualmente, a Petrobras voltou a fazer doações e conseguimos recursos do ICMBio, do Iphan e do governo do Piauí, além de emendas parlamentares. A OAB do Piauí fez um processo e conseguiu recursos para o parque. Desse modo, estamos garantidos até o fim de 2018.
MEMÓRIAS E RESISTÊNCIAS DOS SERTÕES
ENTREVISTA: NIÈDE GUIDON
LUTA E LIDERANÇA FEMININA NO SERTÃO E NA CIÊNCIA
COMO FOI O DESAFIO DE SER UMA CIENTISTA MULHER DE OUTRO ESTADO E COMEÇAR A TRABALHAR NO CONTEXTO SERTANEJO, PREDOMINANTEMENTE MASCULINO?
Nunca tive problema nenhum. Nunca na vida me senti diferente por ser mulher.
A INTRODUÇÃO DA CIÊNCIA POR MEIO DA ARQUEOLOGIA TEVE ALGUM IMPACTO NA VIDA DAS MULHERES DA REGIÃO?
Sim, porque permitiu que encontrassem trabalho e pudessem ser independentes.
COMO O PROTAGONISMO FEMININO DOS DIAS DE HOJE SE COMPARA AO MOMENTO EM QUE VOCÊ COMEÇOU A VISITAR A REGIÃO?
Muita coisa mudou e penso que não conheço muito bem a situação atual.
151
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
152
CAMINHOS PARA DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DOS SERTÕES
EM QUE MEDIDA A ARQUEOLOGIA E A INTRODUÇÃO DA CIÊNCIA IMPACTARAM O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO DA SERRA DA CAPIVARA?
Tudo mudou e a região poderá se desenvolver ainda mais quando o aeroporto estiver funcionando e tivermos bons hotéis. Os patrimônios da humanidade em todo o mundo recebem cerca de 5 milhões de turistas por ano, aqui chegamos a 25 mil em 2015, mas no ano seguinte já caiu para 16 mil. As notícias internacionais sobre a violência no Brasil, os tiroteios no Rio de Janeiro e turistas assassinados prejudicam o turismo.
EM SUA OPINIÃO, COMO A FUMDHAM FOI IMPORTANTE PARA O DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO? CITE ALGUMAS INICIATIVAS.
Foi bastante importante. Promoveu a cerâmica artesanal e a criação de escolas para formar a juventude para que pudesse trabalhar nas atividades de pesquisa e de turismo.
COMO É TER PASSADO GRANDE PARTE DE SUA VIDA NO SERTÃO NORDESTINO? O QUE VOCÊ ACHA QUE ESTÁ NO CAMINHO CERTO E O QUE AINDA PRECISA SER MUDADO EM TERMOS DA “REALIDADE DO SERTÃO”?
O que precisamos é que o país atinja um equilíbrio político e econômico.
MEMÓRIAS E RESISTÊNCIAS DOS SERTÕES
ENTREVISTA: NIÈDE GUIDON
153
4.
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS: EM BUSCA DA CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO
155.
ECOLOGIA E POLÍTICA DO PROJETO DE TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO Juracy Marques
170.
AGROECOLOGIA E CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO: QUEBRANDO PARADIGMAS, TRANSFORMANDO VIDAS Fernanda Cruz
184. TURISMO CULTURAL & INDICAÇÃO
GEOGRÁFICA: PIAUÍ, PARAÍBA E SERGIPE COMO ROTEIROS Janaina Cardoso de Mello
190.
DO VELHO CHICO AO CANGAÇO: A CONSTRUÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO PIRANHAS NO SERTÃO ALAGOANO Wanderson José Francisco Gomes
196.
ESTADO E CULTURA NO NORDESTE: UMA LEITURA DAS POLÍTICAS CULTURAIS NORDESTINAS Alexandre Barbalho
210.
UM DEDO ACIMA DO CHÃO: ENCANTO E PRODUÇÃO CULTURAL COMO ATALHO PARA A SUSTENTABILIDADE SERTANEJA Alemberg Quindins
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
Juracy Marques
ECOLOGIA E POLÍTICA DO PROJETO DE TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO1 Juracy Marques
O presente artigo discute aspectos políticos e ambientais relacionados ao Projeto de Transposição do Rio São Francisco. Propondo uma visão ecossistêmica desse empreendimento iniciado desde o século XIX, mas somente efetivado no século XXI, contraditoriamente, no governo do Partido dos Trabalhadores (PT), optou-se por enraizar o debate em torno da transposição aos diversos problemas socioambientais observados em toda a bacia do Velho Chico. Como se pode observar no corpo deste trabalho, o modelo de apropriação da água como uma mercadoria a serviço do capital é replicado também na gestão das águas do São Francisco. Assim, conclui-se que o que estamos vivenciando neste momento na bacia é a materialização de um modelo de desenvolvimento etno e ecocida sem dias para acabar, a menos que o povo ribeirinho se rebele.
Disputas das águas
S
egundo Vandana Shiva, em seu livro Guerras por Água (2006), a partir do fenômeno chamado globalização, a água vem sendo privatizada e transformada em fonte de lucro para grandes empresas multinacionais e transnacionais, ou seja, trata-se da apropriação da natureza “com o único objetivo de reproduzir continuamente o capital, numa acumulação sem fim e sem sentido”. É nesse cenário que discutiremos, neste ensaio, a gestão da água na bacia do São Francisco e o projeto de transposição de suas águas. A água é um bem natural essencial à manutenção de todas as formas de vida no planeta. Setenta por cento da superfície da Terra são cobertos por esse precioso líquido. Entretanto, apenas 1% desse grandioso volume de água é potável e adequado ao consumo humano.
Nesse sentido, estima-se que exista 1,37 bilhão de km3 de água no planeta. Desse volume, 97% constituem as águas dos oceanos e apenas 3% são de água doce. Do total de água doce, 2/3 estão nas calotas polares e nas geleiras, restando apenas 1% do volume para consumo da população humana. O Brasil é detentor de 12% da água doce que escorre superficialmente no mundo; 72% desses recursos estão localizados na região amazônica e apenas 3% no Nordeste. Essa desigualdade de porcentuais, com visível desvantagem para o Nordeste brasileiro, é consequência das características geoambientais da região (SUASSUNA, 19992). A perspectiva da escassez de água no Nordeste passará a ser a base do discurso de sustentação para a efetivação do projeto de transposição do São Francisco, hoje chamado de Integração de Bacias.
155
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
156
Nesta primeira década do século XXI, o mundo percebeu que a água potável, base para a manutenção da vida, é o maior indicador da riqueza de uma nação. Dos 7 bilhões de habitantes que somos em todo o mundo, 2 bilhões são atingidos pela escassez de água potável. Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU) (MMA, 2005), se não forem adotadas medidas de preservação dos mananciais e de racionalização do consumo, em 2025, esse porcentual pode atingir mais de 4 bilhões de habitantes do planeta, mais da metade da população mundial. Segundo Vandana Shiva (2006), a cada dia morrem 4.500 crianças com menos de cinco anos de idade por causa da falta de acesso a água potável e de saneamento básico. Segundo a Unesco (MMA, 2005), nos últimos 50 anos, a disponibilidade de água para cada ser humano diminuiu 60%, ao mesmo tempo que a população cresceu 50%. Cerca de 1,4 bilhão de pessoas não tem acesso a água potável em toda a face da Terra, e mais de 2,4 bilhões não têm acesso aos serviços de saneamento ambiental. Isso porque 70% do consumo da água doce no mundo vão para a agricultura – responsável por 40% de todos os produtos agrícolas produzidos no mundo –, 20% para a indústria e apenas 10% para o consumo humano (MALVEZZI, 2010). A água é, hoje, um bem natural que está no centro das grandes questões da humanidade. A água doce, adequada ao consumo humano, foi apropriada como uma mercadoria, tornando-se objeto de lucro do capital. A água doce, juntamente com as terras adequadas ao cultivo de alimentos, é hoje o “novo petróleo da humanidade”.
As questões evidenciadas aqui serão pensadas a partir das grandes problemáticas socioambientais que envolvem a gestão e os usos das águas do Velho Chico; entre elas, a decisão de consolidar um dos projetos mais polêmicos que envolve toda a sua bacia: a transposição do Rio São Francisco. Mudanças do clima e vulnerabilidade hídrica A disponibilidade de água no planeta se agravou com as alterações climáticas, que mudaram em todo o mundo as dinâmicas das águas doce e salgada, fundamentais para comunidades humanas, animais, plantas e base para a economia global. Desde o fim do século XIX, o planeta está quase 1 ºC mais quente. Parte desse aquecimento agravou-se após a década de 1960, com o processo de industrialização. O mundo está preocupado com as mudanças do clima e suas consequências para a vida das pessoas e toda a biodiversidade planetária. O assunto foi pauta da 21ª Conferência das Partes das Nações Unidas para Mudanças Climáticas (COP21), que aconteceu de 30 de novembro a 11 de dezembro de 2015, em Paris. Estima-se que, até 2020, o clima pode aumentar 1 ºC, devendo chegar ao alarmante índice de 2 ºC em 2050. Esse aumento climático é decorrente da excessiva emissão de carbono (CO2) e metano (CH4), gases de efeito estufa, gerados a partir das intervenções humanas na natureza. Consequências como a extinção de espécies vegetais e animais, além do aumento do número de refugiados ambientais, comporão as agendas ambientais neste século.
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
É importante destacar que as grandes corporações econômicas globais, responsáveis por parte significativa das alterações climáticas, influenciam quase a totalidade das agendas políticas no mundo, particularmente nos Estados Unidos, criando um falso discurso de que as alterações climáticas não estão acontecendo, o que torna as resoluções pensadas ainda mais lentas. Em 2018, o superaquecimento em diferentes partes do globo, acompanhado dos dramáticos incêndios envolvendo a Europa, a Austrália e os Estados Unidos, fez a humanidade refletir sobre a materialização das previsões de diferentes centros de pesquisas sobre o aquecimento da Terra, bem como sobre as desastrosas decisões políticas, como a saída dos EUA do Acordo de Paris. Em 1995, havia 25 milhões de refugiados ambientais e 27 milhões de refugiados políticos ou de guerras. Até 2020, o número de refugiados ambientais chegará a 50 milhões. Nos próximos 30 anos, 200 milhões de pessoas deixarão seus lugares em razão da falta de água.3 No caso do Nordeste brasileiro, estima-se que o processo de desertificação agravado com as mudanças climáticas, que já atinge uma área de 55.236 km2, tem afetado mais de 750 mil4 brasileiros; parte desse contingente migrou para os grandes centros do país. Recentemente, no Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental (Procam) da Universidade de São Paulo (USP), foi apresentada uma dissertação de mestrado intitulada A Transposição do São Francisco como Potencial Medida de Adaptação às Mudanças Climáticas, de Nádia Pontes, sob a
Juracy Marques
supervisão de Paulo Artaxo, um dos maiores especialistas nesse assunto no mundo. Um trabalho que descola os discursos, a favor e contrários, até aqui ventilados sobre a polêmica obra da transposição. Essas novas configurações climáticas, naturais e produzidas pelas ações humanas, somam-se às novas preocupações com o El Niño, fenômeno caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que provoca a ocorrência de chuvas no Sul e no Sudeste do Brasil e secas no Nordeste. A Bacia do São Francisco inclui 58% da área do Polígono das Secas (CBHSF, 2011), espaço geo-humano com períodos críticos de estiagens e diferentes índices de aridez, do qual participam mais de 270 municípios brasileiros, a maioria na Região Nordeste. Nesses espaços, temos observado intensos processos de êxodo populacional, sobretudo para o Sul e o Sudeste do país. Hoje, a presença humana nas diferentes paisagens da Terra é pensada a partir dessas novas configurações apresentadas pelos problemas ambientais complexos, entre os quais a questão do clima e seus impactos para a vida humana. Na região do São Francisco, veem-se as consequências de um prolongado ciclo de estiagem, um agravante processo de morte do cerrado e da caatinga. Além da história de agressões socioambientais que vem sofrendo atualmente, o rio agoniza e evidencia sua morte. O Rio São Francisco e o Projeto de Transposição Pela primeira vez na história, em 2014, observamos que a nascente do São Francisco, na Serra da Canastra, em Minas Gerais, secou.
157
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
158
Também pela primeira vez, em novembro de 2015, o maior lago artificial da América Latina, Sobradinho, construído na década de 1970, com taxas de evaporação de água de 250 m3/s, três vezes mais que a vazão prevista para o Projeto de Transposição (FILHO, 2012), atingiu seu limite morto. Esses são apenas dois dos dados que o ecologista José Alves, no seu importante livro Flora das Caatingas do Rio São Francisco (2012), analisa como a extinção inexorável do Rio São Francisco. Os indicadores que ele apresenta são assustadores, mas perturbadoramente reais. Com extensão de 2.700 km, parte no semiárido brasileiro, a Bacia do São Francisco é formada pelo Velho Chico, principal curso d’água, e por um conjunto de afluentes (90 na margem direita e 78 na margem esquerda5) temporários e permanentes. É a terceira bacia do Brasil, única a cortar todo o território nacional, integrando 504 municípios (9% do total de municípios do país). Percorre os estados de Minas Gerais, Goiás, Distrito Federal, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Tem, hoje, uma população humana estimada em mais de 17 milhões de habitantes (MP, 2014), ou seja, trata-se de um rio que corta o “semiárido mais populoso do mundo”. O cenário que caracteriza o que se pensa como escassez hídrica no semiárido foi base para justificar uma das intervenções mais violentas no São Francisco: o Projeto de Transposição. A questão, em si, não diz respeito ao volume de água que cai (um armazenamento de 10% desse volume seria suficiente para o desenvolvimento do semiárido), mas à capacidade de armazená-la e de evitar as altas taxas de evaporação. Segundo Tomaz (2010),
a transposição do Rio São Francisco nada acrescenta ao potencial de água do Nordeste, isso porque o poder regulador das represas através da sua capacidade volumétrica ultrapassa as estiagens e derruba o mito da escassez.
Sobre a transposição, sabemos que o governo sustenta o argumento de que a obra levará água para 12 milhões de habitantes do semiárido, contemplando 390 municípios, com capacidade para irrigar mais de 300 mil hectares de terras. Tal obra inclui ainda a construção de dois eixos (Norte e Leste), duas barragens hidrelétricas (Pedra Branca e Riacho Seco), nove estações de bombeamento, 27 aquedutos, oito túneis, 35 reservatórios, redes de energia, linhas de transmissão e quatro túneis – para transpor águas da Bacia do São Francisco para os estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. O Eixo Norte, a partir da captação em Cabrobó, com cerca de 400 km, levará água aos rios Salgado e Jaguaribe, no Ceará, Apodi, no Rio Grande do Norte; e Piranhas-Açu, na Paraíba e no Rio Grande do Norte. O Eixo Leste, que sai da região da Barragem de Itaparica, em Floresta, tem cerca de 220 km, levará águas para as bacias do Pajeú, do Moxotó e da Região Agreste de Pernambuco – um ramal de 70 km interligará o Eixo Leste à bacia do Rio Ipojuca (BARROS, 2017). Seu custo total pode chegar a mais de 20 bilhões de reais. É um dos maiores investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), inicialmente orçado em 8,2 bilhões de reais (MARQUES, 2006). Luciana Khoury (2010), promotora da área ambiental do MP da Bahia, a respeito dessa obra, esclarece:
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
O Projeto de Transposição do Rio São Francisco contraria o Estado Democrático de Direito: viola a Constituição Federal, pois não foi ouvido o Congresso Nacional e o projeto afeta terras indígenas; afronta as normas ambientais, pois foram lacunosos os estudos de impacto ambiental quanto aos aspectos do meio físico, biótico e socioeconômico, além de as audiências públicas terem sido convocadas para lugares distantes da Bacia, inviabilizando a participação da população afetada; e viola as normas de recursos hídricos, pois fere o Plano de Bacia aprovado pelo Comitê que decidiu que alocação externa das águas do São Francisco é possível apenas para consumo humano e animal, nos casos de comprovada escassez da bacia receptora e é fato notório que a transposição tem finalidades de uso econômico das águas. O mais grave de tudo é que tramitam no STF 14 ações judiciais ainda sem decisão definitiva e as obras estão acontecendo sob égide de uma liminar, e ao final, certamente, serão comprovadas as ilegalidades, mas os danos já estarão consumados.
Além desses indicadores de ilegalidade, a obra da transposição também está na mira dos escândalos de corrupção do Brasil. Em dezembro de 2015, a Polícia Federal prendeu executivos do consórcio de empresas responsáveis por parte da obra, acusadas de desviarem 200 milhões de reais. O Tribunal de Contas da União (TCU) apontou, entre 2005 e 2013, irregularidades que somam 734 milhões de reais nas obras da transposição.6 Como pondera Henri Acselrad no prefácio do livro O Desencantamento das Águas no Sertão – Crenças, Descrenças e Mobilização
Juracy Marques
Social no Projeto de Transposição do Rio São Francisco, de Juliana Neves Barros (2017): A decisão política de executar tais projetos é, via de regra, criticada por estar associada a dinâmicas de superfaturamentos, de clientelismo e de vinculação das estratégias de negócios das empreiteiras às síndromes de um sistema político caracterizado pela falta de transparência e pela falta de abertura para a participação social nos processos decisórios, que, com frequência, são corrompidos para fins negocistas e eleitoreiros.
Esse projeto não é novo na história do Brasil. As primeiras ideias sobre essa obra remontam ao século XIX, quando as elites do Ceará a denominaram “canalização do Rio de São Francisco”. Em 1958, é retomado pelo engenheiro Mário Ferracuti; em 1983, pelo candidato à Presidência da República Mário Andreazza; em 1990, no governo de Itamar Franco, pelo ministro da Integração Nacional, Aluízio Alves; e em 1994 e 1998, nos dois mandatos do presidente Fernando Henrique Cardoso (BARROS, 2017). No governo de Fernando Henrique Cardoso, a obra não vingou. Paradoxalmente, sem o apoio de parte dos movimentos sociais do Brasil e do próprio partido (PT), a transposição ganhou pernas logo no início do governo do presidente Lula, em 2003. Com uma reorganização na proposta, particularmente o desligamento da transposição do Rio Tocantins, e agora nomeada Projeto de Integração do Rio São Francisco com as Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional (Pisf ), a transposição ficou sob a responsabilidade do então ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, desde
159
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
160
sempre favorável ao projeto, haja vista que o Ceará, seu estado natal, é um dos maiores beneficiários da obra. Com partes de sua megaestrutura em funcionamento, a obra acumula vários impactos socioambientais, entre os quais: perda temporária de emprego e renda por efeito das desapropriações; modificação da composição das comunidades biológicas aquáticas nativas nas bacias receptoras; risco de redução da biodiversidade nas bacias receptoras; risco de tensões durante a fase de obra; interferências no patrimônio cultural (sítios históricos); risco de introdução de espécies de peixes exóticos; perdas de áreas produtivas; deslocamento compulsório de 1.889 famílias, sendo que 70% são de não proprietários, mediante desapropriação de 24 mil hectares de terra, entre outros (BARROS, 2017). Para Juliana Barros (2017), o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) da transposição: Constituem-se numa importante síntese do discurso oficial, do discurso político autorizado para registro, apropriação e circulação em vários segmentos [...] tratando-se de um documento longo, na prática pouco acessível à população geral, importará vários exercícios de tradução, recortes, seleção de destaques, omissões e representações cartográficas, que serão construídas a favor dos interesses específicos dos grupos que as veiculam e disputam interpretações – visões sobre o projeto.
Como parte das mitigações dos danos que seriam causados às famílias impactadas com a transposição, em 2007, foram planejadas 18 Vilas Produtivas Rurais (VPRs) pelo Ministério da Integração, que abrigariam
mais de 5 mil pessoas, a um custo de mais de 207 milhões de reais aos cofres públicos. Mais de dez anos se passaram e, hoje, essas pessoas encontram-se em estado de abandono nessas vilas quase fantasmas. Precisamos da transposição? A Região Nordeste tem o maior índice de açudes do mundo. São mais de 70 mil açudes, com capacidade para acumular 37 bilhões de m3 de água, o suficiente para atender ao uso humano e à dessedentação animal (SAID, 2010). O Brasil possui uma das maiores redes hidrográficas do mundo, mas a poluição hídrica em todo o país cresceu drasticamente desde seu processo de urbanização e industrialização. Podemos citar a dramática situação do Rio Tietê, em São Paulo, ou mesmo o assassinato do Rio Doce, a partir do rompimento das barragens de mineradoras em Minas Gerais, um dos maiores desastres ambientais da história da Terra. Mas olharemos para a agonizante situação do Rio São Francisco. Repetindo: pela primeira vez na história, sua nascente secou. Pela primeira vez na história, o lago de Sobradinho, maior da América Latina, construído na década de 1970, atingiu a cota de 0% por causa da seca no rio, quando, em 2014, era de 57%; pela primeira vez na história, todos os moradores da Bacia do São Francisco ficaram aflitos com a evidente morte do dantes Rio-Mar (Opara). Em muitos lugares da bacia, escuta-se a angustiante pergunta: “Será que o rio vai morrer?”. Parte dos grandes problemas socioambientais do São Francisco foi causada pela implantação das grandes hidrelétricas. Construídas desde 1913 (Angiquinho), todo o corpo do São Francisco fora acorrentado
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
Juracy Marques
com paredes de concreto, o que, além de re- 3.450 barragens em território europeu. Até sultar na destruição de dezenas de cidades e 2008, foram removidas, somente na Espanha, da vida de milhares de pessoas, atingiu dras- 300 barragens de pequeno e médio portes. ticamente toda a diversidade biológica que Famílias ribeirinhas, em toda a extensão dependia do ciclo natural do São Francisco. do São Francisco, têm enfrentado dificuldades Estima-se que, no mundo, existam mais para o abastecimento humano e a dessedentade 45 mil barragens construídas, responsá- ção animal. As margens do Velho Chico estão veis pela expulsão de mais de 80 milhões de secas. A vida ao longo do seu vale está seca, pessoas7 (MAB, 2007). No caso do Rio São morta. Sacrificá-lo é a alternativa para levar Francisco, foram construídas mais de uma águas aos sedentos? Afirma-se que a captadezena de grandes hidrelétricas, atingin- ção de água do São Francisco pelo projeto do mais de 250 mil pessoas8 de transposição será de cerca (MARQUES, 2008). Trata-se Quase toda a água de 3,5% da sua vazão disponído rio com a maior cascata de do Velho Chico está vel. Quase toda a água do Velho negociada, e esse barragens do Brasil (Três MaChico está negociada, e esse porporcentual não se rias, Sobradinho, Itaparica, centual, que não se aproxima da aproxima da realidade Complexo Paulo Afonso I, II, da quantidade de realidade da quantidade de água III e IV e Xingó). que sairá nessa nova “sangria”, água que sairá nessa Não podemos esquecer: nova “sangria” pode representar o “golpe de misão estruturas que envelhecem sericórdia” a esse imenso corpo e precisam ser removidas com o tempo. Não hídrico que agoniza. são obras eternas. Esse complexo de probleO São Francisco passa pela pior seca mas que o Velho Chico enfrenta requer que dos últimos cem anos, mas essa não é a cause coloque na pauta a retirada desses “ossos sa da sua morte. Apesar do triste cenário, os de cimentos” que mataram o rio. Isso não é projetos econômicos em toda a bacia não delírio, mas parte da política socioambiental foram paralisados. A indústria, a mineração de diversos países do mundo. e a irrigação, juntas, são responsáveis por O American Rivers,9 centro de restau- mais de 80% das águas retiradas do Velho ração de rios nos EUA, desde 1973 vem res- Chico. Segundo a Agência Nacional de Águas taurando rios, resguardando mais de 150 mil (ANA),11 de toda a água retirada do São Franmilhas desses corpos d’água. Esse centro de cisco, 76% são consumidos pela irrigação. No restauração menciona a restauração de mais vale, essa área é de 120 mil hectares (FILHO, de 1.100 barragens nos EUA, resultando em 2012). De acordo com a ONU, benefícios para as águas dos rios, os peixes e outras espécies, inclusive para nós humanos. aproximadamente 70% de toda a água De acordo com a Dam Removal Europotável disponível no mundo é utilizada para irrigação, enquanto as atividades inpe,10 a partir dos levantamentos de dados referentes a Suécia, Espanha, Reino Unido, dustriais consomem 20% e o uso doméstico Portugal, França e Suíça, foram removidas 10% (TERRA AMBIENTAL, 2013).
161
162
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
Sabemos que a gestão das águas do ainda vai para a irrigação, para a indústria e Velho Chico, hoje sobre a responsabilida- para a geração de energia, principais usuáde do Comitê da Bacia Hidrográfica do São rios da bacia. A água no sertão é represenFrancisco (CBHSF), tem na liberação de tada e usada pelos grupos econômicos que cotas para usos diversos o seu maior cam- controlam a política no nosso país. po de disputa. Esperamos que esse comitê, A transposição, ao que transparece, pensado para ser democrático e responsável consolida-se como um projeto ligado às espela vida do Velho Chico, não seja o lugar do truturas políticas ecocidas e à capacidade agenciamento de sua morte. de influência, nesse cenário, das grandes Diante desse cenário, onde prevalece construtoras. Esconde-se, por trás do disum conceito de desenvolvimento centra- curso de dessedentação humana e animal no do nos grandes projetos de irrigação, na semiárido, a engenharia do capital, que proconstrução de barragens sem duz riqueza transformando pensar nos impactos e nos Ações e as políticas a natureza em mercadoria e, sujeitos ali imbricados, pen- públicas voltadas diga-se de passagem, usando samos que as ações e as polí- para a convivência os destinos de vidas simples ticas públicas voltadas para a com o semiárido, como as que estão jogadas nas convivência com o semiárido, tendo como foco o vilas quase fantasmas consacesso e a captação tendo como foco o acesso e a truídas para depositar os excaptação de água de chuva, de água de chuva, propriados dessa obra sem pé têm se colocado como têm se colocado como expenem cabeça. experiências inovadoras riências inovadoras e propoO Velho Chico agoniza e propositivas. sitivas diante desse gigante com graves problemas sodiscurso que insiste em opecioambientais intensificados racionalizar de qualquer forma, indo de en- nesses dois últimos séculos de sua história. contro com qualquer possibilidade de diálogo Além da salinização dos seus solos e da forcom a sociedade civil organizada, como no mação de núcleos de desertificação, quase caso da Transposição do Rio São Francis- toda a cobertura vegetal das suas matas co – e de tantas outras frentes, muitas de- ciliares foi destruída, restando apenas 4%, las ainda desconhecidas e obscurecidas na o que aumenta os processos erosivos nas profecia e no discurso do desenvolvimento suas margens, ocasionando o assoreamento que é anunciado. do rio e tornando-o inviável como hidrovia A Lei nº 9.433, de 1997, Lei Nacional (FILHO, 2012). de Recursos Hídricos, diz que, em situação Em todo o Vale do São Francisco, obserde escassez, o uso prioritário dos recursos vamos o uso indiscriminado de agrotóxicos hídricos é para o consumo humano e para a na fruticultura irrigada, o que tem trazido dessedentação animal. Isso não é respeita- certo nível de vulnerabilidade à saúde do trado no caso do Rio São Francisco. Um volume balhador e de todos os consumidores. Somos substancial de toda a água do Velho Chico o país que mais usa agrotóxicos no mundo,
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
cabendo a cada brasileiro o consumo de 5,2 litros de venenos agrícolas por ano.12 O espelho d’água do Velho Chico, que em parte do ano tem uma bela coloração verde-azulada, antes habitat de centenas de espécies de peixes, plantas e outros organismos, hoje é o tablado para o insano espetáculo de potentes lanchas e motos náuticas, parte delas de uma classe média alienada e indiferente aos problemas socioambientais, que tomou conta das suas margens e do que ridiculamente chamamos de áreas de proteção permanente no nosso país. Mais de 95% dos municípios situados às margens do São Francisco ainda jogam esgotos urbanos sem tratamento no rio (MARQUES, 2006). Podemos falar ainda dos impactos causados pelas mineradoras, pelas carvoarias, enfim. Parte dos graves problemas socioambientais da Bacia do São Francisco é analisada na obra do Ministério Público da Bahia (MP) Velho Chico: a Experiência da Fiscalização Preventiva Integrada na Bahia (2014). Se olharmos para a história socioambiental do São Francisco, desde a presença de grupos originários anteriores, há 13 mil anos, passando por sua invasão, em 1501, até o início do século XIX, perceberemos que foi nesses dois últimos séculos que a carnificina do Velho Chico se efetivou. Atualmente, o que estamos fazendo com o Velho Chico, como o Projeto de Transposição, é apenas o “golpe de misericórdia”. Seo Manoel (2004), pajé do povo Xocó, disse: “Já tiraram o couro do Rio São Francisco, agora só falta espichar”. A fala de José Alves (2012) também é reveladora dessa morte iminente do Velho Chico:
Juracy Marques
Estou convencido da extinção inexorável do São Francisco. Eu gostaria de apreciar e documentar com maior precisão a biodiversidade desse pedaço do Brasil, mas não tive esse privilégio. A minha geração falhou na documentação do inventário da diversidade biológica e na conservação dos ecossistemas naturais. Agora resta-nos a restauração e a revitalização, mais dispendiosas, e a consciência de que resgatar a condição original é uma impossibilidade.
Apesar da perplexidade e da inoperância de todos diante dessa catástrofe ambiental que seria a morte do São Francisco, ainda se vive com a ilusão de um morto que parece vivo, como é o estado atual do que dantes fora chamado pelos nativos de Opará, Rio-Mar. O Projeto de Revitalização do São Francisco, usado como moeda de troca para justificar a implantação do Projeto de Transposição, é uma das ações fracassadas de diversos governos brasileiros desde 2003. Há que se pensar: como um rio que agoniza nessa proporção ainda é base para a sustentação direta de um contingente humano de quase 17 milhões de habitantes? O que será da vida dos ribeirinhos se a vida do Velho Chico acabar? Essa vida que, observamos, está morta. Um recorte para ilustrarmos esse descaso: um dos seus afluentes, o Rio Olhos d’Água Amarelo, que nasce na Serra dos Morgados, em Jaguarari/BA, em decorrência da perfuração excessiva e irresponsável de poços artesianos, associada ao intenso processo de desmatamento e das próprias mudanças climáticas, secou, junto com outras nascentes, cachoeiras e
163
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
164
cacimbas; entretanto, nada foi feito para minimizar essa situação. Se mergulharmos nesse exemplo, veremos que a destruição da natureza tem sido fonte de renda para uma rede política e econômica, que assaltou os espaços de decisão sobre a gestão dos recursos hídricos no Brasil, excluindo a população dessas decisões. Isso também vale para os comitês de bacias onde essas águas hoje são negociadas. Há uma diferença substancial entre morrer vivo e viver morto. O São Francisco, como tantos outros rios do mundo, está sendo vítima de um modelo civilizacional etno e ecocida, baseado no consumo capitalista e na concentração de riquezas de poderosos grupos econômicos, internacionais e nacionais, que contam com a perversa complacência de corruptos grupos políticos e, assim, legitimam seus planos. Escancaradamente, estão visibilizados seus enraizamentos. Parte das agendas político-econômicas falaciosamente sustenta um discurso pelo cuidado socioambiental do Brasil, que hoje está entregue ao mais vil e covarde modelo de gestão política e econômica. Como o Madeira, sacrificado pela autorização de hidrelétricas, e o Doce, assassinado com a amarga lama das mineradoras de Minas, o São Francisco teve, definitivamente, seu destino selado nas mãos da cruel, estúpida e covarde agenda política ambiental brasileira. Não há saída para o Velho Chico pelas vias governamentais. Só o povo do rio pode salvar o Rio do Povo!
Juracy Marques É professor titular da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) (Programa de Pós-Graduação em Ecologia Humana/PPGEcoH e Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Territórios Semiáridos/PPGESA), doutor em cultura e sociedade, pós-doutor em antropologia (UFBA) e em ecologia humana (UNL/PT) e doutorando em ecologia humana (FCSH – UNL). É membro da Sociedade Brasileira de Ecologia Humana (Sabeh).
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
Juracy Marques
Referências ALBUQUERQUE JR., Durval Muniz de. A invenção do Nordeste e outras artes. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2011. ASA, Articulação do Semiárido. Caminhos para a convivência com o semiárido. 10. ed. Recife/PE, jul. 2011. ASA BRASIL. O semiárido. Disponível em: <www.asabrasil.org.br/portal/informacoes. asp?cod_menu=1>. Acesso em: 22 out. 2014. BARROS, Juliana Neves. O desencantamento das águas no sertão: crenças, descrenças e mobilização social no Projeto de Transposição do Rio São Francisco. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2017. CAMPOS, Nivalda Aparecida. A grande seca de 1979 a 1983: um estudo dos grandes projetos de desenvolvimento rural implementados na região semiárida do Nordeste do Brasil. XI Congresso Brasileiro de Sociologia, Universidade Estadual de Campinas, 2003. CARVALHO, Luzineide Dourado. Natureza, território e desenvolvimento no semiárido. In: REIS, Edmerson dos Santos; NÓBREGA, Luciana da Silva; CARVALHO, Luzineide Dourado (Org.). Educação e convivência com o semiárido: reflexões por dentro da Uneb. Juazeiro, 2011. CBHSF. Guardiões do Velho Chico: Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco. Salvador, 2011. FAVERO, Celso Antonio; SANTOS Stella Rodrigues dos. Semiárido: fome, esperança, vida digna. Salvador: Uneb, 2002. FILHO, José Alves de Siqueira (Org.). Flora das caatingas do Rio São Francisco: história natural e conservação. Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson, 2012. KHOURY, Luciana. Um atentado ao Estado de Direito. In: ZINCLAR, João. O Rio São Francisco e as Águas no Sertão. São Paulo: Silvamarts, 2010. MALVEZZI, Roberto. Mercado de águas. In: ZINCLAR, João. O Rio São Francisco e as águas no sertão. São Paulo: Silvamarts, 2010. MARQUES, Juracy. Barrando as barragens: o início do fim das hidrelétricas. Manaus: UEA, 2018.
165
166
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
_______. Cultura material e etnicidade dos povos indígenas do São Francisco afetados por barragens: um estudo de caso dos tuxás de Rodelas, Bahia, Brasil. Tese de doutorado. Salvador: Universidade Federal da Bahia (UFBA), 2008. __________. Ecologias do São Francisco. Paulo Afonso: Fonte Viva, 2006. MMA. Água é vida: a importância da água para a vida no planeta. Rio Grande do Sul: MMA, 2005. MP. Velho Chico: a experiência da fiscalização preventiva integrada na Bahia. Salvador: Ministério Público da Bahia e Órgãos Parceiros do Programa FPI, 2014. OLIVEIRA, Francisco de. Elegia para uma re(li)gião: Sudene, Nordeste. Planejamento e conflito de classes. Estudos sobre o Nordeste, v. 1, 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. PONTES, E. T. M; MACHADO. T. A. Programa Um Milhão de Cisternas Rurais no Nordeste Brasileiro: políticas públicas, desenvolvimento sustentável e convivência com o semiárido. XIX Encontro Nacional de Geografia Agrária, São Paulo, 2009, p. 1-25. SAID, Magnólia. Água no semiárido. In: ZINCLAR, João. O Rio São Francisco e as águas no sertão. São Paulo: Silvamarts, 2010. SHIVA, Vandana. Guerra por água: privatização, poluição e lucro. São Paulo: Radical Livros, 2006. SILVA, Érica Daiane da Costa. A mídia e as dizibilidades sobre o semiárido brasileiro. Revista de Comunicação e Cultura no Semiárido, Universidade do Estado da Bahia, v. 1, n. 1, jul./2013-dez./2014. SOUZA, Uilson Viana de. O que fica no “ar”? Discursos e representações da seca do semiárido brasileiro no telejornalismo da Rede Globo. Dissertação de especialização em Educação, Universidade do Estado da Bahia (Uneb), 2013. TERRA AMBIENTAL. Irrigação é responsável pelo consumo de 72% da água no Brasil. Disponível em: <http://www.teraambiental.com.br/blog-da-tera-ambiental/ bid/320413/>. Acesso em: 28 dez. 2015. TOMAZ, Alzeni. O semiárido: um lugar exponencial de encanto, dor e alma. In: ZINCLAR, João. O Rio São Francisco e as águas no sertão. São Paulo: Silvamarts, 2010. ZINCLAR, João. O Rio São Francisco e as Águas no sertão. São Paulo: Silvamarts, 2010.
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
Juracy Marques
Notas 1
Parte deste texto encontra-se no livro Barrando as barragens (MARQUES, 2018).
2
Disponível em: <http://www.fundaj.gov.br/index.php?option=com_ content&view=article&id=681&Itemid=376>. Acesso em: 5 dez. 2018
3
BLANC, Claudio. Refugiados ambientais. In: Guia aquecimento global. São Paulo: 2015.
4
O Globo, 2015.
5
MP. Velho Chico: a experiência da fiscalização preventiva integrada na Bahia. Salvador: Ministério Público da Bahia e Órgãos Parceiros do Programa FPI, 2014.
6
Ver: <https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/pf-deflagraoperacao-contra-desvios-na-transposicao-do-sao-francisco-com-doleiros-dalava-jato/>. Acesso em: 15 dez. 2018.
7
MAB. Hidrelétricas do Rio Madeira – energia para quê e para quem? Rondônia: MAB, 2007.
8
MARQUES, J. Cultura material e etnicidade dos povos indígenas do São Francisco afetados por barragens: um estudo de caso dos tuxá de Rodelas, Bahia, Brasil. Tese de doutorado, Programa de Pós-Graduação em Cultura e Sociedade. Salvador: Universidade Federal da Bahia (UFBA), 2008.
9
Disponível em: <http://www.americanrivers.org/initiative/dams/projects/2013dam-removals/>. Acesso em: jul. 2017.
10
Disponível em: <http://damremoval.eu/>. Acesso em: jul. 2017.
11
Ver: <www.ana.gov.br>.
12
Ver: <http://www.ebc.com.br/noticias/brasil/2014/12/brasileiro-consome-52litros-de-agrotoxico-por-ano-alertam-ambientalistas>. Acesso em: 15 dez. 2018
167
168
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
Juracy Marques
169
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
170
AGROECOLOGIA E CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO: QUEBRANDO PARADIGMAS, TRANSFORMANDO VIDAS Fernanda Cruz
O sertão dos dias atuais não é mais o mesmo de outrora. A agroecologia tem se mostrado uma chave para construção de novas relações no campo, para a recuperação de paisagem e para a garantia da segurança alimentar e nutricional das pessoas, deixando para trás a escassez que já foi tão presente na vida do povo sertanejo. Essa realidade também tem favorecido pequenos grupos e cooperativas, revelando toda a potência de um povo, que, por meio da comercialização do que produz, gera renda e amplia a sua capacidade de investimento local.
S
ertão. Região do interior, com povoação escassa e longe dos núcleos urbanos, onde a pecuária se sobrepõe às atividades agrícolas; região de vegetação esparsa e solo arenoso e salitroso, sujeito a secas periódicas; terreno coberto de mato, afastado da costa; o interior do país. Eis que o “interior do país”, como conceitua o Dicionário Michaelis, foi por muito tempo visto como lugar de atraso e de miséria. As intempéries do clima, atreladas à falta de políticas públicas estruturantes, sobretudo de acesso à água, forçaram as populações camponesas a viver em estado de êxodo. Até a primeira metade do século XVII, o sertão nordestino era território indígena.
Eles e elas viviam de modo nômade para fugir das secas anuais, das longas estiagens e das enchentes nos anos chuvosos (MEDEIROS FILHO, 1988 apud SILVA, 2004). Após esse período, a ocupação branca está centrada: (i) na exploração de minerais preciosos nas margens do Rio São Francisco; (ii) na pecuária; (iii) e na fuga dos colonizadores do litoral em razão da ocupação holandesa (SILVA, 2004, p. 33). Segundo Bursztyn (2008), é no contexto histórico baseado em relações paternalistas da sociedade patriarcal que a estrutura social rural se constitui. A pecuária acabou ocupando um papel central na ocupação, fazendo largo uso de mão de obra negra e
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
indígena escravizada, além de uma parcela da população livre empobrecida, que não se enquadrava no regime escravocrata (CERQUEIRA, 1989, p. 38 apud PORTO, 2018). Ou seja, estamos falando de uma região onde a agricultura teve como base a escravidão e o monocultivo, cujas consequências geraram conflitos que se refletem até os dias atuais. No caso da sociedade local, o paternalismo funciona como instrumento essencial para o esquema de legitimação dos coronéis. [...] porque se apresenta como um mecanismo eficaz na consolidação das relações de dependência que subordinam os trabalhadores aos caciques locais, tanto em nível econômico como social. [...] e como dependência lógica, essa dependência irá refletir-se no nível político, onde os poderosos locais sempre lograram impor sua vontade, desde a época colonial [...] (BURSZTYN, 2008, p. 41).
Soma-se a essa realidade tão incrustada na vida do povo sertanejo a opção política por projetos de desenvolvimento social e econômico centrados nas grandes estruturas hídricas, em benefício de grandes extensões de terra. Para o economista Celso Furtado, o problema estava na política nacional de industrialização a partir do Sudeste, na concentração de terra em latifúndios e no uso dos poucos solos agricultáveis para uma agricultura de exportação em detrimento da produção de alimentos. Nada é mais importante para o desenvolvimento do Nordeste do que o aumento da resistência da região aos efeitos das secas. Nunca será demais afirmar que estas
Fernanda Cruz
são parte da realidade nordestina, como as neves perenes são parte do mundo dos esquimós. Ninguém duvida que o impacto das secas seria menos negativo se a economia nordestina fosse mais bem adaptada à realidade ecológica regional, particularmente se a estrutura agrária não a tornasse tão vulnerável à produção de alimentos populares. Se o rápido crescimento das décadas de 1960 e 1970 aumentou a vulnerabilidade da região, é porque o verdadeiro problema não está em aumentar a produção, e sim na impropriedade das estruturas (FURTADO, 2009, p. 24).
A ocupação e as atividades econômicas sem qualquer preocupação com a fauna e flora locais acabam por aumentar os efeitos da seca, que passa então a ser um problema para o desenvolvimento rural e intensifica a migração, pois o próprio povo desacredita na capacidade de produção do solo. É esse sertão pobre e seco que inspira clássicos da literatura, da música e das artes. Essas obras registraram fatos poéticos e também históricos, entre eles as principais secas ocorridas na região e seus impactos. Ao mesmo tempo, também ajudaram a construir o imaginário sobre a região, na qual a culpa de todas as mazelas é a falta de chuva. Isso sem contar a representação midiática, que, embora em proporção muito menor, até os dias atuais estereotipa o sertanejo como um povo retirante e somente isso. O sertanejo era apresentado ao Brasil pelas lentes da imprensa da capital, da imprensa do Sudeste, para onde os migrantes se dirigiam, com todas as distorções que o preconceito pode gerar. Mas não foi apenas
171
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
172
a imprensa que criou a imagem da miséria atribuída à região. Nas artes plásticas, Candido Portinari pinta, em 1944, a série Os Retirantes, apresentando figuras esqueléticas que partem do sertão. Na literatura, Rachel de Queiroz publica, em 1930, o romance O Quinze e João Cabral de Melo Neto escreve, entre 1954 e 1955, o poema “Morte e Vida Severina”. Em 1965, o poema foi adaptado para o teatro, por Chico Buarque de Hollanda, e em 1976 ganhou versão para o cinema, sob a direção de Zelito Viana (BROCHARDT, 2013, p. 29).
As secas e a migração ainda são realidades no sertão e as vítimas continuam sendo os mais pobres. Os grandes latifúndios e o coronelismo, embora em menor proporção, ainda permanecem vivos e assombram os pequenos agricultores. Silva (2004) explica que as políticas de modernização implementadas ao longo dos anos acabaram favorecendo a concentração de terra e água, aumentando assim as desigualdades. Ao que tudo indicava, o futuro do sertão brasileiro, que também ficou conhecido como o Nordeste das Secas e atualmente é chamado de semiárido,1 parecia pouco promissor. Mas quem nunca ouviu a clássica expressão “O sertanejo é, antes de tudo, um forte”? Canudos,2 na Bahia; Pau de Colher,3 entre Pernambuco e Piauí; e Caldeirão,4 no Ceará, são exemplos da tentativa de romper com o coronelismo, de pensar novos modos de produção e de partilha da terra, da água e de alimentos, numa demonstração de resistência e sabedoria do povo. A partir da década de 1970, a ação da sociedade civil organizada, tendo como
destaque as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), com o método “ver, julgar e agir”, foi fundamental para a valorização do conhecimento local e a revitalização das comunidades rurais. Ainda não se falava em agroecologia, mas as práticas apontavam para uma agricultura alinhada com o conhecimento local e com a natureza. Do ponto de vista sócio-organizativo, disseminaram-se diversificados processos coletivos e de ajuda mútua para a gestão de recursos ou para a execução de serviços comunitários. As casas de farinha, as roças coletivas, os bancos de sementes, os mutirões e outras modalidades de associativismo são alguns exemplos dessas iniciativas. Do ponto de vista técnico, irradiaram-se processos de experimentação de práticas e métodos alternativos aos pacotes tecnológicos da Revolução Verde, tais como adubação orgânica, a adubação verde, as plantas medicinais, os métodos naturais de controle de pragas etc. (PETERSEN e ALMEIDA, 2006).
Em 1980, com o fim da ditadura, novas organizações de assessoria protagonizaram o debate sobre o que seria a “agricultura alternativa”, em contraponto à Revolução Verde. Para Petersen e Almeida (2006), a construção do movimento agroecológico só foi possível graças à interação das comunidades e organizações rurais estimuladas pelas CEBs com as instituições, algumas delas já atuantes no Nordeste, comprometidas com a viabilidade social e econômica da agricultura familiar. Ana Maria Primavesi já era uma referência no tema, a partir dos seus estudos sobre solos, e é nesse período
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
que ocorre o I Encontro Brasileiro de Agricultura Alternativa (Ebaa). Em 1983, a Federação de Órgãos para a Assistência Social e Educacional – FASE (uma das ONGs brasileiras mais antigas) passa a apoiar o Projeto Tecnologias Alternativas (PTA), que foi o embrião para a construção do movimento agroecológico no Brasil e sendo responsável – em boa medida – pela criação das principais ONGs do campo da agroecologia no Brasil. Inicialmente, esse “campo de atuação” passou a se reconhecer como “agricultura alternativa”, na perspectiva de ser uma alternativa ao modelo hegemônico da Revolução Verde, que se intensificava no país e no mundo (PORTO, 2018, p. 31).
Nessa mesma década, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a então Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater) publicam o documento Convivência do Homem com a Seca. Essa foi uma primeira proposta governamental que apontava uma perspectiva de diálogo e não de enfrentamento à questão climática. Segundo Silva (2004), “a linha básica de ação do programa era a criação de infraestrutura de captação e armazenamento de água de pequeno porte, em propriedades de pequenos agricultores [...]”. Foi nesse mesmo período que o sertão passou a ser denominado semiárido.5 Ao longo dos anos – desde a época do Brasil Colônia –, mais de 1 milhão de pessoas já havia morrido no semiárido em decorrência da seca. O ano de 1993 marca um novo ciclo para o povo sertanejo. Mais uma seca estava instalada, mas a reação popular
Fernanda Cruz
foi diferente. Em vez de ficar apenas esperando pelas ações emergenciais do Estado, a sociedade civil organizada ocupou a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), cobrando do governo ações permanentes de desenvolvimento. Mais do que um movimento de reivindicação, esse foi um período de articulação de diversos atores, que se reuniram posteriormente no Fórum Nordeste, dando origem a diversos fóruns locais, a exemplo do Fórum Seca (PE), do Forcampo (RN) e da Articulação no Semiárido Paraibano. Em 1998, a sociedade civil ocupou novamente a Sudene, cobrando respostas do governo ao pleito de anos atrás. Em 1993, a ocupação da sede da Sudene no Recife por mais de 400 trabalhadores e trabalhadoras rurais potencializou o papel e as reivindicações dos movimentos sociais frente ao Estado. Naquele ano, outra estiagem atingia a região e os agricultores e agricultoras, assim como movimentos sociais atuantes na ocupação, pautavam a necessidade de políticas mais efetivas e estruturantes para fazer frente à situação em que se encontrava a população. Ainda em 1993, em decorrência da mobilização proporcionada pela ocupação da Sudene, mais de 300 entidades envolveram-se na organização do seminário “Ações Permanentes para o Desenvolvimento do Semiárido Brasileiro”, que teve como principal desdobramento a criação do Fórum Nordeste e a proposta de um “Programa de Ações Permanentes”. Este Fórum tornou-se um aglutinador das distintas organizações sociais que criticavam as ações de combate à seca e pleiteavam alternativas de convivência com o Semiárido (Porto, 2018, p. 32).
173
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
174
A agroecologia e a convivência com o semiárido Entender esse contexto histórico é fundamental para compreender a relação entre as práticas de convivência com o semiárido e as práticas agroecológicas na região. Segundo Monteiro e Londres (2014), a agroecologia é uma ciência que aplica os princípios da ecologia para o estudo e manejo dos agroecossistemas, associando a isso o estudo dos sistemas agrícolas tradicionais e aproximando esses saberes do conhecimento desenvolvido pela pesquisa. Já a convivência com o semiárido está baseada na crença de que para viver na região é preciso ter estratégias que permitam conviver com as secas, ao invés de enfrentá-las. Para Malvezzi (2007), o segredo da convivência com o semiárido passa pela produção e estocagem dos bens em tempos chuvosos para se viver adequadamente em tempos sem chuva. Embora a convivência com o semiárido seja um conceito recente, o agrônomo José Guimarães Duque foi um grande defensor e estudioso do tema, e já apontava elementos que demonstram a semelhança com a agroecologia. Ele defendia o aproveitamento dos recursos naturais, afirmando existir uma interdependência entre solo, planta, clima e os demais seres vivos que estabelecem limites à atividade agrícola. Segundo ele, o desrespeito ao código não escrito na natureza produz efeitos imediatos ou tardios, sutis ou graves, conforme a intensidade da transgressão (DUQUE, 2001, p. 18 apud SILVA, 2004). A ação das organizações fruto da Rede PTA passa a colocar em prática o que Duque
teorizou outrora. Organizações Não Governamentais (ONGs) como o Centro de Assessoria e Apoio aos Trabalhadores e Instituições Não Governamentais Autônomas (Caatinga) e o Centro de Desenvolvimento Agroecológico Sabiá, em Pernambuco; o Serviço de Assessoria a Organizações Populares Rurais (Sasop), na Bahia; o Centro de Agricultura Alternativa (CAA), em Minas Gerais; e a própria Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa (AS-PTA), com escritório no Rio de Janeiro e, posteriormente, na Paraíba, são algumas das precursoras do movimento agroecológico e que trabalham na região até os dias atuais, reforçando os princípios agroecológicos com base na convivência com o semiárido (PETERSEN e ALMEIDA, 2006). De acordo com Monteiro e Londres (2013), o adensamento desse processo de experimentação em nível local, bem como o fortalecimento das organizações da agricultura familiar e de comunidades tradicionais, além do crescimento das lutas reivindicatórias dos movimentos sociais do campo, deu origem a redes de abrangência regional. Um exemplo é a própria Articulação Nacional de Agroecologia (ANA), que congrega movimentos, redes e organizações da sociedade civil brasileira que defendem a agroecologia como forma de garantia de direitos e de promoção de vida digna para pessoas do campo e da cidade; bem como a promoção de ações que visem fortalecer a produção da agricultura familiar e a construção de alternativas sustentáveis de desenvolvimento rural. A Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) também é fruto dessas lutas. Com a sua ação centrada prioritariamente na
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
formação e mobilização social por meio da democratização da água, a ASA contribuiu não só para a desconstrução da imagem de região problema, como também para emancipação de mais de 1 milhão de famílias na região por meio das cisternas. Elas têm impacto direto na saúde da família, aliviam o trabalho feminino de buscar água e produzem maior independência em relação ao carro-pipa; quando bem administradas, têm mudado a qualidade de vida das famílias no Semiárido (MALVEZZI, 2007).
Embora estejamos falando de uma região com certo grau de aridez, o semiárido brasileiro é o mais chuvoso do mundo, com uma pluviosidade de até 800 mm/ano. É o Semiárido mais chuvoso do planeta: a pluviosidade é, em média, 750 mm/ano (variando, dentro da região, de 250 mm/ano a 800 mm/ano). É também o mais populoso, e em nenhum outro as condições de vida são tão precárias como aqui. O subsolo é formado em 70% por rochas cristalinas, rasas, o que dificulta a formação de mananciais perenes e a potabilidade da água, normalmente salinizada. Por isso, como veremos, a captação da água de chuva é uma das formas mais simples, viáveis e baratas para se viver bem na região. Há déficit hídrico. Mas essa expressão não significa falta de chuva ou de água. O grande problema é que a chuva que cai é menor do que a água que evapora. No Semiárido brasileiro, a evaporação é de 3.000 mm/ano, três vezes maior do que a precipitação. Logo, o jeito de agasalhar a água de chuva é fundamental para aproveitá-la (MALVEZZI, 2007, p. 10).
Fernanda Cruz
Isso tem demonstrado o quanto a água é vital para a manutenção da qualidade de vida e para o fortalecimento da agroecologia na região. A simples condição de ter água ao lado de casa vem provocando os camponeses e camponesas a refletirem sobre a sua real capacidade de convivência, garantindo-lhes autonomia e coragem para experimentar novas formas de produção, em alinhamento com o que propõe a agroecologia. Experiências de captação de água de chuva para produção de alimentos, a exemplo de cisternas-calçadão, barragens subterrâneas, tanques de pedras etc., têm permitido a criação de pequenos animais, o cultivo de roçados e hortas, de plantas ornamentais e medicinais no quintal de casa, e a conservação e troca das sementes crioulas. Estes homens e mulheres aprenderam a arte de conviver com o meio ambiente olhando os ciclos das chuvas e das secas, o comportamento das plantas, dos animais e as características do clima e do solo. Neste movimento, foram múltiplas as iniciativas e estratégias construídas pelas famílias para suprir suas necessidades, sobretudo para a garantia do acesso à água e aos alimentos (BARBOSA e BAPTISTA, 2014).
É importante destacar que isso não significa que a centralidade das práticas agroecológicas no semiárido esteja unicamente nas tecnologias sociais, sendo elas acessíveis ou não, mas sim pautada numa lógica de vida, produção e desenvolvimento alinhada com a descentralização de bens, com foco na partilha, na justiça e na equidade, querendo bem à natureza e cuidando
175
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
176
de sua conservação. Nesse sentido, é fundamental estocar: água (para beber, cozinhar, plantar, dessedentar os animais, para o meio ambiente e para o uso comunitário), alimentos (grãos, e feno e silagem para os animais) e sementes (vegetais e animais) (BARBOSA e BAPTISTA, 2014). Mesmo com toda essa mudança de concepção expressa pela convivência com o semiárido e reforçada pela agroecologia como ciência e modo de vida, os desafios para o povo sertanejo continuam latentes. O agro e hidronegócio se fazem cada vez mais presentes na região, seja por meio da transposição do Rio São Francisco ou da Transnordestina. O III Encontro Nacional de Agroecologia (ENA),6 realizado em 2014, em Juazeiro (BA), mostrou claramente essas disputas existentes nos territórios. No caso do semiárido, três tiveram destaque: o semiárido mineiro, que vem sofrendo com a monocultura do eucalipto; o sertão do Araripe, com o polo gesseiro; e a Chapada do Apodi, com projetos de irrigação e uso desenfreado de agrotóxicos. Os Encontros Nacionais de Agroecologia (ENA) têm sido importantes espaços de troca de conhecimento sobre as inovações dos agricultores e agricultoras, além de espaços de fortalecimento de uma ação mais integrada e em rede. Esse espaço também tem permitido o aprofundamento de questões que ainda são desafiadoras para o movimento agroecológico, como a permanência da juventude no campo e os temas correlatos, como a sucessão rural; a violência contra as mulheres, uma realidade cada vez mais frequente no campo; e o enfrentamento do agro e hidronegócio. Essas trocas, também chamadas de intercâmbios, sempre foram relevantes na
construção do conhecimento agroecológico. Ainda no início do movimento pela agroecologia no Brasil, as redes de inovação existentes, baseadas no Movimento Campesino a Campesino, deram início à promoção de intercâmbios entre agricultores. Segundo Monteiro e Londres (2017), “esse método de comunicação horizontal potencializou enormemente os processos sociais de inovação tecnológica”. Olhando para a realidade do semiárido de 2007 até os dias atuais, 53.5157 homens e mulheres participaram de intercâmbios municipais e estaduais. A história de luta, resistência, desafios e aprendizados do povo sertanejo também tem sido espelho para regiões áridas e semiáridas no mundo. Apenas em 2018, por meio de uma ação em conjunto com a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), cerca de 50 pessoas, entre homens e mulheres, estão levando suas experiências para o Corredor Seco da América Central e para a região do Sahel, na África. Alguns agricultores e agricultoras dessas regiões, além de técnicos de organizações que prestam assessoria, também têm visitado o semiárido brasileiro para conhecer de perto as experiências de organização social, de captação e manejo da água e de produção de alimentos agroecológicos, numa demonstração de que a língua não representa uma barreira para o aprendizado e a adaptação de técnicas de cultivo e de manutenção da vida em regiões semelhantes ao nosso sertão. Sem feminismo não há agroecologia “Sem feminismo não há agroecologia.” Essa frase é repetida com frequência pelas mulheres sertanejas organizadas em torno
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
Fernanda Cruz
da agroecologia. Mais do que um chamado, Desde 2010, um grupo de mulheres demonstra como a agroecologia tem con- do semiárido paraibano passou se reunir tribuído para estabelecer novas relações de anualmente na Marcha pela Vida das Mugênero no campo. lheres e pela Agroecologia.8 Organizada pelo Não é preciso viver no meio rural para Polo da Borborema, que reúne 14 sindicareconhecer que o machismo e o patriarcado tos rurais, e pela AS-PTA, a marcha saiu têm muito mais força na região. As mulhe- de 900 para 5 mil mulheres no último ano, res não têm direito à terra dos pais; deixam reforçando a importância das mulheres e do a escola cedo para casar ou para seu trabalho na agricultura ajudar os pais na lavoura; histo- Nas últimas edições, familiar e camponesa. a Marcha das ricamente são as responsáveis Esse não é o único mopelo lar e, consequentemente, Margaridas pautou vimento nesse sentido. A o desenvolvimento por garantir água para a famíMarcha das Margaridas é rural sustentável e lia; se permanecem solteiras, um movimento feminista inclusivo, associado à são malvistas pela comunida- agroecologia, colocando do campo, de âmbito nade; quando casam, são eternas o enfrentamento ao atual cional, surgido no início ajudantes dos maridos, mesmo sistema alimentar na dos anos 2000 com caráter dividindo-se entre o trabalho na centralidade do debate. formativo, de denúncia e agricultura e o trabalho doméspressão em torno da pauta tico, somando muito mais horas de trabalho de gênero, tendo inclusive contribuído na que os homens. Enfim, ser mulher no sertão proposição e no controle social de políticas torna a condição de vida ainda mais difícil, públicas para as camponesas, como a Políquando não invisível. tica Nacional de Agroecologia e Produção Segundo Pacheco (2003), Orgânica (Pnapo),9 em agosto de 2012 (KALIL e MARRA, 2016). embora elas participem de numerosas Nas últimas edições, a Marcha das atividades agrícolas e extrativas em dupla ou Margaridas pautou o desenvolvimento tripla jornada, a invisibilidade de seu traba- rural sustentável e inclusivo, associado à lho permanece. Quando mulheres e crianças agroecologia, colocando o enfrentamento realizam o mesmo trabalho que o homem, é ao atual sistema alimentar na centralidade comum dizer-se que estão “ajudando”. do debate. Apesar de esse debate na agroecologia ser bem mais recente do que os demais pensamentos que consolidaram essa ciência, quanto mais essas questões são visibilizadas, mais se fortalecem a releitura dos papéis e a construção de novas relações entre homens e mulheres.
A Marcha das Margaridas identifica na agroecologia um caráter político muito importante, sendo diretamente associada ao feminismo, à emancipação feminina e ao combate a todas as formas de violência e opressão contra as mulheres (KALIL e MARRA, 2016).
177
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
178
Economia que transforma vidas Produzir agroecologicamente passou a ser um diferencial para os agricultores e agricultoras do semiárido. Apesar de a agroecologia exigir bastante investimento de tempo, dedicação e mudança em alguns modos de plantio enraizados culturalmente, como a queimada e o monocultivo, com o tempo, os agroecossistemas, além de garantirem a segurança alimentar e nutricional das famílias, possibilitam a comercialização do excedente em mercados de circuito curto,10 gerando renda para os camponeses. A primeira feira agroecológica no Brasil foi criada em 1997, no Recife, capital pernambucana, e existe até os dias atuais. Atualmente, já são mais de 20 feiras agroecológicas11 apenas em Pernambuco, sem contar as feiras de produtos orgânicos, numa demonstração de que a cidade também se interessa pelo que é produzido no campo, e, mais que isso, está interessada em saber a procedência do que consome. É também da mesma década o início da criação de um aparato legislatório para regulação da produção e da comercialização de produtos gerados nos termos de uma matriz orgânica (ARAÚJO, 2015, p. 269).
Em 2012, fruto da luta de organizações sociais e do movimento agroecológico, o governo instituiu a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica (Pnapo), com o objetivo de “integrar, articular e adequar políticas, programas e ações indutoras da transição agroecológica e da produção orgânica e de base agroecológica, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população, por meio do uso
sustentável dos recursos naturais e da oferta e consumo de alimentos saudáveis”. Somam-se a isso políticas como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), exemplos de como o Estado também pode incentivar e contribuir para a valorização da economia local e geração de renda no campo. João Ribeiro é agricultor em Bom Jardim (PE). Numa área de 5 hectares, dividida entre roçado, agrofloresta, quintal produtivo e criação de pequenos animais, ele possui mais de 150 espécies. Toda essa diversidade garantiu que, em 2015, ele comercializasse mais de 8 mil reais em produtos para o PAA (ASA, 2018). Hoje é possível ver, nos quatro cantos do semiárido, experiências que ratificam o quanto a economia familiar é emancipadora, permitindo que milhares de pessoas tenham segurança alimentar, produção diversificada e renda aliadas à preservação do meio ambiente. No semiárido baiano, a Cooperativa Agropecuária Familiar de Canudos, Uauá e Curaçá (Coopercuc) é um exemplo do quanto a organização familiar e comunitária aliada ao extrativismo e valorização de frutas nativas – neste caso, o umbu e o maracujá da caatinga – promove a transformação na vida das famílias agricultoras, em especial das mulheres, e garante a permanência das pessoas no campo. No início, a coleta do umbu era feita pelas mulheres e vendida a preços muito baixos, mas, com o apoio de organizações como o Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada (Irpaa), elas despertaram para a valorização do fruto por meio do beneficiamento. Em 2005, quando foram construídas 15 minifábricas nas comunidades e uma
Fernanda Cruz
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
fábrica central em Uauá, os grupos de mulheres viram a oportunidade de melhorar a qualidade e aumentar a produção. Daí em diante, o negócio cresceu, os homens se interessaram e também se engajaram na cooperativa. Atualmente, dezenas de famílias têm sua renda baseada na produção da cooperativa. Como explicita Paixão (2007), [...] a economia familiar tem sido, para o campo (mas não só), apontada como uma das grandes oportunidades de inclusão dos produtores familiares de recursos escassos, sobretudo os mais humildes, na periferia do processo de exclusão social, agregando as noções de diversidade, solidariedade, cooperação, respeito à natureza, cidadania e participação, enquanto valores contrários à lógica da globalização e da padronização.
A Coopercuc, além da renda, prima pela capacitação e pelo fortalecimento dos seus sócios e sócias. Hoje, 450 famílias e 18 comunidades estão envolvidas na produção de doces, sucos, geleias, compotas e polpas, que compõem a linha Graveteiro da cooperativa. Os produtos que possuem o selo FLO Fair Trade e Certificação Orgânica são reconhecidos no mercado nacional e já foram exportados para países como França, Áustria, Alemanha e Espanha. “A Coopercuc tem um reconhecimento não só pelo fato de ser cooperativa, mas por ser um instrumento de transformação social aqui na região, e também pelos espaços onde estamos e do mercado que conseguimos alcançar graças à organização coletiva”, ratifica a presidente da cooperativa, Denise Cardoso dos Santos.
Fernanda Cruz É jornalista, graduada pela Universidade Católica de Pernambuco (Unicap), e trabalha há 15 anos no campo da comunicação popular como estratégia para o desenvolvimento rural e para a convivência com o semiárido. Atualmente, integra a Articulação Semiárido Brasileiro (ASA).
179
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
180
Referências III ENCONTRO NACIONAL DE AGROECOLOGIA. Anais. Rio de Janeiro: ANA, 2014. ARAÚJO, T. et al. Feiras Agroecológicas – institucionalidade, organização e importância para a composição da renda do agricultor familiar. Instituto de Desenvolvimento do Trabalho e Núcleo de Economia Solidária da UFPE, 2015. BARBOSA, A.; BAPTISTA, N. A convivência com o semiárido como condição sine qua non para a produção sustentável de alimentos na região. Realidade, desafios e perspectivas. Disponível em: <http://www.osemiáridoébelo.com/2014/09/aconvivencia-com-o-semiarido-como.html>. Acesso em: 25 set. 2018. BRASIL. Decreto nº 7.794, de 20 de agosto de 2012. Institui a Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7794.htm>. Acesso em: 1 out. 2018. BROCHARDT, Viviane dos Santos. Comunicação popular na construção de políticas de acesso à água no semiárido: a experiência da ASA. Brasília: UnB, 2013. BURSZTYN, M. O poder dos donos – planejamento e clientelismo no Nordeste. 3. ed. Rio de Janeiro: Garamond; Fortaleza: BNB, 2008. Caderno de Experiências Agroecológicas em Pernambuco. Recife: ASA, 2018. FURTADO, Celso. O Nordeste: reflexões sobre uma política alternativa de desenvolvimento. In: ____ et al. O pensamento de Celso Furtado e o Nordeste hoje. Rio de Janeiro: Contraponto: Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento; Banco do Nordeste do Brasil, 2009. KALIL, L.; MARRA, C. As contribuições da Marcha das Margaridas para o avanço da pauta agroecológica no Brasil. Disponível em: <http://revistas.aba-agroecologia. org.br/index.php/cad/article/view/18433/13292>. Acesso em: 1 out. 2018.
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
Fernanda Cruz
MALVEZZI, R. Semiárido: uma visão holística. Brasília: Confea, 2007. MONTEIRO, D.; LONDRES, F. Para que a vida nos dê flor e frutos: notas sobre a trajetória do movimento agroecológico no Brasil. In: SAMBUICHI, R. et al. A Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica no Brasil – uma trajetória de luta pelo desenvolvimento rural sustentável. Ipea, p. 53-83, 2017. PACHECO, M. E. A questão de gênero no desenvolvimento agroecológico. Encontro Nacional de Agroecologia, Rio de Janeiro, Anais... Rio de Janeiro: AS-PTA, 2003. PAIXÃO, Clodoaldo Almeida. Economia familiar. Disponível em: <http://www.moc.org. br/download/eco_fam.pdf>. Acesso em: 1 out. 2018. PETERSEN, P.; ALMEIDA, S. G. de. Rincões transformadores: trajetória e desafios do movimento agroecológico brasileiro: uma perspectiva a partir da Rede PTA. Rio de Janeiro: Aspta (mimeo), 2006. PORTO, S.; FROEHLICH, G. Articulação Semiárido Brasileiro (ASA) – sistematização da experiência de convivência com o semiárido. ASA, 2018. SILVA, M. Entre o combate à seca e a convivência com o semiárido – transições paradigmáticas e sustentabilidade do desenvolvimento. Série BNB Teses e Dissertações, n. 12, 2008. VEZZANI, F. M. et al. Agroecologia: práticas, mercados e políticas para uma nova agricultura. Curitiba: Kairós, 2013.
181
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
182
Notas 1
Atualmente, cerca de 27 milhões de pessoas vivem no semiárido, que ocupa 1,03 milhão de km². Disponível em: <http://www.integracao.gov.br/semiaridobrasileiro>. Acesso em: 20 set. 2018.
2
Ver: <https://www.youtube.com/watch?v=j_nZzqJbWGQ>. Acesso em: 8 dez. 2018.
3
Ver: <http://www.youtube.com/watch?v=oxoZOR_qhS0&ab_ channel=RTVCaatingaUnivasf>. Acesso em: 16 dez. 2018.
4
Ver: <https://www.youtube.com/watch?v=Z2DVrL_dEcI&ab_ channel=FreiGilvanderLutapelaterraeporDireitos>. Acesso em: 16 dez. 2018.
5
Oficialmente, a primeira delimitação da região ocorreu em 1986, com o Polígono das Secas, mas o conceito técnico é decorrente de uma norma da Constituição Brasileira de 1988, mais precisamente do Artigo 159, que institui o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).
6
Ver: <http://enagroecologia.org.br/>. Acesso em: 25 set. 2018.
7
Disponível em: <http://www.asabrasil.org.br/mapatecnologias/>. Acesso em: 1 out. 2018.
8
Ver: <http://aspta.org.br/2018/05/video-ix-marcha-pela-vida-das-mulheres-epela-agroecologia/>. Acesso em: 2 out. 2018.
9
Ver: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Decreto/D7794. htm>. Acesso em: 2 out. 2018.
10
Ainda não existe uma definição oficial no Brasil sobre circuito curto (CC), mas os representantes do setor agroalimentar na França têm utilizado o termo para caracterizar os circuitos de distribuição que mobilizam, no máximo, um intermediário entre produtor e consumidor.
11
Disponível em: <http://www.centrosabia.org.br/feiras-agroecologicas>. Acesso em: 30 set. 2018.
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
Fernanda Cruz
183
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
184
TURISMO CULTURAL & INDICAÇÃO GEOGRÁFICA: PIAUÍ, PARAÍBA E SERGIPE COMO ROTEIROS Janaina Cardoso de Mello
As Indicações Geográficas (IGs) do artesanato em joias de opalas-azuis (PI), da bebida Cajuína (PI) e das rendas renascença (PB) e irlandesa (SE) valorizam as tradições locais, as singularidades, a notoriedade e o território, promovendo maior visibilidade e geração de renda por meio da comercialização. Roteiros turísticos integrados à economia criativa das regiões com IGs favorecem o desenvolvimento regional, assim como oferecem a vivência de experiências únicas e sustentáveis.
O
registro das Indicações Geográficas (IGs) no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) destaca as particularidades dos produtos de distintas regiões, valorizando suas características, originalidade, história, notoriedade e territorialidade, o que contribui para maior visibilidade, valor de oferta e consumo de uma experiência exclusiva em espaços com potencial turístico. As IGs culturais podem ser atrativos turísticos desde que ocorra uma roteirização turística definida e estruturada para fins de planejamento, gestão, promoção e comercialização via turismo das localidades do roteiro. O turismo cultural traz a
vivência de elementos significativos relacionados ao patrimônio cultural e aos eventos que promovem e valorizam a cultura. Os bens, de natureza material e imaterial, possuem traços de memória e da identidade das populações. As tradições de povoados, a vida rústica e o saber-fazer das comunidades são compartilhados, na experiência de produção, com visitantes que desejam consumir um momento que pode durar uma eternidade nas memórias. No campo das sensações, o produto é efêmero, mas abriga-se na subjetividade dos indivíduos de forma mais durável. Um roteiro dos espaços com IGs culturais contém histórias interconectadas e
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
Janaina Cardoso de Mello
incentiva a economia que valoriza o bem- sustentabilidade, identidades locais e prota-estar social e a qualidade de vida dos pro- gonismo dos sujeitos versus mundialização. dutores tradicionais. Orienta o turista para A economia criativa está balizada por a coletividade, para a rede de solidariedade “ativos criativos que potencialmente geram entre associações e artesãos e para o cuida- crescimento e desenvolvimento econômico” do com o ambiente. (UNCTAD, 2012, p. 10), incidindo em geraA rede insere a participação de vários ção de renda, criação de empregos e exportapequenos agentes sociais nas decisões sobre ção de ganhos, ao mesmo tempo que promove o desenvolvimento econômico sustentável, inclusão social, diversidade cultural e desenos impactos sociais e ecológicos do turismo. volvimento humano. Articula várias unidades, troca de elemenOs princípios econômicos na comertos, fortalece a reciprocidade e multiplica a cialização de produtos com IGs, em um noção de conjunto em expansão e com equi- mercado preocupado com a qualidade, líbrio sustentável (MANCE, permitem a sobrevivência das 2002, p. 24). identidades culturais múltiO modelo de turismo Quando não existe hos- criativo/cultural plas e singulares, além do inpedagem nas comunidades, constrói uma cadeia teresse das novas gerações em os municípios do interior são de significados que perpetuar a cultura. perpassa o modo de conectados à infraestrutura A sustentabilidade culturística adjacente com su- vida comunitário. tural em comunidades tradiporte para a concretização cionais afastadas dos grandes da experiência do turismo e da econo- centros depende cada vez mais dos vetores mia criativos, retirando aquele espaço de comercialização de seus produtos. Em do isolamento. 2012, mais da metade das artesãs da renda Diferentemente do que é praticado renascença no Cariri paraibano (48,6%) obno turismo de massa, o modelo de turismo tinha 100 reais de renda mensal. Uma a cada criativo/cultural constrói uma cadeia de três mulheres mantém a tradição da renda significados que perpassa o modo de vida renascença, embora a sobrevivência esteja comunitário, o controle do número de turis- na agricultura. Os desafios das artesãs são a tas (em visitas, atividades culturais e hos- falta de água, de matéria-prima e de recurpedagem). Evoca-se a qualidade, em vez da sos para investir na produção, além dos atraquantidade. Disso depende a manutenção vessadores, que escoam 22% dos produtos do ambiente, a sustentabilidade ecológica. (WSCOM, 2013). A felicidade turística na criatividade reaNas áreas com IGs, a ocupação em liza-se como experiência sensorial, e não serviços manteve-se alta de 2007 a 2013. apenas como compra. Para o Nordeste, em 2013, consideraram-se São novos paradigmas norteando a os municípios de Teresina (62,5%) e Pediscussão do patrimônio cultural, do tu- dro II (73,9%), no Piauí; Amparo (97,5%), rismo e da economia criativos, afirmando Caraúbas (93,5%) e Cabaceiras (77,8%),
185
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
186
na Paraíba; e Divina Pastora (90,2%), em Sergipe (IBGE, 2014). Nos portais de transparência governamentais, o Piauí obteve o melhor índice de investimentos em turismo, dispondo em 2015 de R$ 18.903.597,00, ampliado em 2016 para R$ 21.325.838,00 e mantendo o crescimento em 2017, com R$ 38.792.221,00. Sergipe revelou um aumento no orçamento de 2015 (R$ 15.799.916,50) para 2016 (R$ 23.547.066,23) e um decréscimo para 2017 (R$ 18.742.840,45). Na Paraíba, os valores de 2015 (R$ 8.685.879,95) aumentaram em 2016 (R$ 9.123.460,56), caindo em 2017 (R$ 7.791.279,41). O registro de Patrimônio Cultural Brasileiro da Produção Tradicional e Práticas Socioculturais Associadas à Cajuína no Piauí pelo Iphan, em maio de 2014, reconheceu o simbolismo da bebida/alimento, representativo da hospitalidade e dos laços entre as famílias produtoras. A IG veio em agosto de 2014, e no final do ano a comercialização da Cajuína movimentou mais de 2 milhões de reais (PORTAL AZ, 2015). A história do Piauí emerge de violentos conflitos interétnicos e disputas entre oligarquias em aguda clivagem social. A instalação de Teresina, a modernização da sociedade e a nova socialização cívica balizadas por rituais de etiqueta colocaram a Cajuína no centro das práticas culturais de fortalecimento de vínculos, solidariedades e parcerias (IPHAN, 2008/2009, p. 15-16). As opalas- azuis e as joias de opalas de Pedro II (PI) receberam o registro de IG em 2012, tendo o município a única reserva de gemas nobres de opala no país e a segunda maior do mundo, atrás apenas
da Austrália (GUIMARÃES, 2011). A lapidação e a transformação das gemas em artesanato geram até 70 mil reais mensais aos ourives. De 2007 a 2011 houve um crescimento exponencial de turistas em Teresina, tendo em 2015 o maior quantitativo. Destes, 99% são compostos por brasileiros do Ceará (12,5%) e do Maranhão (12,5%), seguidos por São Paulo (9,9%), na faixa de 36 a 50 anos (42,2%) e predominantemente do sexo masculino (61%), com nível superior (60,3%) (PMT; SEMDEC, 2011, p. 29-32). A renda renascença do Cariri (PB), com IG desde 2013, revelou o potencial das artesãs na economia local. Surgida entre os séculos XV e XVI, símbolo do artesanato italiano na Ilha de Burano (Veneza, Itália), encantou a realeza e a burguesia francesas no século XVIII. Chegou ao Nordeste brasileiro no século XIX, com as freiras francesas do Convento Santa Teresa. Em 1930, o ofício foi apropriado por mulheres mais humildes. Nos anos 2000, a atividade se tornou importante na economia da região, constituindo-se também em atrativo turístico (GIESBRECHT, 2014, p. 53 e 55).1 O abraço à herança cultural faz empreendedores artesãos construírem e promoverem a imagem das regiões, mantendo vivas as tradições, inovando-as nos mercados contemporâneos, cuidando da qualidade e autenticidade da produção e reforçando identidades, reputação e competitividade nas regiões do artesanato (PRET; COGAN, 2018, p. 11). A renda irlandesa chega ao município de Divina Pastora (SE) no início do século XX, com a utilização do fio de lacê
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
ensinada pela missão de freiras irlandesas (AMARAL, 2011, p. 29). Popularizou-se com o registro de patrimônio imaterial pelo Iphan e a obtenção da IG pelo Inpi em 2012. Os municípios sergipanos de Laranjeiras, Riachuelo e Maruim também possuem artesãs da renda. Roteiros integrados das IGs podem incentivar o empreendedorismo artesanal e a oferta de serviços e produtos turísticos, fortalecer a identidade regional, além de aumentar as visitas e os gastos em torno de experiências únicas. Por isso, desenvolveu-se um Guia da Roteirização Turística das IGs Culturais & Infraestrutura via leitura digital de QR Code para o download em PDF. Possui 13 IGs culturais – registro que atesta que certa região se especializou na oferta de um artigo ou serviço diferenciado e de excelência, caracterizado por tradições ancestrais e pelo saber-fazer imaterial – com textos, imagens, geolocalização, sugestões de hospedagem em projetos de Turismo de Base Comunitária (TBC), eco-hotéis, espaços de acomodação sustentável e turismo solidário, indicando contatos. Há boxes dos aeroportos próximos. Foi produzido no Mestrado em Turismo do IFS, com apoio do CINTTEC-UFS e financiamento do Programa Observatório Itaú Cultural de Pesquisa em Economia da Cultura.
Janaina Cardoso de Mello
Janaína Cardoso de Mello É doutora em história social (UFRJ), mestra em memória social (Unirio) e em turismo (PPMTUR-IFS) e graduada em história (Uerj). É professora da Universidade Federal de Sergipe (UFS), do mestrado em ensino de história e do mestrado em história (PPGH-UFAL). Sua pesquisa MAPTOUR-IG & QR Codes Culturais em Aeroportos: Novos Destinos Turísticos Inteligentes para Cidades Criativas, Desenvolvimento Territorial e Revitalização Urbana a Partir da Economia da Cultura foi uma das selecionadas no Programa Observatório Itaú Cultural de Pesquisa em Economia da Cultura 2017, na carteira Pesquisa em Andamento.
187
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
188
Referências AMARAL, J. L. A produção de renda irlandesa e seu aprendizado em Campos dos Goytacazes – RJ. Tese de mestrado em museologia e patrimônio. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UniRio), 2011. GIESBRECHT, H. O. et al. Indicações geográficas brasileiras. Artesanato: Brazilian geographical indications – Crafts: indicaciones geográficas brasileñas – Artesanía. Brasília: Sebrae, Inpi, 2014. GUIMARÃES, H. Opala: preciosidade do sertão ganha o mundo. 2011. Disponível em: <http://revistagloborural.globo.com/Revista/Common/0,,ERT211452-18071,00. html>. Acesso em: 15 mar. 2017. IBGE. Cidades. 2014. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/>. Acesso em: 14 dez. 2017. IPHAN. Dossiê Produção Artesanal e práticas socioculturais associadas à Cajuína no Piauí. Piauí: Iphan, 2008/2009. MANCE, E. A. Redes de colaboração solidária – aspectos econômico-filosóficos: complexidade e libertação. Petrópolis: Vozes, 2002. MELLO, J. C. Roteirização turística das IGs & infraestrutura. Aracaju: Ed. GEMPS, 2018. PMT; SEMDEC. Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) – Teresina. Teresina: PMT/Semdec, 2011.
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
Janaina Cardoso de Mello
PORTAL AZ. Cajuína ganha cada vez mais espaço no mercado. 2015. Disponível em: <http://www.pi.agenciasebrae.com.br/sites/asn/uf/PI/cajuina-ganha-cada-vezmais-espaco-no-mercado,6b6324349e57b410VgnVCM1000003b74010aRCRDh ttps://www.portalaz.com.br/noticia/geral/323227/cajuina-ganha-cada-vez-maisespaco-no-mercado>. Acesso em: 17 dez 2018. PRET, T.; COGAN, A. Artisan entrepreneurship: a systematic literature review and research agenda. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 2018, p. 1-24. Disponível em: <https://doi.org/10.1108/IJEBR-03-2018-0178>. Acesso em: 25 abr. 2018. TEIXEIRA, S. J.; FERREIRA, J. J. M. Entrepreneurial artisan products as regional tourism competitiveness. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 2018, p. 1-23, Disponível em: <https://doi.org/10.1108/IJEBR-01-2018-0023>. Acesso em: 20 mar. 2018. UNCTAD. Relatório de economia criativa 2010: economia criativa, uma opção de desenvolvimento. Brasília: Secretaria da Economia Criativa/Minc; São Paulo: Itaú Cultural, 2012. WSCOM. 50% das produtoras do Cariri ganha R$ 100. Economia & Negócios. 2013. Disponível em: <https://www.wscom.com.br/noticia/metade-das-mulheresprodutoras-do-cariri-paraibano-tem-renda-mensal-de-ate-r-10/>. Acesso em: 20 mar. 2018.
Nota 1
Disponível em: <https://caixacolonial.club/blog/renda-renascenca-do-caririparaibano-231/>. Acesso em: 10 out. 2017.
189
190
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
Janaina Cardoso de Mello
191
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
192
DO VELHO CHICO AO CANGAÇO:
A CONSTRUÇÃO DO DESTINO TURÍSTICO PIRANHAS NO SERTÃO ALAGOANO Wanderson José Francisco Gomes
Neste trabalho, considera-se a apresentação de fatores determinantes para o desenvolvimento socioeconômico da cidade de Piranhas, localizada no sertão alagoano, enquanto destino turístico ecológico e histórico-cultural. A partir de consultas teórico-bibliográficas, a seguinte análise propõe uma discussão em torno da recente profissionalização turística do estado brasileiro e suas estratégias de regionalização, que buscam criar mecanismos para o progresso de produtos alternativos ao segmento Sol e Mar.
Introdução
A
cidade de Piranhas, fundada em 1887 e localizada no sertão alagoano, notabilizou-se pelo estilo arquitetônico predominantemente neoclássico. O município, com população estimada de 25.298 habitantes (IBGE, 2017),1 foi gratificado como um dos conjuntos arquitetônicos mais preservados do país. Seu sítio histórico e paisagístico foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), sendo acrescentados o distrito de Entremontes e um trecho de 13 km do Rio São Francisco. Na área tombada (que inclui mil imóveis) estão Estação Ferroviária (hoje,
Museu do Sertão), Torre do Relógio, Igreja Nossa Senhora da Saúde, Palácio Dom Pedro II e o cemitério.2 Além do processo de patrimonialização e da exploração econômica em torno dos cânions do São Francisco, a cidade de Piranhas também tratou de identificar em sua biografia a história do cangaço, que figura como um dos fatores determinantes para justificar as visitações – notadamente, o desfecho de Virgulino Ferreira da Silva (Lampião), Maria Bonita e mais nove cangaceiros, mortos na Grota do Angico, no município sergipano de Poço Redondo
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
(200 km da capital Aracaju), tendo suas cabeças expostas na escadaria do prédio da atual Prefeitura Municipal de Piranhas, após perseguição pelas forças policiais em 28 de julho de 1938. Na reunião desses elementos naturais, patrimoniais e intangíveis, e percebendo a prática turística como preponderante para esse município alagoano, o presente trabalho busca percorrer algumas condições sociais determinantes para a elaboração de Piranhas enquanto destino turístico, elencando como norteadora uma pergunta central: quais fatores políticos e sociais foram cruciais para descortinar uma nova organização turística na cidade de Piranhas? E mais: qual o papel de instituições público-privadas nesse contexto? Tem-se como hipótese que a construção da usina hidrelétrica de Xingó, associada às posteriores políticas estatais de regionalização, foi crucial à turistificação de Piranhas e dos municípios circunvizinhos. Destino Piranhas e os agentes estatais de mercado De acordo com Santos (et al. 2016), a relação da região do Baixo São Francisco com o turismo se dilata ainda na década de 1950, com a construção das usinas hidrelétricas, e, com maior vigor, na década de 1990, com a usina hidrelétrica de Xingó, alterando a paisagem e a geografia locais. Assumia o turismo papel decisivo na tríplice fronteira que obedece Bahia, Sergipe e Alagoas. O fato ressignificou os usos para o Rio São Francisco, anteriormente utilizado prioritariamente para a prática da pesca, que hoje ainda desponta como uma das
Wanderson José Francisco Gomes
atividades econômicas mais significativas de Piranhas, junto ao turismo. A construção de Piranhas enquanto destino passa, portanto, pelos olhares do “Velho Chico”, segundo Santos (et al. 2016, p. 53): O “Velho Chico”, como é comumente conhecido, é um testemunho de transformações geográficas, socioeconômicas e culturais. É lugar de construção diária da vida ribeirinha que firmam e fortalecem as histórias locais. Lugar de mudanças na paisagem por ações antrópicas ou intempéries naturais. Lugar onde a história do cangaço tomou corpo e assume a identidade cultural da região. Às margens do rio, nos estados de Sergipe, Bahia e Alagoas, a saga do Cangaço é contada e recontada para cada novo turista, conferindo a toda uma cadeia de empreendimentos uma oportunidade de desenvolvimento, tendo o turismo como agente impulsionador.
Podemos previamente indicar que a formação dos cânions criados em razão do represamento das águas do São Francisco foi ponto-chave para desencadear a formatação do produto Piranhas e a exploração comercial da região a partir da década de 1990, quando o rio passou a ser acessado em catamarãs, iniciando uma intensa procura de visitantes e dando origem a um sistema de motivações baseado na experimentação do consumo subjetivo do lugar (MAIA, 2011), que viria a se imbricar com os cenários referentes ao cangaço enquanto produto histórico, elevando Piranhas à condição de destino turístico. O processo ganha contornos complexos após a participação incisiva das instituições
193
194
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
públicas como agentes estatais de merca- infraestrutura. A proposta pôs em formação do (MAIA; GOMES, 2015), corroborando um complexo e multifacetado mapa turístiuma postura que passa a atuar de maneira co, que, de 2003 até 2012, contava com 3.635 contundente na estruturação de destinos municípios organizados em 276 regiões tuturísticos, respaldado por planos de médio rísticas (PNT, 2013-2016). e longo prazo, no uso de marcos regulatórios e projetos organizacionais ambiciosos. Política de regionalização: a Nessa seara, os agentes estatais de formatação de um destino alternativo mercado instauram uma pedagogia do novo A recente profissionalização turístiempreendedorismo e dissipam uma ética de ca nacional demanda uma série de ações competitividade entre os próprios agentes voltadas para a melhoria de serviços e inestatais regionais e locais, vislumbrando no fraestrutura. Esse foi o perfil implantado Plano Nacional de Turismo (PNT), lançado no Nordeste, sob orientação de uma política em 29 de abril de 2003 (ano de formalização desenvolvimentista, a exemplo da perspecde um Ministério do Turismo), o principal tiva autossustentável da atuação do Banco documento regulatório que visualiza as mais do Nordeste (BNB) e do Programa de Dedestacáveis potencialidades turísticas, alme- senvolvimento do Turismo (Prodetur), que jando incluir o Brasil no mercado competi- propuseram um planejamento participativo tivo mundial. envolvendo uma vasta rede de relações, com Destarte, com as versões posteriores instâncias públicas e/ou privadas. do PNT, se afunila o objetivo de regionalizaO megaprojeto é fruto da integração ção e melhoramento dos serviços turísticos, do Banco Interamericano de Desenvolvibandeiras que passam a ser introduzidas nas mento (BID), do Banco do Nordeste (BNB) pautas regulares do ministée das parcerias firmadas enrio. Caudatária dessa nova Caudatária dessa tre Banco Nacional de Denova conduta conduta profissional do turissenvolvimento Econômico profissional do turismo mo nacional, Piranhas passa a e Social (BNDES), Instituto nacional, Piranhas despontar como uma das mais passa a despontar Brasileiro de Turismo (Emimportantes cidades turísti- como uma das mais bratur), Ministério do Tucas de Alagoas, requisitando importantes cidades rismo, Empresa Brasileira sua participação na história turísticas de Alagoas. de Infraestrutura Aeropordo cangaço e utilizando tal tuária (Infraero), Comissão elemento como economicamente rentável. de Turismo Integrado do Nordeste (CTI/ Sendo assim, as etapas de regionaliza- NE), bem como estados e municípios. Visa a ção passam a buscar uma descentralização investimentos para que regiões-alvo melhodo turismo nacional, ampliando o leque de rem seus desempenhos de competitividade, destinos, aperfeiçoando potenciais turís- indicando treinamentos a partir do Serviço ticos, organizando regiões por segmentos Nacional de Aprendizagem Comercial (See priorizando a capacitação de serviços e nac), por exemplo.
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
Wanderson José Francisco Gomes
Em Alagoas, a profissionalização do governo brasileiro no segmento do turismo fez com que sua Secretaria de Turismo se concentrasse em uma nova fase de organização dos produtos, realizando um minucioso mapeamento para identificação, por exemplo, das cidades históricas, como Marechal Deodoro, Penedo e Piranhas, sendo aportado recurso pelo Ministério da Cultura (o que resultou no tombamento já destacado), que tem participação fundamental na construção do destino piranhense. O mapeamento passou a ser respaldado por um documento que buscou nortear e regulamentar as ações turísticas no estado, lançado em 2013: o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Turismo de Alagoas. Atualmente, o mapeamento sofreu alterações, caindo de 50 para 28 o número de municípios participantes de suas regiões turísticas, entre as quais Piranhas figura no Caminhos do São Francisco, com os municípios de Água Branca, Delmiro Gouveia, Olho d’Água do Casado, Pão de Açúcar, Penedo e Piaçabuçu.3 As regiões delimitadas no mapa turístico de Alagoas são: Agreste, Caminhos do São Francisco, Costa dos Corais, Lagoas e Mares do Sul, Metropolitana e Quilombos (MTUR, 2016). Essa ação de delimitação tende a dar maior visibilidade aos potenciais turísticos e determinar ações específicas, desde que se sinalizem suas demandas. A cidade de Piranhas, em seu esforço para estruturar um produto voltado para o turismo ecológico e histórico-cultural, representa, portanto, uma alternativa socioeconômica para o estado de Alagoas, que notadamente se concentra na tipificação Sol e Mar, com ênfase na procura de hospedagens em sua capital, Maceió.
Em particular, a emergência do turismo alagoano fica por conta de que, ao contrário do fomento das práticas alternativas ocorridas em outros estados, em Alagoas, o turismo não se desenvolve através da mediação dos patrimônios e das manifestações culturais situadas, sendo este um dos impasses dessa atividade em Alagoas. Tal problemática deve ser aprofundada a partir de dois movimentos: o primeiro se refere às possibilidades de ser o turismo uma das possibilidades de desenvolvimento do estado, e o segundo, atrelado ao primeiro, diz respeito às negativas consequências no que se refere à total dominância do atual modelo turístico e de seus impactos no que se refere ao desenvolvimento local (BEZERRA; VASCONCELOS, 2012, p. 118-119).
O município se insere numa recente discussão para que o Estado utilize outros recursos e segmentos turísticos, tanto como forma de desobstruir praias (objetivo original das regionalizações) quanto para garantir a sustentabilidade e a renovação dos produtos e serviços oferecidos, além de envolver populações periféricas na cadeia econômico-produtiva do turismo. Considerações finais A cidade de Piranhas pode ser observada como um exemplo de relativo sucesso, seguindo ricos referenciais identitários sertanejo-alagoanos e estimulando a criatividade em torno de seu acervo histórico e cultural ligado à arquitetura colonial, sobretudo após a construção da usina hidrelétrica de Xingó, ainda na década de 1990, que concedeu nova funcionalidade ao Rio São
195
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
196
Francisco, redesenhando e consolidando seu espaço geográfico. O município obteve êxito principalmente no uso de um fato de relevância nordestina e nacional: o cangaço, podendo ser mais bem identificado após um processo de regionalização e turistificação que passou a pautar as ações do Ministério do Turismo em território nacional nos últimos 15 anos, gerando uma efervescência nas organizações público-privadas, que perceberam, então, oportunidades de diversificação, dinamização e mobilização de outros destinos economicamente viáveis em regiões sem o aporte de Sol e Mar. Piranhas reflete o papel dos agentes estatais de mercado que adequaram políticas ministeriais em seus cotidianos administrativos, gerando a mercadologização territorial a partir da delimitação das potencialidades. Isso ofereceu a Piranhas e à sua população um contexto fecundo de apropriação de uma nova economia, para além do agronegócio.
Wanderson José Francisco Gomes É graduado em ciências sociais e mestre em sociologia pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal). É secretário da Unidade Regional de Alagoas da Associação Brasileira de Ensino de Ciências Sociais (Abecs). Pesquisa políticas públicas, políticas culturais, políticas de turismo e mercados turísticos e culturais no Brasil.
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
Wanderson José Francisco Gomes
Referências ALVES, Elder P. Maia. A economia simbólica da cultura popular sertanejo-nordestina. Maceió: Edufal, 2011, p. 447-484. ALVES, Elder P. Maia; GOMES, Wanderson J. F. Mercados turísticos e desenvolvimento regional: a atuação dos agentes estatais de mercado na economia do turismo no Brasil. Revista Latitude, Alagoas, v. 9, n. 2, 2015, p. 343-389. BEZERRA, Edson José Gouveia; VASCONCELOS, Daniel Arthur Lisboa de. Roteiros para um novo modelo de turistificação: do turismo de massa a águas alternativas (e alegorias) em Alagoas. In: Silvana Pirillo Ramos (Org.). Planejamentos de roteiros turísticos. Porto Alegre: Asterisco, 2012. BRASIL, Ministério do Turismo. Plano Nacional de Turismo: o turismo fazendo mais pelo Brasil 2013-2016. Brasília, 2013. SANTOS, Gabriela Nicolau dos; ANDRADE, Cyntia; SANTOS, Daniele Soares Silva. Para além dos cânions de Xingó: atrativos potenciais para o turismo cultural e fluvial nos municípios de Canindé do São Francisco e Poço Redondo (SE). Ponta de Lança, São Cristóvão, v. 10, n. 19, jun-dez. 2016, p. 50-72.
Notas 1
Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/al/piranhas/panorama>. Acesso em: 15 ago. 2018.
2
Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/111>. Acesso em: 15 ago. 2018.
3
Para mais informações sobre a recente atualização do mapa turístico de Alagoas, consultar: <http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/6463alagoas-tem-novo-mapa-tur%C3%ADstico.html>. Acesso em: 10 ago. 2018.
197
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
198
ESTADO E CULTURA NO NORDESTE:
UMA LEITURA DAS POLÍTICAS CULTURAIS NORDESTINAS Alexandre Barbalho
Partindo do pressuposto de que no Nordeste há um histórico de forte relação clientelista entre intelectuais e Estado, discute-se como reagiram as políticas culturais na região com a atuação do Ministério da Cultura a partir da gestão do ministro Gilberto Gil, em seu esforço de institucionalização dessas políticas por meio da participação social.
1. O Nordeste é uma invenção O Nordeste, antes de ser uma delimitação geográfica ou político-administrativa, é uma invenção cultural. Uma região que foi se constituindo a partir de discursos diversos e dispersos no tempo e no espaço, junto com a própria criação da nação brasileira e sua comunidade imaginada. Remonta, portanto, à divisão entre o Norte da cana-de-açúcar e o Sul cafeeiro da segunda metade do século XIX. Essa invenção não se dá somente a partir de formulações nativas. Como se disse, é um processo disperso. Há dois exemplos de representação do Nordeste publicizada nos anos 1800 na imprensa sudestina que
ajudaram a fixar a região como terra do atraso e da miséria, ainda hoje vigente no imaginário nacional. Em 1878, a Gazeta de Notícias, do Rio de Janeiro, enviou ao Ceará um de seus jornalistas, o militante abolicionista José do Patrocínio, com o objetivo de mandar notícias sobre a seca que devastava o sertão e causava comoção na capital do Império – experiência da qual resultou seu romance Os Retirantes, publicado em 1879. Em 1897, o jornalista Euclides da Cunha foi enviado por O Estado de S. Paulo para cobrir a guerra dos “bárbaros”, conselheiristas contra o Exército Nacional. A estadia de Euclides no interior da Bahia virou Os Sertões, publicado em 1902, sucesso de público para a época e
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
revelador do autoritarismo republicano contra os sertanejos. Claro que se trata de um outro Norte, futuro Nordeste, esse retratado por Euclides e Patrocínio, e não daquele analisado pelo pernambucano Gilberto Freyre em Casa-Grande & Senzala (1933), livro traduzido e editado em várias línguas e países e uma das principais (e primeiras) ferramentas de leitura e interpretação do Brasil para os não brasileiros – vide o depoimento do anglo-jamaicano Stuart Hall sobre a importância de ter lido Freyre nos anos 1950 para sua obra e suas reflexões sobre hibridismo. Trata-se, no primeiro caso, do Nordeste seco, de O Outro Nordeste, como revela o título do livro do sociólogo cearense Djacir Menezes. Publicado em 1937, funcionou como uma espécie de resposta a Casa-Grande & Senzala, pois este, recorrendo à metonímia, pretendia falar de todo o Nordeste referindo-se apenas a uma pequena parte, à do litoral abençoado com o solo de massapê, ou seja, a Zona da Mata da Paraíba à Bahia, esquecendo a parte maior do território, aquela interior, ocupada na trilha do gado – os caminhos de dentro e de fora, na clássica formulação do historiador cearense Capistrano de Abreu. Vê-se, nessa breve digressão, como é complexa a identificação do que seja o Nordeste, como é impossível fixá-lo em um só sentido. Os discursos que o constituem se espalham por produtos culturais (músicas, filmes, romances, poesias, peças teatrais, ensaios, textos acadêmicos e jornalísticos) desde o século XIX e chegam até hoje, início do terceiro milênio. Nessa longa duração, pode-se dizer, junto com Durval Muniz de Albuquerque Júnior, que “o Nordeste nasce
Alexandre Barbalho
onde se encontram poder e linguagem, onde se dá a produção imagética e textual da espacialização das relações de poder” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 1999, p. 23). 2. Política cultural de intelectuais e políticos (e vice-versa) É de se supor que nessa região as relações entre os intelectuais e a política, entre a cultura e o Estado, se não são exclusivas dela, ganham ali liames fortes. Há um vai e vem de indivíduos entre os campos cultural e político, em que o capital amealhado em um é reconvertido em capital do outro, garantindo carreiras mais ou menos vitoriosas, a depender das jogadas e tomadas de posição acertadas ou não de cada um desses dublês de escritores (a grande maioria) e políticos. Podemos lembrar do cearense José de Alencar, romancista, autor de, entre inúmeros outros, Iracema, uma “lenda” sobre a origem não apenas de sua província, mas de todo o país, ao estabelecer o encontro amoroso entre o colonizador e a indígena, daí resultando o primeiro cearense/brasileiro. Foi também deputado pelo Ceará, em constante embate com o imperador Pedro II, de quem foi ministro da Justiça. Lembramos também do maranhense José Sarney, imortal da Academia Brasileira de Letras e um dos mais longevos políticos brasileiros. Presidente do país, criou o Ministério da Cultura. E, bem antes, quando eleito governador de seu estado, convidou o cineasta baiano Glauber Rocha para filmar sua posse – material que resultou no curta-metragem Maranhão 66 e em várias sequências de Terra em Transe, filme cujo principal personagem é um poeta agitador das massas e conselheiro político de um governador populista.
199
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
200
Também não é de se estranhar que esses intelectuais em relação íntima com o poder acabem por reivindicar a atuação institucional dos governos estaduais na cultura por meio de políticas públicas conduzidas por eles próprios, ou que assumam posições privilegiadas na elaboração das políticas culturais em âmbito federal. No contexto estadual, é paradigmático o caso do Ceará, que criou a primeira Secretaria de Cultura do país, em 1966. A ideia surgiu durante o I Congresso Cearense de Escritores, realizado em 1946. Uma das 19 teses discutidas e aprovadas no evento foi apresentada pelo historiador Raimundo Girão, intitulada A Necessidade de uma Secretaria de Cultura. Escritor profícuo, com mais de 50 obras publicadas, membro do Instituto Histórico e Geográfico de seu estado, Girão foi prefeito de Fortaleza e se tornou o primeiro secretário de Cultura. Plácido Castelo, o governador que o nomeou, também fazia parte do Instituto do Ceará e era autor de pesquisas sobre assuntos regionais. No contexto federal, é reveladora, durante o Regime Militar, a atuação do Conselho Federal de Cultura (CFC), órgão responsável por formular o pensamento sobre o setor naqueles anos de exceção. Criado em 1966 pelo presidente Castelo Branco, cearense e amigo da escritora e sua conterrânea Rachel de Queiroz, ela própria integrante do Conselho, o CFC reuniu intelectuais renomados, de perfil conservador – muitos deles nordestinos. Em depoimento publicado no jornal O Povo, de Fortaleza, o escritor maranhense Josué Montello, um dos fundadores do CFC e seu primeiro presidente, entrega o jogo:
Se hoje existe o Conselho Federal de Cultura, com uma larga folha de serviço à cultura nacional [...] isso se deve [...] ao fato de eu ter me sentado como secretário-geral da Academia Brasileira de Letras, ao lado do Presidente Castelo Branco [...] aproveitei a vizinhança [...] para lhe sugerir, teimosamente, a criação [do órgão].1
Não é à toa que os elementos fortes do pensamento do CFC eram os da mestiçagem, da tradição e do popular, pois, diante da indiscutível variedade regional, a saída foi apontar esses valores como emblemas da diversidade na unidade nacional. A região, longe de ser negada, passou mesmo a ser valorizada e a ter o status de uma “filosofia social”, como aponta Renato Ortiz (1985). Nesse contexto, sobressai o Nordeste como pretenso berço das mais autênticas manifestações da cultura brasileira, em mais um recurso metonímico do poder simbólico. 3. Uma hipótese e uma questão Diante do contexto esboçado acima, é factível propor como hipótese que, historicamente, há no Nordeste um ambiente favorável, de um lado, à criação de espaços institucionais para as políticas culturais, e de outro, ao estabelecimento de relações pouco republicanas entre o Estado e a cultura, baseadas no intimismo e no clientelismo entre intelectuais e políticos, e materializadas em políticas de “balcão”. Partindo do pressuposto de que essa hipótese é verdadeira, uma questão, entre outras, se coloca: como reagiu essa região diante das políticas culturais promovidas pelo Ministério da Cultura (MinC) a partir da gestão do ministro baiano Gilberto Gil, em 2003? A pergunta
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
tem pertinência porque, como é sabido por todos(as) que acompanham essa área, há um esforço por parte de Gil e sua equipe em transformar a cultura em objeto de políticas de Estado, e não só de governo, a partir da lógica federalista – com o Plano Nacional de Cultura (PNC) e o Sistema Nacional de Cultura (SNC), por exemplo – e da participação social possibilitada por conferências, consultas públicas, câmaras setoriais e conselho de cultura paritário e deliberativo, entre outros instrumentos de governança (BARBALHO; BARROS; CALABRE, 2013; BARBALHO; CALABRE; RUBIM, 2015; BARBALHO; RUBIM, 2007; RUBIM, 2010). Para ensaiar uma resposta à questão – e trata-se somente disto mesmo, um ensaio –, vale a pena recorrer aos dados disponibilizados pelo Índice de Gestão Municipal em Cultura e pelos Suplementos de Cultura da Pesquisa de Informações Básicas Estaduais (Estadic) 2014 e da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic) 2014, do IBGE. Ainda que defasados, é o que existe de mais atualizado sobre o setor, que só muito recentemente tem sido objeto de atenção por parte dos formuladores oficiais de estatísticas. 4. O que dizem os dados No esforço de obtenção de informações e construção de índices balizadores para as políticas culturais, Rogério Miranda (2009), pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), desenvolveu o Índice de Gestão Municipal em Cultura (IGMC). Trata-se de um primeiro índice estatístico na área, que possibilitou ranquear os municípios brasileiros em relação ao quesito gestão cultural recorrendo às informações disponibilizadas
Alexandre Barbalho
pelo Suplemento de Cultura da Munic 2006. Ainda que seja um indicador limitado – aliás, como todos os indicadores; o MinC (BRASIL, 2010), em seu documento fundante sobre o SNC, por exemplo, recomenda a combinação do IGMC com outros indicadores, como os índices educacionais, sociais, econômicos etc. –, é importante retomá-lo no sentido de trazer elementos que possam esclarecer a configuração das políticas culturais nordestinas nos últimos 15 anos. O IGMC é subdividido em outros índices mais específicos: o primeiro é o de Fortalecimento Institucional e Gestão Democrática. Como situa Miranda, esse índice leva em consideração que “a existência de instituições que preservem a prioridade do setor através de várias administrações é um fato positivo para a gestão cultural, pois favorece a continuidade e o seu crescimento”, bem como “o princípio de que, quanto mais a população participa das decisões de gestão, mais efetiva será a ação em prol da cultura no município” (MIRANDA, 2009, p. 2). O segundo é o Índice de Infraestrutura e Recursos Humanos. E, por fim, o Índice de Ação Cultural, que, diferentemente dos anteriores, voltados para os meios, mensura a oferta no setor por parte do município. De acordo com o Índice de Fortalecimento Institucional e Gestão Democrática, nenhum município nordestino estava entre os dez mais bem avaliados no ano de 2006. Contudo, em termos de estado, o Ceará estava em quinto lugar, atrás de Distrito Federal, Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Também não havia qualquer município nordestino entre os dez primeiros classificados, segundo o Índice de Infraestrutura e Recursos Humanos. Mas o estado da Bahia,
201
202
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
apesar de não fazer parte do grupo com as então se a esse dado se combinam outros que melhores médias, possuía mais de 50% dos possam apontar para uma nova realidade. seus municípios com valores acima da média Quando se trata de publicizar e tornar nacional para esse índice. mais ágil o acompanhamento das políticas, Quanto ao Índice de Ação Cultural, Re- os órgãos gestores da cultura nos estados cife liderava o ranking, no entanto, sendo a nordestinos não se destacam, pois apenas única cidade nordestina a fazer parte do gru- cinco (Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alapo das dez melhores. Por sua vez, quando se goas e Bahia) utilizavam sistemas informaolha o conjunto dos municípios dos estados, tizados de gerenciamento, e nenhum deles Ceará e Pernambuco estão entre os cinco tinha instalada a total capacidade operativa mais pontuados. Por fim, endefinida pelo IBGE em seis tre os dez municípios com os Entre os dez municípios funcionalidades: 1. Cadastracom os maiores valores maiores valores no IGMC, Remento de projetos culturais, no IGMC, Recife aparece cife aparece na quarta colocapelos agentes, para solicitação na quarta colocação, ção, com 172,86 [para efeito com 172,86 [para efeito de apoio; 2. Acompanhamende comparação, Caxias do Sul de comparação, Caxias to da execução dos projetos (RS) estava em primeiro, com do Sul (RS) estava em cadastrados; 3. Cadastro de 179,51]. Quando se restringe o primeiro, com 179,51]. agentes e objetos culturais; 4. índice somente às capitais, RePlanejamento orçamentário cife sobe para primeiro no ranking do IGMC e da política de cultura; 5. Gestão do patrimôTeresina aparece na nona colocação. nio cultural; e 6. Gestão de equipamentos Vamos agora para um conjunto de dados culturais. A ausência geral se refere ao item mais recentes formado pelo Suplemento da 4, exatamente o mais nevrálgico, por tratar Estadic e da Munic de 2014. Comecemos com da forma como os recursos são aplicados. informações que se relacionam com o ÍndiComo contraponto ao contexto da gesce de Fortalecimento Institucional e Gestão tão estadual, Pernambuco (16,8%) e Ceará Democrática. No que diz respeito à gestão, o (15,2%) estão entre os sete estados brasileiSuplemento informa que, em 2014, todos os ros que contavam com a maior quantidade estados nordestinos possuíam algum órgão de municípios com sistemas de informatizagestor específico para a cultura, a despeito da ção, e o segundo se destaca entre aqueles com diversidade de formatos (secretaria, fundação maior proporção de municípios com páginas etc.). Quando se observa a realidade munici- de conteúdo exclusivo do órgão gestor de culpal, o Maranhão, entre os estados brasileiros, tura, com 14,3%. apresenta a maior proporção de municípios Outro ponto importante para o melhor com estrutura organizacional exclusiva para a desempenho da política pública se refere política cultural (62,8%). Com certeza, a exis- à capacitação de seus gestores. Esse foi um tência de secretaria ou fundação de cultura item alvo de grande investimento por parte não garante a efetividade da política e muito do MinC, no esforço de implantação do SNC, menos o seu caráter republicano. Vejamos a partir principalmente do segundo governo
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
Alexandre Barbalho
Lula. Entre 2009 e 2010, a Secretaria de ArtiAinda no quesito formação, agora volculação Institucional (SAI) do Ministério ela- tada para os setores da cultura, todos os esborou o Programa de Formação de Gestores tados promoveram cursos em alguma das 13 Culturais, cujo Curso Piloto de Gestão Cultu- categorias consideradas pelo IBGE: música; ral ocorreu em Salvador. Logo na sequência, artes plásticas; teatro; gestão cultural; dança; em 2012, a Fundação Joaquim Nabuco, em patrimônio, conservação e restauração; maparceria com o MinC e a Universidade Federal nifestações tradicionais populares; cinema; Rural de Pernambuco, ofertou o primeiro cur- literatura; vídeo; circo; artesanato; e fotograso de especialização em formação de gestores fia. Pernambuco foi o único estado do país culturais dos estados do Nordeste. que afirmou promover capacitação em todas Em grande parte como as áreas, e o Ceará ocupava a Em grande parte como desdobramento da atuação do quarta colocação, com 53,3% desdobramento da Governo Federal, todos os es- atuação do Governo entre os cinco estados onde tados nordestinos ofereceram Federal, todos os mais da metade de seus munialgum tipo de formação para estados nordestinos cípios ofereceram algum curso. seus servidores na área da cul- ofereceram algum tipo Quanto ao esforço de tura, ainda que nenhum tenha de formação para seus transformar a política cultuatuado nos sete temas estabe- servidores na área ral em política de Estado, um da cultura. lecidos pelo IBGE: 1. Curso de dado importante se refere aos elaboração e gestão de projeplanos. Nesse ponto, todos os tos; 2. Curso de gestão cultural; 3. Curso de estados nordestinos estavam com seu plaeditais; 4. Curso de capacitação tecnológica e no de cultura em elaboração em distintos administrativa; 5. Curso de leis de incentivo; estágios. A exceção da região e do país era 6. Curso de captação de recursos; 7. Curso de Alagoas, que já tinha o seu formalizado e regestão de equipamentos culturais. gulamentado por instrumento legal. Os cursos mais ofertados estão inseridos Por sua vez, no que diz respeito aos oito nos itens 1, 5 e 6, de perfis mais tradicionais, objetivos das políticas culturais estabeleciorientados muitas vezes pela lógica das leis das pelo IBGE (1. Preservar o patrimônio de incentivo à cultura. São formações ofereci- histórico, artístico e cultural; 2. Tornar a das tanto pelo poder público quanto pelo setor cultura um dos componentes básicos para a privado, desde a criação da Lei Sarney, com qualidade de vida da população; 3. Democraincremento na gestão de Francisco Weffort tizar a gestão cultural; 4. Integrar a cultura no MinC (1995-2002), quando se legitimou ao desenvolvimento local; 5. Dinamizar as a figura do captador de recursos. O menos atividades culturais do estado; 6. Garantir ofertado foi o item 7 (apenas Piauí e Bahia), a sobrevivência das tradições culturais loo que pode ser indício da pouca presença de cais; 7. Descentralizar a produção cultural; equipamentos públicos de cultura sob respon- 8. Ampliar o grau de participação social nos sabilidade do órgão gestor estadual ou da falta projetos culturais), o Piauí foi o único estado de profissionalização na sua gestão. nordestino a listar todos eles.
203
204
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
É revelador de um novo momento das a atuação dos conselheiros basicamente se políticas culturais na região que o objetivo resume a se pronunciar, a emitir pareceres e, mais citado não tenha sido o de preservação em menor escala, a elaborar e aprovar planos do patrimônio nem o de garantir as tradições e propor, avaliar e referendar projetos cultuculturais – temas que marcaram as políticas rais. Funções estratégicas, como administrar culturais nordestinas e brasileiras em tem- o fundo de cultura ou atuar nos temas referenpos anteriores –, mas o de democratizar a tes aos convênios, principal via de repasse de gestão cultural. recursos para a sociedade civil, estão quase ou Um item fundamental para a questão mesmo totalmente ausentes no cotidiano dos que estamos enfrentando diz respeito à exis- conselheiros de cultura. tência, ao tipo e ao funcionamento de conseAnalisando-se as respostas dos estados lhos de cultura. De acordo com a Tabela 1, nordestinos quanto à conferência de cultura, todos os estados nordestinos não só possuem todos já haviam realizado conferências, e no conselhos, como esses são ou paritários ou Piauí, Ceará, Paraíba, Alagoas e Bahia elas com maior quantidade de conselheiros re- estavam previstas por lei. No âmbito municipresentando setores da sopal, 2.793 municípios tinham ciedade civil. Dessa forma, É revelador de um realizado suas conferências, superou-se, pelo menos for- novo momento das sendo que em 811 havia previpolíticas culturais na malmente, o conselho “chapa são em lei para a realização. O branca”, no qual predominava região que o objetivo Nordeste foi a região que apremais citado não tenha o número de representantes sentou o maior porcentual de sido o de preservação governamentais e não se atuamunicípios com conferências do patrimônio nem va, assim, como espaço de me- o de garantir as já realizadas (64,4%, sendo diação entre o poder público e tradições culturais, mas que 18,7% estavam previstas os cidadãos. por lei). Para se ter uma ideia o de democratizar a É igualmente relevante gestão cultural. do alcance desse dado, na Reque quase todos, com exceção gião Sul, segunda colocada, do Piauí, não se restrinjam mais ao papel a porcentagem foi de 46,6%, portanto bem limitado de assessorar o gestor quando abaixo da realidade nordestina. Entre os seis consultado, mas que deliberem sobre a estados que tinham mais de 80,0% dos mupolítica a ser implementada pelo Poder Exe- nicípios com conferências realizadas estão cutivo. Há ainda que avançar no que se refere o Ceará (88,0%, 162 municípios) e a Bahia aos conselhos assumirem caráter normativo (84,9%, 354 municípios). e fiscalizador, mas os números apontam uma Quanto ao fomento ou apoio a iniciatisituação de relativo equilíbrio, sendo que Ma- vas específicas para o campo da diversidade ranhão, Paraíba e Pernambuco possuem con- cultural, também um indicador importante selhos que reúnem as quatro características. no que se refere à democratização da ação Também é preciso ampliar as atribuições do Estado na cultura, todos os estados nordesses conselhos. Como indica a Tabela 2, destinos possuem políticas com esse fim. O
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
destaque é o Rio Grande do Norte, que só não atende a um – o de “pessoa com deficiência” – dos 13 segmentos listados pelo IBGE, vindo atrás apenas de São Paulo, que atende a todos. Os outros segmentos são: culturas populares; comunidades indígenas; comunidades afro-religiosas; comunidades quilombolas; crianças e adolescentes; jovens; outras comunidades tradicionais; comunidade LGBTT; mulheres; idosos; comunidades de descendentes de nacionalidades estrangeiras; comunidades ciganas. 5. Algumas considerações finais A partir dos dados apresentados acima é factível afirmar que a política cultural no Nordeste se assenta hoje em patamar diferente daquele que vigorou entre os anos 1960 e 1990, no qual predominava, de um lado, a atuação de intelectuais renomados e próximos ao poder político vigente e, de outro, uma atuação com vistas a expressões eruditas e à valorização do popular. Observa-se um esforço de institucionalizar a relação do governo no campo cultural recorrendo a diversos instrumentos de gestão pública, como planos, conselhos, fundos, conferências e, de forma democrática, valorizando a participação da sociedade civil, mais especificamente dos agentes do campo cultural. Percebe-se que, entre a divulgação dos resultados do IGMC, baseados em dados de 2006 – em que os estados nordestinos não tiveram muito destaque no cenário nacional, a não ser, em determinados quesitos, Ceará, Bahia e Pernambuco (nos Índices de Fortalecimento Institucional e Gestão Democrática e de Ação Cultural) –, e a do Suplemento da
Alexandre Barbalho
Estadic e da Munic de 2014, ocorreu o fortalecimento desse processo. A existência generalizada de órgãos gestores exclusivos para a área, alguns deles com sistemas informatizados de gerenciamento – contando com gestores capacitados, conselhos paritários e deliberativos, planos e conferências participativas –, entre outros sinalizadores, aponta para um novo modus operandi das políticas culturais nordestinas. Talvez a melhor expressão da nova composição de forças seja a afirmação dos valores da participação, da democracia e da institucionalização por parte dos gestores estaduais de cultura nos períodos imediatamente anterior e posterior à realização da III Conferência Nacional de Cultura, entre 27 de novembro e 1 de dezembro de 2013, que envolveu milhares de pessoas nas conferências municipais e estaduais que a antecederam em todo o país. Para encerrar, vejamos algumas destas falas das quais destaquei algumas passagens em itálico. Segundo o então secretário de Estado da Cultura de Alagoas, Osvaldo Viégas, a III Conferência Estadual foi “um momento de interlocução entre poder público e sociedade civil no intuito de estabelecer diretrizes para o desenvolvimento da cultura em Alagoas”.2 Por sua vez, a secretária de Estado da Cultura de Sergipe, Eloísa Galdino, defendeu que “as conferências municipais visam a mobilização das comunidades para o debate e a proposição de políticas de cultura junto a representantes do poder público”, favorecendo a “participação intensa e coletiva dos agentes de cultura, com base em uma visão diferenciada sobre como construir políticas públicas para esta área”.3
205
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
206
TABELA 1 ESTADOS DO NORDESTE COM CONSELHO DE CULTURA, POR ALGUMAS CARACTERÍSTICAS (2014)
ESTADO
COMPOSIÇÃO
CARÁTER CONSULTIVO
CARÁTER DELIBERATIVO
CARÁTER NORMATIVO
Maranhão
Paritário
Sim
Sim
Sim
Piauí
Maior representação da sociedade civil
Sim
Não
Não
Ceará
Maior representação da sociedade civil
Não
Sim
Não
Rio Grande do Norte
Maior representação da sociedade civil
Sim
Sim
Não
Paraíba
Paritário
Sim
Sim
Sim
Pernambuco
Maior representação da sociedade civil
Sim
Sim
Sim
Alagoas
Paritário
Sim
Sim
Não
Sergipe
Maior representação da sociedade civil
Sim
Sim
Não
Bahia
Maior representação da sociedade civil
Sim
Sim
Sim
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de Informações Básicas Estaduais 2014.
TABELA 2: ESTADOS DO NORDESTE, POR ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO DE CULTURA (2014)
ELABORAR E APROVAR PLANOS DE CULTURA
ACOMPANHAR E AVALIAR A EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS CULTURAIS
FISCALIZAR O CUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES E INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO DA CULTURA
PROPOR, AVALIAR E REFERENDAR PROJETOS CULTURAIS
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Piauí
Não
Sim
Não
Não
Sim
Ceará
Sim
Não
Sim
Não
Não
Rio Grande do Norte
Sim
Não
Não
Não
Sim
Paraíba
Não
Sim
Não
Sim
Não
Pernambuco
Sim
Sim
Não
Não
Não
Alagoas
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sergipe
Sim
Não
Não
Não
Sim
Bahia
Sim
Não
Sim
Não
Não
ESTADO
PRONUNCIARSE E EMITIR PARECER SOBRE ASSUNTOS DE NATUREZA CULTURAL
Maranhão
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais, Pesquisa de Informações Básicas Estaduais 2014.
Alexandre Barbalho
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
CARÁTER FISCALIZADOR
ESCOLHA DOS INTEGRANTES DA SOCIEDADE CIVIL
QUANTIDADE DE REUNIÕES NOS ÚLTIMOS 12 MESES
CONSELHEIROS SÃO REMUNERADOS
Não
Indicação do poder público e da sociedade civil
4
Não
Não
Indicação do poder público e da sociedade civil
48
Sim
Não
Indicação do poder público e da sociedade civil
6
Não
Sim
Indicação do poder público e da sociedade civil
80
Sim
Sim
Indicação da sociedade civil
12
Não
Sim
Indicação do poder público
96
Sim
Não
Indicação do poder público e da sociedade civil
6
Não
Não
Indicação do poder público
44
Sim
Não
Outra forma de escolha
24
Não
FISCALIZAR AS ATIVIDADES DO ÓRGÃO GESTOR DA CULTURA
APRECIAR E APROVAR NORMAS E DIRETRIZES DE FINANCIAMENTO DE PROJETOS
FISCALIZAR AS ATIVIDADES DE ENTIDADES CULTURAIS CONVENIADAS COM A GESTÃO ESTADUAL
Sim
Sim
Não Sim
ADMINISTRAR O FUNDO ESTADUAL DE CULTURA
ELABORAR NORMAS E DIRETRIZES PARA CONVÊNIOS CULTURAIS
APRECIAR E APROVAR NORMAS PARA CONVÊNIOS CULTURAIS
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
207
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
208
A secretária de Estado da Cultura do Maranhão, Olga Simão, falando dos mais de 120 municípios que realizaram as conferências municipais no seu estado, avaliou que “impõe-se às instituições e à sociedade civil o dever de caminhar juntas para que o fazer cultural seja também o esforço de criar condições, facilitar e assegurar a manutenção dos valores que convivemos, enfim, de pensar uma política de Estado para a cultura com a participação de todos”. Para o secretário de Estado da Cultura da Paraíba, Chico César, a Conferência Estadual foi positiva “por aproximar Governo e agentes culturais, poder público e sociedade civil”.4 O processo das conferências, de elaboração dos planos e da criação dos conselhos de cultura se dá de forma coletiva e com participação da sociedade, o que reforça “a legitimidade e a necessidade dessas alterações” e “o conjunto dos cidadãos, de uma forma democrática e transparente”, como avaliou o secretário de Cultura do Ceará, Paulo Mamede.5 O que os secretários afirmam, portanto, é a elaboração da política cultural como resultado da relação imprescindível entre Estado e sociedade civil, e não mais a partir das decisões dos intelectuais renomados fechados em gabinetes com os gestores públicos. Agora, pode-se afirmar, são outros os tempos. E que perdurem.
Alexandre Barbalho É doutor em comunicação e cultura contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Professor dos programas de pós-graduação em sociologia e em políticas públicas da Universidade Estadual do Ceará (Uece) e do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará (UFC). Líder do Grupo de Pesquisa em Políticas de Cultura e de Comunicação – CULT.COM. Autor e organizador de diversos livros e artigos, entre os quais Política Cultural e Desentendimento (Ibdcult, 2016).
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
Alexandre Barbalho
Referências BARBALHO, Alexandre; BARROS, José Márcio; CALABRE, Lia (Org.). Federalismo e políticas culturais no Brasil. Salvador: Edufba, 2013. BARBALHO, Alexandre; CALABRE, Lia; RUBIM, Albino (Org.). Políticas culturais no governo Dilma. Salvador: Edufba, 2015. BARBALHO, Alexandre; RUBIM, Albino (Org.). Políticas culturais no Brasil. Salvador: Edufba, 2007. BRASIL. Ministério da Cultura. Estruturação, institucionalização e implementação do Sistema Nacional de Cultura. Brasília: MinC, 2010. IBGE. Perfil dos estados e dos municípios brasileiros de 2014. Rio de Janeiro: IBGE, 2015. MIRANDA, Rogério. Índice de gestão municipal em cultura. In: V Encontro de Estudos Multidisciplinares em Cultura (Enecult). Anais. Salvador: Edufba, 2009. Disponível em: <http://www.cult.ufba.br/enecult2009/19406-3.pdf>. Acesso em: 30 jul. 2018. ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo: Brasiliense, 1985. RUBIM, Albino (Org.). Políticas culturais no governo Lula. Salvador: Edufba, 2010.
Notas 1
O Povo, 22 mar. 1975, p. 18.
2
Disponível em: <http://primeiraedicao.com.br/noticia/2013/08/30/iv-conferenciaestadual-de-cultura-e-aberta-e-maceio>. Acesso em: 5 dez. 2018.
3
Disponível em: <http://www.cultura.gov.br/banner-3/-/asset_publisher/ axCZZwQo8xW6/content/conferencias-nos-estados/10883>. Acesso em: 5 dez. 2018.
4
Disponível em: <http://paraiba.pb.gov.br/conferencia-estadual-apresentaresultados-positivos-para-o-setor-de-cultura/>. Acesso em: 5 dez. 2018.
5
Disponível em: <https://www.secult.ce.gov.br/2014/03/06/aprovada-nova-lei-doconselho-estadual-de-politica-cultural/>. Acesso em: 5 dez. 2018.
209
210
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
Alexandre Barbalho
211
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
212
UM DEDO ACIMA DO CHÃO:
ENCANTO E PRODUÇÃO CULTURAL COMO ATALHO PARA A SUSTENTABILIDADE SERTANEJA Alemberg Quindins
Este artigo propõe a potencialização da sustentabilidade sertaneja a partir do diálogo com seus mitos, entre eles os das águas e das pedras. O autor observa que os modos de produção contemporâneos permitem abordagens “encantadas” com a adoção de novas linguagens e o uso adequado das tecnologias.
S
ão dois os territórios dos mitos: um deles fica no chão, o outro está um dedo acima da terra. Esse território fincado no chão é o espaço que os mitos, que estão um dedo acima do chão, descem para habitar. A ocupação do sertão se dá por meio de dois pontos mitológicos: as águas e as pedras. As águas são ligadas ao mito da mãe d’água, que remete à vida, ao povoamento, à fauna. Já o mito das pedras está ligado ao castelo encantado. Essas duas esferas dialogam através do encanto. Todos os rios do sertão estão ligados ao mito da mãe d’água, que tem os caldeirões, os boqueirões e as camas da mãe d’água. No território sertanejo, a água já é, ela mesma,
encantada, por causa de sua escassez constante. Um rio passa a maior parte do tempo seco e, quando vem o inverno, voltam todos os peixes. Às margens dos rios, os animais matam a sede, então a caça também está atrelada à água. Quem cuida de tudo isso é a mãe d’água, que faz a maestria desse repovoamento da vida reportando-se a uma princesa encantada na forma de serpente. Uma vez por outra, a princesa se desencanta e as pessoas voltam a vê-la. Nas pinturas rupestres do Nordeste, quando se vê uma serpente, é símbolo de água, esse bem precioso da vida que some e volta trazendo repovoamento. Já o mito das pedras está ligado às formações rochosas que falam de um reino que
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
existiu e se encantou, em cujo centro existia um lago. Esse reino encantado aparece e desaparece, e quem adentrá-lo precisa sair em tempo ou se encantará lá dentro. Os portugueses já encontraram o sertão assim, encantado. Mais tarde, com o início do ciclo do couro no Nordeste, surgem novos encantamentos, como o mito do boi aruá, que vaqueiro nenhum pegava. O encanto sertanejo engole tudo: cidades, reinados, princesas. A boca do sertão é o encanto, que tudo degusta e devolve como cultura. A palavra sertão tem uma ligação muito forte com a palavra encanto. Todo sertão, para ser sertão, tem que ser encantado. O sertão é um portal para o encanto e é imaterial, embora haja um local físico para ele. Todos os mitos descem do sertão para o encanto. O sertão é a morada dos mitos. Esse encantamento pode criar caminhos outros para o desenvolvimento. A princípio, o encanto está no nível imaterial, mas, quando se transforma em produto cultural, temos desenvolvimento. Veja o Velho Oeste americano: um período curto das fronteiras da habitação que o cinema transformou em encanto, gerando produtos que até hoje alimentam uma cadeia cinematográfica, um segmento da arte. Se há profundidade de conteúdo, é possível gerar desenvolvimento a partir dos mitos. Aliás, os mitos são a fonte que alimenta a produção cultural sertaneja, da música de Luiz Gonzaga à literatura de Augusto dos Anjos e Zé Limeira. Dos mitos pode brotar o desenvolvimento local, com museus e produtos culturais que permitam desenvolver o sertão a partir de quem cantou sua mitologia. E a partir de produtores culturais, que,
Alemberg Quindins
por sua vez, também se avultam em mitos. Outro dia ouvi alguém dizer que Luiz Gonzaga cantava feito um vendedor de jerimum na feira. E não é que se transformou em desenvolvimento esse canto? A Fundação Casa Grande, onde trabalho, fica na casa que deu origem à cidade de Nova Olinda, no Ceará. Essa casa, tida por assombrada, foi restaurada para cumprir a missão de alavancar o desenvolvimento local como veículo cultural. Até hoje, a casa pode dormir aberta que ninguém entra, por acreditar-se que ali vivem fantasmas. Ou seja, o espaço continuou mitológico, apesar do seu novo papel. Na Mãe d’Água, também em Nova Olinda, há um parque com formação rochosa do período Cretáceo. Um lugar ideal para ser tombado – por ter esculturas rochosas – e, a partir disso, desenvolverem-se produtos ligados à mitologia local. Em Nova Olinda, a partir do encontro com o seleiro e o vaqueiro, desenvolvemos um produto de design altamente estilizado, centrado no ciclo do couro e em um mestre local. Por isso, esse produto deu certo. O desenvolvimento pede origem, profundidade e conteúdo, e o sertão conta com esses elementos. Aprofundados, mitos podem se transformar em quadrinhos, em cinema, em produtos, em todo um mercado cultural. Hoje, no geral, estamos vivendo um encantamento mercadológico, mas haverá um futuro em que produtos locais e exclusivos terão mais valor do que produtos de grandes marcas. Os mitos sertanejos já trazem consigo a própria ideia de sobrevivência, desde esses rios que secam e que voltam a se encher. Minha intenção de formar jovens sertanejos em linguagens contemporâneas já
213
214
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
foi interpretada como um potencial incentiAssim, universos paralelos existem. vador de êxodo rural, por supostamente não Quando se conta a lenda de uma serpente haver mercado de trabalho local. Mas houve que se transformou em mulher, isso é algo uma mudança de modos de produção e a mi- que se pode construir dependendo do domígração também se encantou. Eu sou filho de nio da tecnologia. Então devemos discutir retirante. Fui embora do Ceará para Goiás para que essa tecnologia seja apropriada em com 9 anos e só voltei com 18. Em Goiás, meu todos os cantos, seja no sertão, seja na 7th pai chamava todo cearense de conterrâneo Avenue. Nossa biblioteca universal é esse e nós lhe pedíamos a benção. As condições reino encantado, onde bebemos e de onde financeiras e a falta de chuva até hoje geram trazemos os mitos, os personagens que pocorrentes migratórias que levam o sertanejo dem virar produtos culturais. Por que o povo a sair. Sertanejos povoaram a Amazônia, as americano conseguiu fazer o faroeste e não fronteiras, estabeleceram-se nas cidades do conseguimos fazer isso com o cangaço, que Sudeste. Hoje, posso participar de uma confe- tem toda uma ambiência, território e vestuárência em Londres sentado em São Paulo. As rio característicos? migrações não são mais aquelas É que ainda precisamos de que ocorriam em paus de arara. O mito pode se acessibilidade. Os meninos do O mundo é um imenso êxodo. relacionar com sertão precisam ter conteúdo Cada vez mais, o merca- turismo, teatro, e tecnologia para transformar do funciona por meio de apli- educação, museologia. mitos em produtos culturais. cativos. A tecnologia reforçou A produção cultural Em Nova Olinda, transformapode acontecer em possibilidades encantadas. Fui mos uma casa em ruínas em a um aniversário de criança e cadeia, com vários museu, mantivemos o mito dela segmentos em diálogo. comprei o presente via intere criamos lá dentro projetos de net; quando cheguei na festa, o turismo comunitário, de comubrinquedo já estava lá. Esse presente, de certa nicação social, de educação patrimonial, de forma, veio do reino encantado, a tecnologia biblioteconomia. Em todas essas áreas, há profez surgir ali o mito do brinquedo. A música fissões. Assim geramos, para uma cidade de 15 já não está mais em discos, e sim no ar. Esta- mil habitantes, uma visitação anual de 70 mil mos voltando para a tradição oral de maneira pessoas. Criamos restaurantes temáticos que inesperada. Antigamente, era preciso ter uma contam a história local, que antes era invisível. estante cheia de livros para adquirir conheciProdutos culturais geram sustentabimento. E vai chegar o dia em que será inviável lidade a partir da habilidade de descrever uma universidade física, e professores encan- a cultura local de uma forma qualificada e tados vão produzir suas aulas em estúdios. digna. E, como canta Raul Seixas, a gente ainSe eu contar do boi aruá, alguém pode dizer da nem começou. O mito pode se relacionar que é mentira, mas, se eu disser que participo com turismo, teatro, educação, museologia. A de uma conferência estando em outro lugar, produção cultural pode acontecer em cadeia, hoje se acredita. com vários segmentos em diálogo.
Alemberg Quindins
POLÍTICAS CULTURAIS & MODELOS SUSTENTÁVEIS
A Fundação Casa Grande é um laboratório nesse sentido. Temos, por exemplo, um jovem que é produtor cultural, cuja mãe é dona de uma pousada domiciliar e que tem um amigo que é dono de um café e outro que tem uma empresa de turismo. Atualmente, estamos formatando o projeto Museus Orgânicos, que dará aos visitantes a chance de vivenciarem a história local dentro das casas das pessoas, enquanto espaços de memórias. Será possível, por exemplo, visitar a casa de um chef, ser recepcionado por sua família e viver ali uma experiência gastronômica. Minha guerrilha é não me contentar em ser turista no meu próprio país. Em cada bioma brasileiro por onde passo, vejo um potencial enorme e uma destruição crescente. Quando uma máquina derruba uma mata, ali se vão os mitos locais. Não há mais habitação para a caipora, para o saci. E passamos a consumir halloween. Sem regionalismo ou bairrismo, há um universo de produtos culturais brasileiros, sertanejos, que ainda precisamos aprofundar, desenvolver e vender. É importante ressaltar que a infância no Brasil ainda é muito mal aproveitada, é preciso aproximar mais as crianças desse conteúdo. Em vez de se estar discutindo a maioridade penal, por que não se discute a partir de quando um jovem é capaz de influenciar sua comunidade? A partir de que idade ele contribui com sua inteligência? Discutimos a idade mínima para votar, para ser preso, para dirigir. Mas não discutimos a necessidade de tratar uma criança com respeito, de ouvi-la. A experiência em Nova Olinda mostra que uma criança que cresceu em meio a um acervo musical de qualidade pode se tornar um cidadão brasileiro capaz
de falar sobre música em uma rádio, por exemplo. Pode contribuir. Os pilares de um país são as instituições e suas políticas, e o conjunto de instituições brasileiras, hoje, não dialoga em torno de integridade nacional. Esse diálogo é necessário a fim de que o conteúdo mitológico possa enfim alavancar desenvolvimento de forma efetiva. A cultura de cada lugar, na prática, é o que faz a nação. E ainda precisamos conhecer, produzir e consumir a cultura que temos. Precisamos saber o que queremos e reconhecer o valor que temos. Patativa do Assaré dizia que, para onde olhava, via “um verso se bulindo”. É esse olhar que precisamos exercitar na direção da sustentabilidade sertaneja. É necessária uma política nacional que encontre um rumo só, uma direção mais certa. A criatividade brasileira é uma fonte inesgotável de soluções. Construir essa nação não demanda mais horas de trabalho, e sim mais tempo para desenvolver esse enorme potencial criativo.
Alemberg Quindins É músico de formação popular e historiador autodidata. Em 1992, restaurou a primeira casa-grande da fazenda que deu origem ao município de Nova Olinda, no Ceará, e criou a Fundação Casa Grande – Memorial do Homem Kariri, uma organização social que tem como missão ser um lugar de vivência em gestão cultural e social para crianças e jovens.
215
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
216
COLEÇÃO OS LIVROS DO OBSERVATÓRIO
A Singularidade Está Próxima Raymond Kurzweil
A Economia Artisticamente Criativa Xavier Greffe
A Máquina Parou E. M. Forster
O Lugar do Público Jacqueline Eidelman, Mélanie Roustan e Bernardette Goldstein
Com o Cérebro na Mão Teixeira Coelho
Identidade e Violência: a Ilusão do Destino Amartya Sen
SERTÕES: IMAGINÁRIOS, MEMÓRIAS E POLÍTICAS
As Metrópoles Regionais e a Cultura: o Caso Francês, 1945-2000 Françoise Taliano-des Garets
Cultura e Estado. A Política Cultural na França, 1955-2005 Teixeira Coelho
Afirmar os Direitos Culturais – Comentário à Declaração de Friburgo Patrice Meyer-Bisch e Mylène Bidault
Cultura e Educação Teixeira Coelho (org.)
Arte e Mercado Xavier Greffe
Saturação Michel Maffesoli
217
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
218
O Medo ao Pequeno Número Arjun Appadurai
Leitores, Espectadores e Internautas Néstor García Canclini
A Cultura e Seu Contrário Teixeira Coelho
A República dos Bons Sentimentos Michel Maffesoli
A Cultura pela Cidade Teixeira Coelho (org.)
Cultura e Economia Paul Tolila
SERTÕES: IMAGINÁRIOS, MEMÓRIAS E POLÍTICAS
SÉRIE RUMOS PESQUISA Os Cardeais da Cultura Nacional: o Conselho Federal de Cultura na Ditadura CivilMilitar − 1967-1975 Tatyana de Amaral Maia
Por uma Cultura Pública: Organizações Sociais, Oscips e a Gestão Pública Não Estatal na Área da Cultura Elizabeth Ponte
Discursos, Políticas e Ações: Processos de Industrialização do Campo Cinematográfico Brasileiro Lia Bahia
A Proteção Jurídica de Expressões Culturais de Povos Indígenas na Indústria Cultural Victor Lúcio Pimenta de Faria
219
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
220
AS REVISTAS
Revista Observatório Itaú Cultural No 24 – Arte, Cultura e Educação na América Latina
Revista Observatório Itaú Cultural No 21 – Política, Transformações Econômicas e Identidades Culturais
Revista Observatório Itaú Cultural No 23 – Economia da Cultura: Estatísticas e Indicadores para o Desenvolvimento
Revista Observatório Itaú Cultural No 20 – Políticas Culturais para a Diversidade: Lacunas Inquietantes
Revista Observatório Itaú Cultural No 22 – Memórias, Resistências e Políticas Culturais na América Latina
Revista Observatório Itaú Cultural No 19 – Tecnologia e Cultura: uma Sociedade em Redes
SERTÕES: IMAGINÁRIOS, MEMÓRIAS E POLÍTICAS
Revista Observatório Itaú Cultural No 18 – Perspectivas sobre Política e Gestão Cultural na América Latina
Revista Observatório Itaú Cultural No 15 – Cultura e Formação
Revista Observatório Itaú Cultural No 17 – Livro e Leitura: das Políticas Públicas ao Mercado Editorial
Revista Observatório Itaú Cultural No 14 – A Festa em Múltiplas Dimensões
Revista Observatório Itaú Cultural No 16 – Direito, Tecnologia e Sociedade: uma Conversa Indisciplinar
Revista Observatório Itaú Cultural No 13 – A Arte como Objeto de Políticas Públicas
221
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
222
Revista Observatório Itaú Cultural No 12 – Os Públicos da Cultura: Desafios Contemporâneos
Revista Observatório Itaú Cultural No 9 – Novos Desafios da Cultura Digital
Revista Observatório Itaú Cultural No 11 – Direitos Culturais: um Novo Papel
Revista Observatório Itaú Cultural No 8 – Diversidade Cultural: Contextos e Sentidos
Revista Observatório Itaú Cultural No 10 – Cinema e Audiovisual em Perspectiva: Pensando Políticas Públicas e Mercado
Revista Observatório Itaú Cultural No 7 – Lei Rouanet. Contribuições para um Debate sobre o Incentivo Fiscal para a Cultura
SERTÕES: IMAGINÁRIOS, MEMÓRIAS E POLÍTICAS
Revista Observatório Itaú Cultural No 6 – Os Profissionais da Cultura: Formação para o Setor Cultural
Revista Observatório Itaú Cultural No 3 – Valores para uma Política Cultural
Revista Observatório Itaú Cultural No 5 – Como a Cultura Pode Mudar a Cidade
Revista Observatório Itaú Cultural No 2 – Mapeamento de Pesquisas sobre o Setor Cultural
Revista Observatório Itaú Cultural No 4 – Reflexões sobre Indicadores Culturais
Revista Observatório Itaú Cultural No 1 – Indicadores e Políticas Públicas para a Cultura
223
224
OBSERVATÓRIO ITAÚ CULTURAL
Esta revista utiliza as fontes Sentinel e Gotham sobre o papel Pólen Bold 90 g/m2. Os pantones 7710 e 168 C foram os escolhidos para esta edição. Duas mil unidades foram impressas pela gráfica Ipsis em São Paulo, no mês de abril do ano de 2019.
Realização
/itaucultural itaucultural.org.br fone 11 2168 1777 fax 11 2168 1775 atendimento@itaucultural.org.br avenida paulista 149 são paulo sp 01311 000 [estação brigadeiro do metrô]