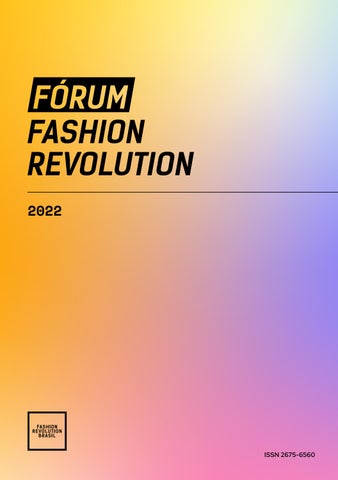11 minute read
A COSTURA DE MODOS DE PRODUÇÃO DISTINTOS NO POLO DE CONFECÇÕES DO AGRESTE DE PERNAMBUCO
Next Article
Aleff Silva Aleixo; UFPB; aleffaleixo11@gmail.com Débora Karyne da Silva Abrantes; UFPB; debora.abrantes9@outlook.com
Resumo: Este ensaio analisa o Polo de Confecção de Pernambuco pela consideração de que, ali, coexistem e se fundem dois modos de produção distintos: um tradicional, ancorado na produção de valores de uso e outro moderno-capitalista, pautado na produção de mercadorias. Essa coexistência se passa tanto a nível econômico quanto a nível psicossociológico, moldando o trabalho e a visão de mundo de seus partícipes.
Palavras-chave: Polo de Confecção; Modos de produção; Capitalismo; Pré-capitalismo; Psicossociologia;
INTRODUÇÃO
Partimos de uma inquietação proveniente da leitura da obra de Michael Taussig (2010) intitulada “O diabo e o fetichismo da mercadoria na América do Sul”, em que o autor lança mão de uma interpretação antropológica de base marxista sobre o misticismo pode populações camponesas da Colômbia e Bolívia que passavam por um processo de dissolução de uma vida baseada em modos de produção pré-capitalistas que se concentravam na produção de valores de uso e tinham o ser humano como finalidade de produção. A entrada desses povos no capitalismo, a partir da concentração fundiária e de sua subsunção ao trabalho assalariado em empreendimentos agroexportadores, em que a finalidade da produção é a própria produção, gerando uma desvalorização geral da dimensão humana, social da existência em benefício do mundo e das relações entre as coisas, é representada por essas populações, através de histórias populares, como a personificação do mal, na figura do próprio diabo. Isso ocorre porque, na emergência de uma nova forma de produzir e viver, aquelas populações, ainda inseridas em um universo cultural anterior (pré-capitalista), se valem deste para simbolizar a novidade, num movimento que, por manter certa relação de exterioridade, é capaz de sublinhar as linhas mais expressivas das contradições da vida sob o capitalismo. Consideramos que a região do Polo de Confecção Têxtil do Agreste de Pernambuco passa por um processo similar ao que Taussig interpretou: as populações da região, nas últimas décadas, estão numa transição de um modo de viver e produzir pré-capitalista (e, portanto, pautado na produção de valores de uso e tendo o ser
humano como fim da produção, o que traz consigo a predominância de relações comunitárias/familiares, a comunalidade dos meios de produção e uma vida cujos tempos e movimentos não sofrem controles disciplinares tão intensos como no capitalismo) para um propriamente capitalista, num processo que tem na indústria têxtil seu elemento mais dinâmico. É a partir, portanto, do engajamento na costura enquanto atividade industrial e comercial que a vida da população da região passa por intensas transformações econômicas.
Essa modificação, embora traga consigo o progresso e, em alguma medida, a melhoria na vida de muitas pessoas, é também invólucro de contradições que devem ser realçadas. Como o processo data de poucas décadas atrás, consideramos que a região está em transição de um modo de produção para outro, sendo, assim, possível empreender um exercício analítico semelhante ao de Taussig (2010), localizando os elementos e recortes onde é possível perceber a conjugação de modos de produção diferentes em um mesmo lugar (no nosso caso, onde a indústria têxtil carrega a marca de formas anteriores de viver e produzir) e como essa tensão é representadas pelos atores/autores do processo: as pessoas que costuraram o seu mundo e a si mesmas, dando tração à história. Para tanto, lançaremos mão de uma revisão crítica, ancorada no materialismo histórico-dialético, da literatura científica que versa sobre o polo, bem como outras produções, como reportagens e produções audiovisuais que, de alguma maneira, registrem posicionamentos dos trabalhadores a respeito de sua região, sua vida, trabalho e a indústria têxtil como um todo.
O POLO DE CONFECÇÃO TÊXTIL DO AGRESTE DE PERNAMBUCO: A CONFORMAÇÃO HISTÓRICA DE UM “OÁSIS” CAPITALISTA NO SEMIÁRIDO NORDESTINO
Foram aqueles nordestinos e nordestinas que emigraram para as grandes cidades que, em seus movimentos de ida e vinda enquanto comerciantes itinerantes, traziam retalhos das grandes indústrias têxteis de São Paulo para serem costurados, transformados em roupas novas e vendidos nas feiras do Agreste pernambucano. Esses novos produtos, forjados em pequenas unidades rurais, familiares e, principalmente, por mãos femininas, passaram a se chamar “Sulanca” (helanca que vem do sul) (Burnett, 2014). Esses retalhos de tecidos, que são também retalhos dos grandes processos histórico-sociais que se deram no Brasil, são os produtos a partir dos quais as populações locais, trabalhando, transformaram sua vida econômica, social e a paisagem da própria região, engendrando novos desafios para uma vida que se transformou, permanecendo, entretanto, difícil.
Hoje, as cidades do polo (Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama) configuram o maior polo de confecção têxtil do Nordeste e o segundo maior do país. Toritama é a cidade retratada pelo documentário “Estou me guardando para quando
o carnaval chegar” (Gomes, 2019), que alcançou repercussão nacional ao retratar a vida e o trabalho de pessoas da região. O olhar lançado no documentário põe os termos dessa contradição: o diretor-narrador torna evidente o contraste entre a Toritama que conheceu na infância e a Toritama atual, expoente no ramo de confecções. Realça a diferença na paisagem, nos ritmos da vida e, sobretudo, nas formas de se viver e trabalhar. Toritama, diga-se de passagem, significa, em tupi-guarani, terra da felicidade. É “em busca da felicidade” (lema da constituição dos EUA, bastião do capitalismo mundial) que diversas pessoas, sob a perspectiva de encontrar trabalho, migram anualmente para a região (Bezerra, Corteletti & Araújo, 2021). Os autores ainda demonstram que a natureza do emprego na cidade é de intensa precariedade, com a ausência de vínculo trabalhista, salário por produtividade, ciclos extensos de terceirização, trabalho em regime semelhante ao taylorismo-fordismo e jornadas de trabalho que podem chegar a 16 horas diárias. Apesar de a região ser esperança de emprego para muitos, apenas 15% da população da cidade encontra-se empregada formalmente (IBGE, 2022), o que evidencia a natureza informal e precária do trabalho na cidade embora, contraditoriamente, as pessoas só encontrem a felicidade fora dali, no litoral, durante o carnaval – único período do ano em que não se trabalha na região.
O VELHO NO NOVO: A COSTURA DE MODOS DE PRODUÇÃO DISTINTOS
Podemos afirmar que a indústria têxtil, a chamada Sulanca, marca a entrada dos povos da região aqui estudada nos circuitos do capitalismo mundial. Mudou a forma de trabalhar e, com ela, a paisagem e as pessoas da região. Essa modernidade, entretanto, convive e, mesmo, se vale de heranças de formas anteriores de produzir e viver, como uma peça de roupa costurada com retalhos de tecidos velhos e novos. Antunes (2009) afirma que o capital neoliberal, para subsistir, precisou “incluir”, a partir de patamares cada vez mais precários e baixos, em seus quadros povos e regiões que, em outros momentos, estavam em suas franjas. Oferecendo pouco a quem nada tinha, o capitalismo, em sua decrepitude, aparece como o progresso e a salvação, se valendo, para tanto, de formas tradicionais ou arcaicas de relações sociais para instituir suas relações de trabalho.
Esses costumes são de origem essencialmente rural, ligados à pequena propriedade da região, chamada de sítio, e ao trabalho agropastoril da família no seu domicílio. O mercado desse universo agropastoril é historicamente a feira livre para onde convergem os sitiantes e local improvisado para as sociabilidades da população rural agrestina (Burnett, 2014, p. 10-11)
A feira livre, a pequena propriedade e o trabalho mediante relações familiares: são exatamente esses elementos, tão característicos de formas pré-capitalistas de vi-
ver e produzir, os mais salientes da indústria têxtil da região. O capitalismo concentra e absorve o velho sob novos termos. Atualmente, a costura se dá em pequenas unidades produtivas chamadas de “facções”, que funcionam, em geral, anexas ou, mesmo, na própria casa dos trabalhadores. A comercialização dos itens produzidos ainda leva o nome de feira e se dá nos mesmos dias que tradicionalmente ocorre, mas, agora, em enormes complexos de lojas que são mais shopping centers que uma feiras propriamente ditas - estas, inclusive, desapareceram.
A zona rural desses municípios, anteriormente dedicada a atividades agropastoris, hoje dá lugar à produção têxtil em larga escala. Isso permite que famílias inteiras, sobretudo mulheres, crianças e idosos, se engajem na produção, num regime de trabalho por produção que praticamente não conhece a formalidade e pode chegar a 16 horas diárias (BEZERRA, CORTELETTI; ARAÚJO, 2021). A cooperação familiar, característica do trabalho agrícola sob outros modos de produção, é absorvida e instrumentalizada por uma produção industrial/capitalista, o que faz com que laços familiares sejam dimensionados sob outros nortes.
O trabalho de Lessa (2014) é feliz em afirmar que o operariado brasileiro não desapareceu, foi apenas pulverizado e interiorizado - está “escondido” nas zonas rurais do agreste pernambucano e, diga-se, encantado com as promessas que o capital pode oferecer. A seguir, reproduzimos um trecho do documentário “Estou me guardando para quando o carnaval chegar” que traz a opinião de um trabalhador da região:
A vida da gente não é ruim não. Quem pensar que a vida da gente é ruim, ta enganado. Porque não é todo mundo que tem privilégio de ter saúde, trabalhar, ganhar seu dinheiro, chegar aos sábados e domingos e você ter uma feira dentro de casa, não. E muita gente que vejo passando na televisão, da África, morrendo de fome, os países ai fora, em guerra. Engraçado que aqui, aonde a gente mora não tem. Ai isso é uma vida ruim? Não é nada. Ruim é pra quem morre (GOMES, 2019)
A opinião é dada em contraste com que se viveu no passado, na mesma região. Em contraste com a subsunção à seca e ao latifúndio, o trabalho na indústria têxtil aparece como um grande progresso, pois garante uma feira dentro de casa, afastando a fome. O capital, assim, encanta com o mínimo aqueles que abaixo dele viviam. O mínimo para existir passa a ser o máximo, o que rebaixa possibilidades outras de ser ou existir. Esse movimento, entretanto, não é inconteste e tampouco é lido da mesma maneira por todos os habitantes da região. Há pequenos núcleos de resistência a esse
modo de trabalhar e existir socialmente, representados sobretudo por pessoas mais velhas que viveram e testemunharam o aparecimento e a instituição da indústria têxtil na região, estando, portanto, ainda ligadas às memórias e a universos valorativos não totalmente capitalistas. Essas pessoas, camponeses como os da obra de Taussig (2010), preservam certa exterioridade em relação essa “fashion revolution”, garantindo, assim, a independência necessária a um exame crítico da situação. Reproduzimos, a seguir, mais uma fala contida no documentário de Gomes (2019), desta vez de um criador de cabras:
Antigamente era, a gente vivia mais assim, da agricultura, criar o gado, ovelha, cabra. Aí, depois do jeans, mudou muito. Mudou muitas coisas, porque o pessoal hoje em dia, procura investir mais em ganhar muito. Já minha ilusão, não é ganhar dinheiro. Milha ilusão é criar aquilo que eu gosto. Fazer o que eu gosto. Criar... Ganhar dinheiro pra humilhar os outros... eu não gosto de dinheiro para humilhar ninguém. Eu gosto de manter as coisas que eu adoro fazer. Aí esse pessoal rico são tudo ganancioso. Só quer ganhar, ganhar e ganhar. Despreza até Deus. Deus para eles é dinheiro. Tem um padrinho mesmo que o Deus dele é o dinheiro. Aí, eu até brigo com ele; não pode ser assim, não. A gente tem que fazer aquilo que gosta. Não é só ir atrás de dinheiro e o cabra se acabar... O dinheiro não vai levar ninguém a canto nenhum.
Trata-se de uma constatação rica em crítica e fiel ao movimento da realidade. O criador de cabras, homem circunscrito a uma vida em outro modo de produção, se vê como o objetivo de sua própria atividade. Trabalha para fruir, embora sua produção não alcance níveis elevados. Nesse movimento, é capaz de enxergar o outro lado: o trabalho que tem como fim o dinheiro, a acumulação, o capital como Deus, que exige, para sua reprodução expansiva, a própria energia vital de seus produtores. É um posicionamento que realça a alienação e o fetichismo da mercadoria sob o capitalismo, um movimento que está, agora, cobrindo o Polo de Confecção Têxtil do Agreste de Pernambuco, açambarcando outros modos de produzir e trazendo consigo dinheiro, progresso e contradições.
REFLEXÕES FINAIS
No caso analisado, a costura se apresenta como o elemento dinamizador da economia e do conjunto de relações sociais daquele lugar, garantido, através da fusão e conjugação com elementos provenientes de relações econômico-sociais pré- capitalistas, avanços materiais e um progresso econômico inédito, mas trazendo consigo um conjunto de contradições cuja síntese é localizada na subsunção do ser humano à produção de mercadorias, num processo que valoriza as coisas e desvalo-
riza a humanidade. A população local, produtora desse conjunto de mudanças, vive, sente e simboliza das maneiras contraditórias (como o é o próprio capitalismo) esse processo, enxergando o processo ora a partir de dentro, filiando-se completamente ao seu ethos, ora a partir de fora, com as lentes de um universo cultural exterior que, portanto, revela com vigor as novas contradições vividas.
REFERÊNCIAS
Antunes, R. (2009). Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a negação e a afirmação do trabalho. Boitempo.
Bezerra, E., Corteletti, R. F. & Araújo, I. M. (2021) Relações de trabalho e desigualdades de gênero na indústria têxtil e de confecções do Nordeste. Caderno CRH, v. 33. Burnett, A. (2014). As raízes rurais da Feira da Sulanca no Agreste pernambucano. Extensão Rural, v. 21, n. 4, p. 09-31.
Gomes, M. (Diretor), Vieira Jr., J. & Aragão, N. (Produtores). (2019) Estou me guardando para quando o carnaval chegar [Streaming]. Brasil: Netflix. IBGE. (2022). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cidades. LESSA, S. (2014). Cadê os operários? Maceió: Instituto Lukács. TAUSSIG, M. (2010). O diabo e o fetichismo da mercadoria na américa do sul. São Paulo: Editora Unesp.